O Doce Bárbaro Gilberto Gil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UC San Diego Electronic Theses and Dissertations
UC San Diego UC San Diego Electronic Theses and Dissertations Title Critical Geographies of Globalization : : Buenos Aires and São Paulo in the 21st century Permalink https://escholarship.org/uc/item/987268hq Author Souza e.Paula, Leonora Soledad Publication Date 2013 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO Critical Geographies of Globalization: Buenos Aires and São Paulo in the 21st century A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Literature by Leonora Soledad Souza e Paula Committee in charge: Professor Milos Kokotovic, Co-Chair Professor Luis Martín-Cabrera, Co-Chair Professor John Blanco Professor Alexandra Isfahani-Hammond Professor Nancy Postero 2013 Copyright Leonora Soledad Souza e Paula, 2013 All rights reserved. The dissertation of Leonora Soledad Souza e Paula is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Co-Chair __________________________________________________________ Co-Chair University of California, San Diego 2013 iii EPIGRAPH Spaces can be real and imagined. Spaces can tell stories and unfold stories. Spaces can be interrupted, appropriated, and transformed -

A Música Como Linguagem De Ensino Da Geografia
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - PDE A MÚSICA COMO LINGUAGEM NO ENSINO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO URBANO Trabalho realizado pelo professor Hélio Schroeder PDE Geografia, sob a orientação da profa. Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes. GUARAPUAVA – PR 2009 HÉLIO SCHROEDER A MÚSICA COMO LINGUAGEM NO ENSINO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO URBANO GUARAPUAVA 2009 RESUMO O presente artigo é fruto do estudo sobre o uso da música como linguagem de ensino da Geografia. Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada com alunos do 3º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Leni Marlene Jacob, no bairro primavera em Guarapuava. Utilizando-se de diferentes atividades como entrevistas, trabalhos de campo, relatos e observação de lugares, bem como da linguagem poética das músicas, buscou-se refletir sobre a realidade vivida dos alunos, articulando-a ao conhecimento geográfico. Assim, os alunos foram construindo o raciocínio geográfico para compreender a sua realidade. Após diversas leituras e análise, percebeu-se que a aplicação de diferentes linguagens nas aulas de geografia foi fundamental. Dentre elas, a música foi o recurso de apoio didático pedagógico muito enriquecedor, pois ela constitui expressões sonoras que podem contribuir na construção do saber de forma lúdica. Além do som, a letra pode contribuir para discussão de diferentes conceitos geográficos. Compreender como utilizar a música como instrumento de ensino para análise do espaço geográfico, especificamente, o espaço urbano, foi, portanto, o objetivo que conduziu e permitiu a realização deste trabalho. Palavras-chave: Geografia - Espaço urbano - Música - Metodologia. ABSTRACT This article is the result of the study about music as a resourse of Geography teaching. This research, that used qualitative approaching, was realized with students of the third year in high scholl, of the Leni Marlene Jacob school, Primavera neighborhood, in Guarapuava. -

Geographies of Internationalism: Radical Development and Critical Geopolitics from the Northeast of Brazil Federico Ferretti
Geographies of internationalism: radical development and critical geopolitics from the Northeast of Brazil Federico Ferretti To cite this version: Federico Ferretti. Geographies of internationalism: radical development and critical geopolitics from the Northeast of Brazil. Political Geography, Elsevier, 2018. hal-01792726 HAL Id: hal-01792726 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01792726 Submitted on 15 May 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Geographies of internationalism: radical development and critical geopolitics from the Northeast of Brazil Federico Ferretti [email protected] Abstract This paper addresses the international networks of three Brazilian geographers who were exiled and persecuted after the establishment of a military dictatorship in Brazil in 1964 — Josué de Castro (1908-1973), Milton Santos (1926-2001) and Manuel Correia de Andrade (1922-2007) — whose works had an impact in the international field of critical scholarship in geography and development studies, which remains underplayed in present-day scholarship. Addressing for the first time their unpublished correspondence, whose inventory is ongoing in Brazilian archives, I reconstruct their international work, especially focusing on its constraints, to engage with recent debates on the geographies of internationalism and on international agencies problematizing the concepts of ‘international geographies’ and ‘internationality’ of scientific life. -

Filmkatalog IAI Stand Februar 2015 Alph.Indd
KATALOG DER FILMSAMMLUNG Erwerbungen 2006 - 2014 CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE CINE Adquisiciones 2006 - 2014 Inhalt Argentinien............................................................................. 4 Bolivien....................................................................................18 Brasilien...................................................................................18 Chile.........................................................................................31 Costa Rica................................................................................36 Cuba.........................................................................................36 Ecuador....................................................................................43 Guatemala...............................................................................46 Haiti.........................................................................................46 Kolumbien...............................................................................47 Mexiko.....................................................................................50 Nicaragua.................................................................................61 Peru.........................................................................................61 Spanien....................................................................................62 Uruguay...................................................................................63 Venezuela................................................................................69 -

FAMECOS Mídia, Cultura E Tecnologia Metodologias
Revista FAMECOS mídia, cultura e tecnologia Metodologias A legião dos rejeitados: notas sobre exclusão e hegemonias no cinema brasileiro dos anos 20001 The legion of rejected: notes on exclusion and hegemonies in the years 2000 Brazilian cinema JOÃO GUILHERME BARONE REIS E SILVA Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM-PUCRS) – Porto Alegre, RS, Brasil. <[email protected]> RESUMO ABSTRACT Este artigo retoma questões relacionadas ao desempenho dos This paper reworks on questions related with the performance filmes de longa metragem nacionais lançados no mercado of the Brazilian feature film released in the theatrical market, de salas, entre os anos 2000-2009, os quais não atingiram a in the years 2000-2009, whose box office did not reach the marca de 50 mil espectadores, propondo algumas reflexões mark of 50 thousand spectators, in order to propose some sobre a ocorrência de processos hegemônicos e de exclusão reflections about a process of hegemonies and exclusion que parecem ter se estabelecido no cinema brasileiro that seems to be settled in the contemporary Brazilian contemporâneo. cinema. Palavras-chaves: Cinema brasileiro; Distribuição; Indústria Keywords: Brazilian cinema; Distribuition; Film industry. cinematográfica. Porto Alegre, v. 20, n. 3, pp. 776-819, setembro/dezembro 2013 Baronea, J. G. – A legião dos rejeitados Metodologias a identificação de hegemonias e assimetrias DDurante o projeto de pesquisa Comunicação, tecnologia e mercado. Assimetrias, desempenho e crises no cinema brasileiro contemporâneo, iniciado em 2009, uma das principais constatações foi o estabelecimento de um cenário de assimetrias profundas entre os lançamentos nacionais que chegavam ao mercado de salas, no período compreendido entre os anos 2000-2009. -

Pixaçāo: the Criminalization and Commodification of Subcultural Struggle in Urban Brazil
Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Gil Larruscahim, Paula (2018) Pixação: the criminalization and commodification of subcultural struggle in urban Brazil. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent,. DOI Link to record in KAR https://kar.kent.ac.uk/70308/ Document Version Publisher pdf Copyright & reuse Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder. Versions of research The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version. Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the published version of record. Enquiries For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact: [email protected] If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html PIXAÇĀO: THE CRIMINALIZATION AND COMMODIFICATION OF SUBCULTURAL STRUGGLE IN URBAN BRAZIL By Paula Gil Larruscahim Word Count: 83023 Date of Submission: 07 March 2018 Thesis submitted to the University of Kent and Utrecht University in partial fulfillment for requirements for the degree of Doctor of Philosophy after following the Erasmus Mundus Doctoral Programme in Cultural and Global Criminology. University of Kent, School of Sociology, Social Policy and Social Research Utrecht University, Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology 1 Statement of Supervision Acknowledgments This research was co-supervised by Prof. -

Tese De Doutorado Apresentada Ao Programa Multidisciplinar De Pós- Graduação Em Cultura E Sociedade, Instituto De Humanidades, Artes E Ciências Prof
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROF. MILTON SANTOS PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE UM SERTÃO QUE “RHELUZ” Cultura e desenvolvimento no município de Pintadas (BA) LOURIVÂNIA SOARES SANTOS Orientadora: Prof. Dra. Lindinalva Silva Oliveira Rubim Salvador 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROF. MILTON SANTOS PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE UM SERTÃO QUE “RHELUZ” Cultura e desenvolvimento no município de Pintadas (BA) Lourivânia Soares Santos Orientadora: Prof. Dra. Lindinalva Silva Oliveira Rubim Tese de Doutorado apresentada ao Programa Multidisciplinar de Pós- Graduação em Cultura e Sociedade, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos da Universidade Federal da Bahia, como parte dos requisitos para obtenção do grau de doutora. Linha de Pesquisa: Cultura e Desenvolvimento Salvador 2018 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA), com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). SOARES SANTOS, LOURIVÂNIA UM SERTÃO QUE RHELUZ: CULTURA E DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PINTADAS (BA) / LOURIVÂNIA SOARES SANTOS. -- SALVADOR, 2018. 221 f. : il Orientadora: LINDINALVA SILVA OLIVEIRA RUBIM. Tese (Doutorado - PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE) -- Universidade Federal da Bahia, IHAC, 2018. 1. CULTURA. 2. DESENVOLVIMENTO. 3. TERRITÓRIO DE IDENTIDADE. 4. PINTADAS. 5. COMPANHIA DE ARTES CÊNICAS RHELUZ. I. SILVA OLIVEIRA RUBIM, LINDINALVA. II. Título. Ao povo de Pintadas e a todas as pessoas que resistem e lutam pelo desenvolvimento no Semiárido AGRADECIMENTOS “Por que uns e não outros?” A caminhada de jovens pobres para a universidade. Inicio esses agradecimentos com o título do livro de autoria de Jailson de Souza e Silva, presente que marcou o início da minha jornada universitária e que problematiza distintas trajetórias sociais de jovens oriundos de espaços populares semelhantes. -

Reflections on Planning in the Trajectory of Milton Santos
SYMPOSIUM Commentaries on “The Active Role of Geography: A Manifesto” Organised by Lucas Melgaço and Tim Clarke1 Reflections on Planning in the Trajectory of Milton Santos Flavia Grimm Institute for Brazilian Studies University of São Paulo São Paulo, Brazil [email protected] Throughout the 1990s, in the context of debates on globalization and the advance of neoliberal policies on a global scale, the geographer Milton Santos was emphatic about the problems existing due to the lack of a national project in Brazil. As at other moments in his epistemological trajectory, Santos discussed the role of planning, involving, among other aspects, the outlining of practical solutions aimed at confronting social and territorial inequalities. This essay will deal with three moments of this debate. The first took place between the mid-1950s and 1960. During this period the geographer lived in Salvador (Bahia), where he had an effective role as a planner. The second, which began at the end of the 1970s, corresponds to a period in which, devoting himself in large part to academic life, he drew up sharp critiques of the sectoral planning that was then being conducted primarily in Latin American and African countries. Finally, a third moment comprises the discussions developed over the course of the 1990s, when, confronted with the predominance of the debate around the “end of the nation-state” and “dissolution of borders”, the author emphasized the necessity of a national project for Brazil. 1 In the first period, it is fundamental to emphasize Santos’ role as president of the Economic Planning Commission in the State of Bahia between the years of 1962 and 1964, during the federal government of João Goulart (1961-1964). -

Gender and Race in the Making of Afro-Brazilian Heritage by Jamie Lee Andreson a Dissertation S
Mothers in the Family of Saints: Gender and Race in the Making of Afro-Brazilian Heritage by Jamie Lee Andreson A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Anthropology and History) in the University of Michigan 2020 Doctoral Committee: Professor Paul Christopher Johnson, Chair Associate Professor Paulina Alberto Associate Professor Victoria Langland Associate Professor Gayle Rubin Jamie Lee Andreson [email protected] ORCID iD: 0000-0003-1305-1256 © Jamie Lee Andreson 2020 Dedication This dissertation is dedicated to all the women of Candomblé, and to each person who facilitated my experiences in the terreiros. ii Acknowledgements Without a doubt, the most important people for the creation of this work are the women of Candomblé who have kept traditions alive in their communities for centuries. To them, I ask permission from my own lugar de fala (the place from which I speak). I am immensely grateful to every person who accepted me into religious spaces and homes, treated me with respect, offered me delicious food, good conversation, new ways of thinking and solidarity. My time at the Bate Folha Temple was particularly impactful as I became involved with the production of the documentary for their centennial celebrations in 2016. At the Bate Folha Temple I thank Dona Olga Conceição Cruz, the oldest living member of the family, Cícero Rodrigues Franco Lima, the current head priest, and my closest friend and colleague at the temple, Carla Nogueira. I am grateful to the Agência Experimental of FACOM (Department of Communications) at UFBA (the Federal University of Bahia), led by Professor Severino Beto, for including me in the documentary process. -

Landscape Representations
Landscape Representations Landscape Representations: Conceptions of Physical and Human Space Edited by Jorge Luis P. Oliveira-Costa, Tatiana A. Moreira and Fátima Velez de Castro Landscape Representations: Conceptions of Physical and Human Space Edited by Jorge Luis P. Oliveira-Costa, Tatiana A. Moreira and Fátima Velez de Castro This book first published 2021 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2021 by Jorge Luis P. Oliveira-Costa, Tatiana A. Moreira, Fátima Velez de Castro and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-6909-8 ISBN (13): 978-1-5275-6909-6 This work was developed in the Centre of Studies on Geography and Spatial Planning (CEGOT) at the University of Coimbra, and has been supported by: (i) the European Regional Development Fund within the project “COMPETE 2020 – the Operational Programme for ‘Competitiveness and Internationalization’”, under Grant POCI-01-0145 – FEDER - 006891; (ii) national funds through the Portuguese Foundation for Science and Technology (Grant UID/GEO/04084/2013); and (iii) the Federal Institute of Education, Science and Technology of Espírito Santo, IFES, Brazil. TABLE OF CONTENTS Acknowledgements ................................................................................... ix Editors’ Introduction .................................................................................. x Jorge L. P. Oliveira-Costa, Tatiana A. Moreira, Fátima Velez de Castro Part I: Interactions between Human and Cultural Landscapes Chapter One ............................................................................................... -
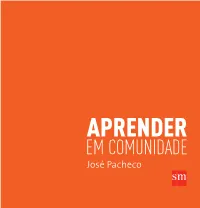
Aprender Em Comunidade / José Pacheco
158896 9788515889617 José Pacheco Direção de Marketing Valeska Scartezini Gerente da Inteligência em Serviços Educacionais Silvia Carvalho Barbosa Gerente de Marketing Luciane Righetti Edição e Elaboração de Biografias Leandro Salman Torelli Revisão Cacilda Guerra Capa e Projeto Gráfico Megalodesign Colaboração Silvia Parmegiani, Andrea Bolanho, Priscila Ferraz, Cristina Ventura, Paulo de Camargo e Camila Eliane Vieira Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Pacheco, José Aprender em comunidade / José Pacheco. -- 1. ed. -- São Paulo : Edições SM, 2014. 1. Comunidade e escola 2. Educação - Aspectos sociais 3. Educação - Finalidades e objetivos 4. Educação comunitária 5. Educação moral 6. Professores - Formação profissional 7. Valores I. Título. 14-07758 CDD-370.115 Índices para catálogo sistemático: 1. Educação comunitária : Pedagogia social 370.115 Carta de Carta a Carta a Carta a apresentação João Cabral Anísio Teixeira Florestan Celso Vasconcellos de Melo Neto Fernandes 5 38 72 110 Prefácio Carta a Carta a Carta a Antônio Nóvoa Milton Santos Júlio de Maria Nilde Mesquita Filho Mascellani 7 42 78 114 O porquê de Carta a Carta a Carta ao padre algumas cartas Antônio Helena Antipoff José de Anchieta Conselheiro 11 46 84 118 SUMÁRIO Carta ao padre Carta a Carta a Carta a Antônio Vieira Darcy Ribeiro Rui Barbosa Eurípedes Barsanulfo 16 50 88 122 Carta a Carta a Carta a Posfácio, por Alessandro Lourenço Filho Heitor Maria do Pilar Cerchiai Villa-Lobos Lacerda 20 54 92 127 Carta a Carta a Carta a Posfácio, por José Armanda Nise da Silveira Paulo Freire Henrique del Alberto Castillo Melo 24 58 98 129 Carta a Carta ao padre Carta a Biografia de Agostinho Manuel Lauro de José Pacheco da Silva da Nóbrega Oliveira Lima 28 64 102 131 Carta a Carta a Carta a Apresentação Fernando de Sampaio Cecília livros José Azevedo Dória Meireles Pacheco 32 68 106 132 3 Nesta obra, o prof. -

Universidade Federal Do Rio De Janeiro Centro De Filosofia E Ciências Humanas Escola De Comunicação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO Helena Santos Marques É POR DEMAIS FORTE SIMBOLICAMENTE PARA EU NÃO ME ABALAR: Caetano Veloso, o artista-intelectual Rio de Janeiro – RJ 2018 Helena Santos Marques É POR DEMAIS FORTE SIMBOLICAMENTE PARA EU NÃO ME ABALAR: Caetano Veloso: o artista-intelectual Monografia de graduação apresentada à Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo Orientador: Prof. Dr. Fernando Antônio Soares Fragozo Rio de Janeiro – RJ 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE COMUNICAÇÃO Termo de aprovação A Comissão Examinadora, abaixo assinada, avalia a Monografia É por demais forte simbolicamente para eu não me abalar: Caetano Veloso, o artista-intelectual, elaborada por Helena Santos Marques. Monografia examinada: Rio de Janeiro, no dia ........./........./.......… Comissão Examinadora: Departamento de Comunicação - UFRJ Orientador: Prof. Dr. Fernando Antônio Soares Fragozo Doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação – UFRJ Departamento de Comunicação – UFRJ Prof. Mestre. Dante Gastaldoni Mestre em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense - UFF Departamento de Comunicação – UFRJ Prof. Dr. Marcio Tavares d'Amaral Doutor em Letras (Ciências da Literatura) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ RIO DE JANEIRO - RJ 2018 Ficha catalográfica Marques, Helena Santos. É por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. Caetano Veloso, o artista-intelectual. Rio de Janeiro, 2018 Monografia (Graduação em Comunicação Social / Jornalismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Escola de Comunicação – ECO. Orientador: Fernando Antônio Soares Fragozo Para criar é preciso destruir.