Baixar Este Arquivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Seminario De Fútbol Femenino
Seminario de Fútbol Femenino Cuaderno de Cátedra Agradecimientos A Lucila Sandoval, quién brindó su ayuda generosamente y reunió a las Pioneras. Gracias a ella, Liliana Rodríguez, Valeria Otero, Nancy Castaño y María Esther Ponce brindaron su testimonio. A Stefanía León, que brindó su ayuda para completar la información de la Selección Argentina. A Andrés Pérez, que colaboró con información para reconstruir la historia de AFA. A Emiliano Pérez, cuyo trabajo individual en Villa San Carlos fue clave. A Fernando Bossi y Walter Ferreyra, cuyo conocimiento sobre la Liga Amateur Platense y contribución fue de suma importancia. A Ayelen Pujol y Analía Fernández Fucks, y a todas las periodistas deportivas y jugadoras que transitan y luchan estos espacios cotidianamente. A María Díaz Sevigne y, en ella, a todas las futbolistas que con sus testimonios nos ayudaron a poner en palabras parte de la historia del fútbol femenino regional. A Bettina Stagñares y Roxana Vallejos, que ayudaron a Pablo Latreite en su llegada a Estudiantes de La Plata. A Juan Cruz Vitale, que le abrió las puertas de la Liga Amateur Platense y AFA, a Lucas Portillo. A Patricia Vialey y Sebastián Palma, quiénes formaron a Julieta Sampaoli en la investigación, docencia y análisis de la información. A Andrés López y todas las autoridades de la Facultad de Periodismo, que confiaron en la propuesta. A nuestras familias, que nos apoyan en nuestro deseo de seguir visibilizando el fútbol femenino. Decana Andrea Varela Vicedecano Pablo Bilyk Jefe de Gabinete Martín González Frígoli Secretaria de Asuntos Académicos Ayelen Sidun Secretaria de Investigaciones Científicas Daiana Bruzzone Secretaría de Posgrado Lía Gómez Secretario de Extensión Agustín Martinuzzi Secretario de Derechos Humanos Jorge Jaunarena Secretario Administrativo Federico Varela Secretaria de Finanzas Marisol Cammertoni Secretaria de Género Delfina García Larocca Secretario de Producción y Vinculación Tecnológica Pablo Miguel Blesa Seminario de Futbol Femenino / Sampaoli, Julieta ;Latreite, Pablo ;Portillo, Lucas;Pierini, Merlina ; [et al.]. -
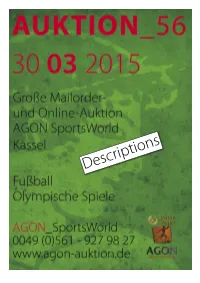
K241 Description.Indd
AGON SportsWorld 1 56th Auction Descriptions AGON SportsWorld 2 56th Auction 56th AGON Sportsmemorabilia Auction 30th March 2015 Contents 30th March 2015 Lots 1 - 1444 Football World Cup 4 German match worn shirts 28 Football in general 41 German Football 41 International Football 61 International match worn shirts 64 Football Autographs 84 Olympics 88 Olympic Autographs 139 Other Sports 145 The essentials in a few words: Bidsheet 156 - all prices are estimates - they do not include value-added tax; 7% VAT will be additionally charged with the invoice. - if you cannot attend the public auction, you may send us a written order for your bidding. - in case of written bids the award occurs in an optimal way. For example:estimate price for the lot is 100,- €. You bid 120,- €. a) you are the only bidder. You obtain the lot for 100,-€. b) Someone else bids 100,- €. You obtain the lot for 110,- €. c) Someone else bids 130,- €. You lose. - In special cases and according to an agreement with the auctioneer you may bid by telephone during the auction. (English and French telephone service is availab- le). - The price called out ie. your bid is the award price without fee and VAT. - The auction fee amounts to 15%. - The total price is composed as follows: award price + 15% fee = subtotal + 7% VAT = total price. - The items can be paid and taken immediately after the auction. Successful orders by phone or letter will be delivered by mail (if no other arrange- ment has been made). In this case post and package is payable by the bidder. -

Ranking De Clubes De La CONMEBOL El Ranking De Clubes De La
Ranking de Clubes de la CONMEBOL El Ranking de Clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol constituye un instrumento de referencia histórica que procura reflejar qué equipos, desde la instauración de las contiendas internacionales oficiales, han tenido mayor suceso. Esta clasificación pondera todas las actuaciones de los representativos de las diez Asociaciones Nacionales de Sudamérica en cada torneo patrocinado por la CONMEBOL desde 1960 (también se contabiliza el Mundial de Clubes de la FIFA), año en que comenzó la disputa de la Copa Libertadores de América. El Ranking de Clubes de la CONMEBOL se publica país por país, es decir, sin realizar una tabla general que aglutine a todos los equipos del continente, ya que la conformación y sistemas de clasificación a los torneos internacionales varían considerablemente entre las diferentes ligas locales, y ello resultara en puntuaciones desproporcionadas entre clubes de distinta nacionalidad. La totalidad de competiciones que han sido tenidas en cuenta en el relevamiento histórico que se realizó para confeccionar el Ranking son las siguientes: - Copa Libertadores de América (51 ediciones, desde 1960) - Mundial de Clubes de la FIFA (7 ediciones, 2000 y desde 2005 en adelante) - Copa "Intercontinental" Europea/Sudamericana (43 ediciones, 1961 a 2004 - discontinuada) - Copa Sudamericana (9 ediciones, desde 2002) - Recopa Sudamericana (18 ediciones, desde 1989) - Copa Suruga Bank (3 ediciones, desde 2008) - Copa Merconorte (4 ediciones, 1998 a 2001 - discontinuada) - Copa Mercosur (4 ediciones, -
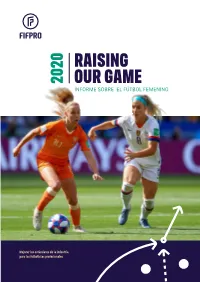
Raising Our Game
RAISING 2020 OUR GAME INFORME SOBRE EL FÚTBOL FEMENINO Mejorar los estándares de la industria para las futbolistas profesionales STATE OF THE GAME 1 ACERCA DE ACERCA DE OBJETIVOS El Informe de 2020 Raising Our Game proporciona una El objetivo del presente informe es ayudar a los visión general de la industria del fútbol femenino a nivel sindicatos, las jugadoras, los clubes, las ligas, las mundial. Este documento parte del Informe Global del federaciones nacionales, las Confederaciones, la FIFA, Empleo FIFPRO 2017 para el Fútbol Femenino, y tiene en los patrocinadores y las partes interesadas cuenta los últimos acontecimientos de la industria que pertenecientes a los medios de comunicación a obtener afectan al entorno de trabajo de las futbolistas una mejor visión del panorama en evolución del fútbol profesionales de todo el mundo. La industria evoluciona desde una perspectiva centrada en las jugadoras, y a la de forma constante junto con sus reglamentos, normas, formulación de políticas clave para proteger sus políticas, modelos comerciales y competitivos. Este derechos e intereses, que les permitan aprovechar informe proporciona la perspectiva de las jugadoras, así oportunidades futuras y con ello promover una industria como de las principales partes interesadas, sobre las sostenible. tendencias y pautas más recientes de crecimiento, las mejores prácticas, las políticas y los reglamentos Este es el primer informe de su clase en presentar el relevantes para la sostenibilidad de la industria del crecimiento de la industria desde la perspectiva de las fútbol profesional. futbolistas de élite. FIFPRO espera seguir publicando estos informes, partiendo del presente informe 2020 como punto de referencia. -

Mensaje 131:CSF.Qxd
# i Copa AÑO XXIV Nº 131 MAYO - JUNIO 2012 CONFEDERACIÓN America SUDAMERICANA DE FÚTBOL MESSI Cruzando la Cordillera... Crossing the Mountain Range… El presidente de la CONMEBOL, CONMEBOL President. Dr. Nicolás Dr. Nicolás Leoz, y el titular Leoz and the head of Chile’s de la Federación de Fútbol de Football Federation, Sergio Jadue, Chile, Sergio Jadue, anunciaron officially announced the dispute GENIO DEL oficialmente la disputa de la próxima of the next edition of the edición del legendario torneo legendary competition in the en la patria de O'Higgins. country of O’Higgins. CONMEBOL Nº 131 - JUNIO MAYO 2012 - / INGLÉS ESPAÑOL GOAL GENIUS Santander elegido Mejor Banco de América Latina* MARCAMOS EL MEJOR RESULTADO Para Banco Santander ser considerado el Mejor Banco de América Latina es una gran satisfacción. Llevarlo a la práctica con cada uno de nuestros 102 millones de clientes y con 3,3 millones de accionistas, nuestro objetivo. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. futbolsantander.com El Valor de las Ideas * Según la revista Global Finance SUDAMERICANOS Y REYES DEL FÚTBOL South Americans and Football Kings l centenario del querido Santos Futebol Clube nos trajo una foto he centennial of the dear Santos Futebol Clube brought us a muy bonita: Pelé y Neymar reunidos en la celebración. El rey del very nice photo: Pelé and Neymar gathered together in the Efútbol y el príncipe que aspira a la corona. La imagen contiene un Tcelebration. The football King and the Prince who hopes to get hondo simbolismo: el ayer y el hoy, y entre ambos, la excelencia del fút- the crown. -

Diapositiva 1
Miguel Ángel Brindisi Fecha de Nacimiento: 8 de Octubre de 1950 Estado Civil: Casado, 3 hijos Inicio como Jugador de futbol: 1967 - Club Atlético Huracán - 16 años Retiro como jugador de futbol: 1984 - Racing club de Avellaneda - 34 años Entrenador de Futbol desde: 1986 - C. S.Y D. Municipal de Guatemala 36 años Prologo Esta etapa de mi profesión es sin lugar a dudas tan apasionada, exigente y llena de desafíos como la anterior. Como jugador soñaba con lo más importante que es llegar a cada institución y dejar mi huella . “Pasar y dejar algo”. Hoy como Director Técnico sostengo lo mismo... A través de esto, y a partir de la buena intención pude cosechar muchos amigos los cuales confiaron en este trabajo, en este difícil camino de grandes sacrificios pero así mismo de inigualables satisfacciones, sabiendo que al final, lo mas importante es transitar desafíos y compartir los éxitos. Miguel Ángel Brindisi Como jugador: . Capitán de la Selección Argentina en el Mundial Alemania 1974 . Capitán de Boca campeón 1981 junto a Diego a. Maradona . Capitán del Huracán campeón del1973 . Campeón del Equipo de las Estrellas del Nacional de Montevideo 1982 . Mejor Volante por derecha del Futbol Argentino del Siglo XX ( según la encuesta del siglo realizada en el año 2000 “Las 100 personalidades destacadas” ) . Olimpia de Plata mejor Jugador del año 1973 del Futbol Argentino y 2do de América detrás de PELE Desde su debut en el año 1967, con tan solo 16 años , hasta su retiro en el año 1984 jugo 536 partidos y convirtió 224 goles que lo ubican dentro de los 10 Máximos Goleadores del Futbol Argentino Partidos jugados en Selección Argentina: 46 Goles en Selección: 17 (eliminatorias y mundiales) I. -

Los Días Del Mundial
LOS DÍAS DEL MUNDIAL MIRADAS CRÍTICAS Y GLOBALES SOBRE FRANCIA 2019 Diseño de imagen: Carmela Hijós Nemesia Hijós | Verónica Moreira | Rodrigo Soto-Lagos (EDITORES) Gustavo Andrada Bandeira | Heloisa Helean Baldy dos Reis | Claudia Benassini Félix | Carolina Cabello Escudero | Nicolás Cabrera | Marina de Mattos Dantas | Elise Edwards | José Garriga Zucal | Julia Hang | Nemesia Hijós | Daniela Hinojosa Arago | Jorge Knijnik | Simoni Lahud Guedes | Miguel Ángel Lara Hidalgo | Luciane Lauffer | Vicente López Magnet | Simón Martínez | Marcelo Melo | Bruno Mora | Verónica Moreira | Mauro Navarrete | Cecilia Pérez Navarro | Carlos Pulleiro | Luiz Fernando Rojo | Jorrit Smink | Rodrigo Soto-Lagos | Olga Trujillo | Beatriz Vélez | Carlos Vergara Constela | Alejandro Villanueva Bustos | Mariana Zuaneti Martins Los días del Mundial : miradas críticas y globales sobre Francia 2019 / Gustavo Andrada Bandeira ... [et al.] ; editado por Nemesia Hijós ; Verónica Moreira ; Rodrigo Soto Lagos. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-625-6 1. Sociología. 2. Mundiales de Fútbol. 3. Deportes. I. Andrada Bandeira, Gustavo. II. Hijós, Nemesia, ed. III. Moreira, Verónica, ed. IV. Soto Lagos, Rodrigo, ed. CDD 306.483 Colección Boletines de Grupos de Trabajo Director de la colección - Pablo Vommaro CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Gustavo Lema - Director de Comunicación e Información Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Equipo Natalia Gianatelli - Coordinadora Cecilia Gofman, Giovanny Daza, Rodolfo Gómez, Teresa Arteaga y Tomás Bontempo. ISBN 978-987-722-625-6 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. -

Mensaje 130:CSF.Qxd
A Ñ O X X I V N º 130 MARZO - ABRIL 2012 CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL 130 MARZO - ABRIL 2012 - ESPAÑOL / INGLÉS º C O N M E B O L N Santander elegido Mejor Banco de América Latina* MARCAMOS EL MEJOR RESULTADO Para Banco Santander ser considerado el Mejor Banco de América Latina es una gran satisfacción. Llevarlo a la práctica con cada uno de nuestros 102 millones de clientes y con 3,3 millones de accionistas, nuestro objetivo. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. futbolsantander.com El Valor de las Ideas * Según la revista Global Finance PRESERVAR EL ESPÍRITU INDEPENDIENTE DEL FÚTBOL Preserving the independet spirit of Football n los primeros días de febrero se celebró en Paraguay un uring the first days of February, a CONMEBOL Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, el cual no ol- Extraordinary Congress was held in Paraguay, which will Evidaremos. Después de mucho tiempo, se hizo una com- Dnever be forgotten. After a long time, a thorough pleta revisión de su estatuto, modernizando la herramienta revision of its by-laws was made, updating the principles that que rige su desenvolvimiento. rule its development. Fueron jornadas de intenso debate, con posturas disími- Those were days of an intense debate, with dissimilar les, en las cuales volvió a vencer el respeto y a imponerse la viewpoints in which respect was the winner and the maturity of madurez de los dirigentes de las diez asociaciones nacionales the leaders of the ten member national associations had the miembro, los que, trabajando juntos, han convertido a Su- upper hand, so that all of them working together have made of damérica no sólo en una potencia futbolística sino también en South America not only a football power but also an important una fuerza política importante pese a ser, en número, la más political stronghold, despite being in numbers, the smallest of pequeña de las agrupaciones continentales que componen el the continental associations that compose associated football fútbol asociado en el mundo. -

{§Fitje;)C ~ Asociación CIVIL
?du ~ {§fitJe;)c ~ ASOCIACiÓN CIVIL Fundado el 25 de Mayo de 1901 Buenos Aires, 28 de agosto de 2017. 35 Torneos A.F.A. 1932 1936 Sres. Bayer 04 Levekusen 1936 Copa de Oro At. Michael Schade - CEO 1937 cc. Rudi Voller/Jonas Boldt 1941 cc. UEFA 1942 cc. CONMEBOL. 1945 1947 cc. AFA 1952 cc. Federación Alemana de Fútbol, 1953 Presente 1955 1956 1957 Ref.: Lucas Nicolás Alario. Metropolitano 1957-1977-1979-1980 De mi consideración: Nacional 1975-1979-1981 1985/86 - 1989/90 En el día de la fecha (28/08/17) tomamos conocimiento por 1991Apertura 1993Apertura medios periodísticos que el jugador de nuestro plantel profesional 1994 Apertura 1996Apertura Lucas Nicolas Alario, se encontraba realizando estudios médicos en el 1997 Clausura 1997Apertura Centro de Diagnostico Enrique Rossi, de la Ciudad de Buenos Aires, sin 1999Apertura 2000 Clausura que contara con nuestra autorización para la realización de los 2002 Clausura 2003 Clausura mismos. Atento ello, procedimos a enviar un escribano a dicha Clínica, 2004 Clausura 2008 Clausura quien pudo constatar -y así lo dejo labrado en el Acta de Constatación 2014 Final Nº 150, labrada por el Escribano Rubén Jorge Grana, titular del Copas Internacionales registro Nº 205 de Capital Federal- que el jugador referido se realizó Copa Libertadores 1986 estudios de resonancia magnética, radiología y laboratorio, en 1996 compañía de su representante, y del Sr. Karl Dittmar, quien se 2015 Copa Intercontinental 1986 presentó como Director Médico del Bayer 04 Leverkusen, infringiendo Copa Interamericana 1987 Supercopa 1997 así las normas de ética y buena fe, y especialmente la Reglamentación Copa Sudamericana 2014 de FIFA, toda vez que esta actitud debe interpretarse claramente Recopa Sudamericana 2015 Suruga Bank 2015 como inducción a la ruptura contractual, sin haber procedido mínimamente a dar aviso a nuestra entidad solicitando la pertinente autorización. -

La Copa Iberia, Título Internacional Olvidado En La Historia Del Real Madrid
Cuadernos de Fútbol Revista de CIHEFE https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol La Copa Iberia, título internacional olvidado en la historia del Real Madrid. Autor: Luis Javier Bravo Mayor Cuadernos de fútbol, nº 69, octubre 2015. ISSN: 1989-6379 Fecha de recepción: 04-09-2015, Fecha de aceptación: 16-09-2015. URL: https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2015/10/la-copa-iberia-titulo-internacional-olvidado- en-la-historia-del-real-madrid/ Resumen La Copa Iberia, como es conocida en España, o Iberoamericana, como es conocida en Sudamérica es un torneo que se disputó en 1994. Es un gran olvidado en la historiografía madridista y debe ser recuperado para la misma. Palabras clave: Boca Juniors, Conmebol, Copa Iberia, Copa Iberoamericana, Real MadridRFEF Abstract Keywords:Copa Iberia, Copa Iberoamericana, Real Madrid, Boca Juniors, RFEF, Conmebol The Copa Iberia, as it is known in Spain, or Iberoamericana, as it is known in South America, was a tournament held in 1994. It's Real Madrid historiography's great forgotten title and must be recovered Date : 1 octubre 2015 1 / 12 Cuadernos de Fútbol Revista de CIHEFE https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol La Copa Iberia, como es conocida en España, o Iberoamericana, como es conocida en Sudamérica es un torneo que se disputó en 1994. Es un gran olvidado en la historiografía madridista y debe ser recuperado para la misma. Por acuerdo suscrito entre la Confederación Sudamericana de Fútbol, presidida por el Dr. Nicolás Leoz, y la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente era y es D. Ángel María Villar Llona, el 4 de julio de 1993 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, durante la disputa de la Copa América, se tomaron los siguientes acuerdos: 1.- Estrechar los vínculos de hermandad que unen a Sudamérica con España, intercediendo ante sus representados para acceder a un mejor intercambio en cuanto a difusión, conocimientos técnicos y competencias que conlleven a un desarrollo del deporte armónico y acorde con las necesidades de ambas partes. -

LIBRO-SIMPOSIO-CONMEBOL.Pdf
1 CREÉ ENGRANDE @CONMEBOL conmebol CONMEBOL.com “Simposio Global del presente y futuro del fútbol en Sudamérica” 6 7 8 9 ALEJ Estimados Amigos del Futbol A Mirar y escuchar al pasado para proyectarnos al futuro. Escuchar a los grandes referentes de los momentos de ma- NDRO yor gloria deportiva del fútbol sudamericano a nivel de competencias. Esto es parte fundamental de la misión que nos propusimos de reposicionar a los clubes y selecciones de la CONMEBOL como las principales referencias del fútbol mundial. D Es por eso que la Confederación Sudamericana de Fútbol convocó a grandes estrellas que brillaron como futbolistas OMÍNGUEZ Wilson- OMÍNGUEZ y muchos de ellos siguen haciéndolo como técnicos, gerentes o analistas. El “Simposio Global del Presente y Futuro del Fútbol en Sudamerica” fue una manera de recurrir a quienes llevan el ADN del fútbol sudamericano y que supieron mostrar esa excelencia en campos de fútbol de todo el mundo. Figu- ras que pasearon y pasean su talento y su conocimiento por canchas de todo el planeta. Convocamos a 46 estrellas, entre ellas 8 campeones mundiales, para que nos cuenten sus vivencias y aporten a la CONMEBOL sus sugerencias para sumarlas al plan maestro de la recuperación definitiva del mejor fútbol del mundo. La enriquecedora jornada del 17 de mayo del 2017, organizada por la Dirección de Desarrollo de la CONMEBOL, dejó unas conclusiones esclarecedoras de diagnóstico, unas ejemplificadoras historias personales y un listado gran- de de sugerencias y recomendaciones, emanadas todas de las alocuciones ante el pleno del Simposio y de las reu- niones en las mesas de discusión. -

Copas Mundiales: Proyección De Poder Por Medio De La Diplomacia Cultural
Copas Mundiales: Proyección de poder por medio de la diplomacia cultural Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Carrera de Relaciones Internacionales Bogotá, D.C. 07 de junio de 2019 Tabla de contenido Introducción ................................................................................................................................. 1 Pregunta de investigación .................................................................................................................... 1 Objetivos ............................................................................................................................................. 2 Metodología ........................................................................................................................................ 3 Marco conceptual ......................................................................................................................... 4 Teorías ................................................................................................................................................. 4 Enfoque institucionalista neo liberal .............................................................................................. 4 Constructivista ............................................................................................................................... 5 Precisiones conceptuales ....................................................................................................................