A Produção Do Conhecimento Geográfico 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
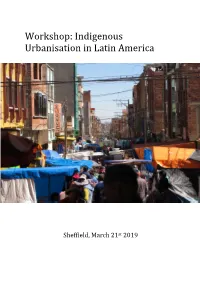
Workshop Indigenous Urbanisation
Workshop: Indigenous Urbanisation in Latin America Sheffield, March 21st 2019 - CONTENTS - INFO PROGRAMME PAPERS: Law 11.645/08: implementation of indigenous history and Gudrun Klein, culture in non-indigenous school curricula University of Manchester Ciclo Sagrado de Mulheres: Indigenous Feminist Activism Jennifer Chisholm, University of Cambridge Urban and indigenous in the Americas: Connecting North Desiree Poets, and South in Abya Yala Virginia Tech Urbanisation and indigenous identity in Rural Andean Jonathan Alderman, Bolivia ILAS, University of London Envisioning gender, indigeneity and urban change in La Kate Maclean, Paz, Bolivia Birkbeck, University of London Indigenous Rights to the City: Conflicting realities in Bolivia Philipp Horn, and Ecuador University of Sheffield Capitalising indigeneity or indigenous capitalism? Angus McNelly, Queen Mary, University of London From sateré-mawé villages to urban “family homes”: Ana Luisa Sertã, gender, indigeneity and homemaking in the city of Manaus, Birkbeck, University Brazil of London Within and against indigeneity: narratives of social and Aiko Ikemura Amaral, spatial mobility amongst Bolivian market women in São University of Essex Paulo, Brazil - Indigenous Urbanisation in Latin America - Latin America is characterised by profound ethno-racial divisions which are also manifested in space. Since the colonial conquest, the Latin American city was associated with a specific group of inhabitants – ‘whites’ or people of ‘mixed blood’ – who were granted citizenship rights. In contrast, the countryside was conceived of as the space of the 'Other', home to the ‘non-white’ indigenous, ethno-racially mixed or black population. These groups were denied actual citizenship and excluded from the imagery of the ‘modern’ and ‘developed’ city. Such strict ethno-racial rural-urban divides could never be fully sustained. -

Bolivian Immigrant Men Living in the Central Area of the Municipality of São Paulo: Housing and Health Situation
Bolivian immigrant men living in the central area of the municipality of São Paulo: housing and health situation Homens imigrantes bolivianos residentes na zona central do município de São Paulo: situação de moradia e saúde Hogares imigrantes bolivianos residentes en la zona central del municipio de São Paulo: situação de moradia e saúde Felipe Abrahão1, Robson da Costa Oliveira1, Maria Cecília Leite de Moraes2, Anderson Reis de Sousa3 How to cite: Abrahão F, Oliveira RC, Moraes MCL, Sousa AR. Bolivian immigrant men living in the central area of the municipality of São Paulo: housing and health situation. REVISA. 2020; 9(1): 97-108. Doi: https://doi.org/10.36239/revisa.v9.n1.p97a108 RESUMO Objetivo: conhecer e descrever a situação de vida e moradia de homens imigrantes bolivianos residentes no centro da cidade de São Paulo, Brasil. Método: Estudo quanti-qualitativo de corte transversal constituído através da aplicação de um questionário e a realização de entrevistas individuais. A pesquisa foi desenvolvida com 50 homens, junto a três instituições que atendem imigrantes bolivianos, na cidade de São Paulo, Brasil. Para análise dos dados qualitativos, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. Os dados quantitativos foram organizados e agrupados em tabelas. Resultados: Os imigrantes bolivianos pesquisados são jovens (58%), com idades até 30 anos, com ensino médio de formação escolar (88%), de raça/cor autoreferida branca (56%) e trabalham no segmento de confecções. Quanto as condições de moradia, os homens dividem as instalações do quarto com outras pessoas (96%) e 98% dividem a cozinha. O cuidado da casa encontra- se sob a responsabilidade de mulheres (50%), e já cursaram com adoecimento após sua chegada ao Brasil (74%), tendo o desconforto abdominal como principal fator, seguidos de problemas dentários, infecções alimentares. -

Argentina and Brazil: the Clothing Sector and the Bolivian Migration Cibele Saliba Rizek, Isabel Georges, Carlos Freire
Argentina and Brazil: the clothing sector and the Bolivian migration Cibele Saliba Rizek, Isabel Georges, Carlos Freire This paper aims to point out significant signs of change in migration patterns in the context of globalization, which can be seen especially in the case of Bolivian immigration into Brazil (São Paulo) and Argentina (Buenos Aires). Both in Brazil and in Argentina, the specific significance of Bolivian immigration lies in its difference in relation to “classic” immigration processes in as much as the country has had an important history of assimilation of immigration waves from Europe and Japan since the 19th Century. With the influence of the “Chinese cost/prices” in the clothing sector as from the 1990‟s, the existing pattern seems to have been replaced by a new one in line with the periods of formation of industrial labour. In their more recent formation, migratory courses seem to have altered. Migration often occurs with the mediation of family networks in the country of arrival with migrants working in bad conditions in the clothing sector where they also live forming a set of elements that lead us to see this kind of work as informal and often illegal. However, in spite of the similarities in the production reorganization processes, especially in the clothing sector in both countries – Brazil and Argentina, recent migrants from Bolivia (as well as from Asian countries, such as Korea) encounter on arrival different realities and difficulty in entering the job market: these “ethnic” group‟s activities in Brazil are highly focused on the clothing sector in their domiciles, often carried out within family immigration networks, or work in sweat shops belonging to previous immigration groups, such as the Koreans; in Argentina, job inclusion is more diversified with part of workers finding themselves in a situation similar to that of the clothing sector in Brazil while others opt for domestic or farming work. -

The Reality of Bolivian Immigrants in the Cities of Buenos Aires and São Paulo
Two Little Bolivias: The reality of Bolivian immigrants in the cities of Buenos Aires and São Paulo Leticia Satie Bermudes Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Graduate School of Arts and Sciences Department of Anthropology COLUMBIA UNIVERSITY 2012 ABSTRACT Two Little Bolivias: The reality of Bolivian immigrants in the cities of Buenos Aires and São Paulo. Leticia Satie Bermudes Over the last two decades, Bolivian migration inside South America has had two main destinations: Buenos Aires (Argentina) and São Paulo (Brazil). There is a long tradition of Bolivian migration to Buenos Aires, however, in the late twentieth century São Paulo has also became attractive because of Argentina’s economic crisis and Brazil’s impressive development. The central part of this thesis presents vast information about the formation and daily lives of these two Little Bolivias, including both socioeconomic and sociocultural aspects of the two immigrant groups, with the objective of giving the reader a comparative understanding of both scenarios. The issues of assimilation are a fundamental part of this thesis since the capacity of making its way to be assimilated together with the receptiveness of the host societies are the conditions that propitiate a debate about the future of these Bolivian collectivities in Buenos Aires and São Paulo. Hence, this thesis aims to make an innovative comparative analysis of the contemporary realities of Bolivian immigrants in both cities, looking for similarities and differences, trying to understand the unfolding of each process, and the experiences of adaptation and cultural assimilation in two of the most referential cities in South America. -

Copyright by Dorian Lee Jackson 2015
Copyright by Dorian Lee Jackson 2015 The Dissertation Committee for Dorian Lee Jackson Certifies that this is the approved version of the following dissertation: The Other Side: An Alternate Approach to the Narconarratives of Bolivia, Colombia, and Brazil Committee: Lorraine Moore, Supervisor Gabriela Polit Dueñas, Co-Supervisor Ominiyi Afolabi Héctor Domínguez-Ruvalcaba Maria Helena Rueda The Other Side: An Alternate Approach to the Narconarratives of Bolivia, Colombia, and Brazil by Dorian Lee Jackson, BBA, MA Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2015 Dedication This dissertation is dedicated to my family. Thank you Heidi, Theresa, Elise, Mom, Daddy, Bhavi, Kim, and Rick for always believing in me. I love you all. Acknowledgements I’ve always believed in the notion that going to graduate school and writing a dissertation goes beyond a singular project and is more about building a lifetime community of friends and colleagues. Completing this project has reaffirmed that assertion for me. First and foremost, I recognize the tireless work of my supervisors in this project: Dr. Gabriela Polit Dueñas and Dr. Lorraine Moore. Without their guidance, knowledge, and patience, this project would not have been possible. I offer my sincerest thanks to the both of you. I would also like to recognize my other committee members for their support and contributions. Thank you to Ominiyi Afolabi, Héctor Domínguez-Ruvalcaba, and Maria Helena Rueda. Additionally, I would like to thank my professors at The University of Georgia for their continued support throughout the years and for introducing me to the world of Brazilian literature. -

Prevalence of Trypanosoma Cruzi Infection Among Bolivian Immigrants in the City of São Paulo, Brazil
70 Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 112(1): 70-74, January 2017 Prevalence of Trypanosoma cruzi infection among Bolivian immigrants in the city of São Paulo, Brazil Expedito JA Luna1/+, Celia R Furucho2, Rubens A Silva3, Dalva M Wanderley3, Noemia B Carvalho2, Camila G Satolo4, Ruth M Leite5, Cassio Silveira6, Lia MB Silva2, Fernando M Aith7, Nivaldo Carneiro Jr6, Maria A Shikanai-Yasuda8 1Universidade de São Paulo, Instituto de Medicina Tropical, São Paulo, SP, Brasil 2Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 3Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Superintendência de Controle de Endemias, São Paulo, SP, Brasil 4Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Centro de Saúde Escola Prof Alexandre Vranjac, São Paulo, SP, Brasil 5Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica, São Paulo, SP, Brasil 6Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de São Paulo, Departamento de Medicina Social, São Paulo, SP, Brasil 7Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Preventiva, São Paulo, SP, Brasil 8Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, São Paulo, SP, Brasil With the urbanisation of the population in developing countries and the process of globalisation, Chagas has become an emerging disease in the urban areas of endemic and non-endemic countries. In 2006, it was estimated that the prevalence of Chagas disease among the general Bolivian population was 6.8%. The aim of the present study was to determine the prevalence of Trypanosoma cruzi infection among Bolivian immigrants living in São Paulo, Brazil. -

New Spaces of Belonging: Soccer Teams of Bolivian Migrants in São Paulo, Brazil
New spaces of belonging: Soccer teams of Bolivian migrants in São Paulo, Brazil Julia Haß and Stephanie Schütze Resumo: Pretende-se analisar a formação de espaços de pertencimento no contexto do futebol amador de imigrantes latino-americanas em São Paulo. A criação de times de futebol amador por imigrantes latino- americanos é um fenômeno muito comum em cidades globais. O Brasil tem sido um país central de destino de migrações nas últimas três décadas, particularmente de imigrantes da América do Sul e do Caribe. Para os imigrantes peruanos, bolivianos e paraguaios, a prática de futebol representa uma apropriação do espaço urbano para reuniões esportivas, culturais e sociais. No contexto de torneios e times expressa-se e manifesta-se a origem da mesma nação, região e localidade. Ao mesmo tempo, o futebol amador cumpre uma função integradora para os imigrantes. Desde o final dos anos 1990, há campeonatos de futebol amador de times femininos de migrantes em São Paulo. Esta pesquisa concentra-se nas estratégias transculturais e de gênero de apropriação do espaço no contexto do futebol amador feminino de imigrantes latino-americanos em São Paulo. Palavras chave: Migração Sul-Americana, mulheres, São Paulo, futebol amador, espaços de pertencimento Introduction Bom Retiro, São Paulo It is Sunday afternoon around 4 p.m. From the outside, the soccer club looks unassuming in a small street in Bom Retiro, in the center of São Paulo. Walls and a metal gate block the view of the interior of the club. However, as we enter, the scenario changes. In front of us a clubhouse and a snack bar come into sight. -

Bolivian Immigrants in São Paulo: a Sociolinguistic Study of Language Contact in the City
BOLIVIAN IMMIGRANTS IN SÃO PAULO: A SOCIOLINGUISTIC STUDY OF LANGUAGE CONTACT IN THE CITY “Se você não aprender falar direitinho você não vai se dar bem com São Paulo. Agora se você falar bem você se dá bem com São Paulo.” DISSERTATION Zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie dem Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften Freie Universität Berlin Vorgelegt von Stephanie Niehoff Berlin, 2011 Erstgutachter: Prof. Dr. Uli Reich (Freie Universität Berlin) Zweitgutachterin: Profa. Dra. Verena Kewitz (Universidade de São Paulo) Tag der Disputation: 20. Januar 2012 This thesis is dedicated to my parents, Dorle and Harald Acknowledgements I would like to express my gratitude to all the people who supported me with conducting and writing this research project. My special thanks go to: My Bolivian interview partners in São Paulo, for sharing their life stories with me. The Paulistanos who participated in the quantitative study, for giving me their honest opinions. My friends from Santa Fé, for their input as native speakers, their hospitality and kindness. My colleagues and friends Anne, Gordon, Martin, Silca, Susanne, and Victor, for their strict eyes, helpful commentaries and wise corrections. The Duvidosos of the FFCHL, Universidade de São Paulo, for their instructive objections and open discussions. Michael Thomas, for technical advice and IT-support. Prof. Verena Kewitz, Universidade de São Paulo, for opening my eyes about São Paulo, for sharing her knowledge and linguistic insights, and for her never-ending patience and support. Prof. Uli Reich, Freie Universität Berlin, who introduced me to Linguistics and taught me to listen carefully, for his assistance and guidance and his stimulating enthusiasm about Sociolinguistics and Brazil. -
University of California, San Diego
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO Health in Black and White: Debates on Racial and Ethnic Health Disparities in Brazil A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Anthropology by Anna Pagano Committee in Charge: Professor James Holston, Chair Professor Nancy Postero, Co-Chair Professor Thomas Csordas Professor Gerald Doppelt Professor Ivan Evans 2011 The Dissertation of Anna Pagano is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Co-Chair _______________________________________________________________________ Chair University of California, San Diego 2011 iii TABLE OF CONTENTS Signature Page .................................................................................................................... iii Table of Contents ............................................................................................................... iv List of Figures .................................................................................................................... vi List of Tables ..................................................................................................................... vii Acknowledgements ......................................................................................................... -

Prevalence of Trypanosoma Cruzi Infection Among Bolivian Immigrants in the City of São Paulo, Brazil
70 Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 112(1): 70-74, January 2017 Prevalence of Trypanosoma cruzi infection among Bolivian immigrants in the city of São Paulo, Brazil Expedito JA Luna1/+, Celia R Furucho2, Rubens A Silva3, Dalva M Wanderley3, Noemia B Carvalho2, Camila G Satolo4, Ruth M Leite5, Cassio Silveira6, Lia MB Silva2, Fernando M Aith7, Nivaldo Carneiro Jr6, Maria A Shikanai-Yasuda8 1Universidade de São Paulo, Instituto de Medicina Tropical, São Paulo, SP, Brasil 2Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 3Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Superintendência de Controle de Endemias, São Paulo, SP, Brasil 4Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Centro de Saúde Escola Prof Alexandre Vranjac, São Paulo, SP, Brasil 5Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica, São Paulo, SP, Brasil 6Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de São Paulo, Departamento de Medicina Social, São Paulo, SP, Brasil 7Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Preventiva, São Paulo, SP, Brasil 8Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, São Paulo, SP, Brasil With the urbanisation of the population in developing countries and the process of globalisation, Chagas has become an emerging disease in the urban areas of endemic and non-endemic countries. In 2006, it was estimated that the prevalence of Chagas disease among the general Bolivian population was 6.8%. The aim of the present study was to determine the prevalence of Trypanosoma cruzi infection among Bolivian immigrants living in São Paulo, Brazil. -

Collateral Damage 2007
COLLATERAL DAMAGE The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World Global Alliance Against Traffic in Women 2007 COLLATERAL DAMAGE The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World © 2007 Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) ISBN 978-974-8371-92-4 Cover Design by GAATW International Secretariat Printed at Amarin Printing & Publishing Public Company Limited, Thailand Global Alliance Against Traffic in Women P.O. Box 36 Bangkok Noi Post Office Bangkok 10700 Thailand Email: [email protected] Website: http://www.gaatw.org CONTENTS Acknowledgments Preface ...................................................................................................................... vii Dr Jyoti Sanghera Introduction ................................................................................................................ 1 Mike Dottridge Australia ....................................................................................................................28 Elaine Pearson Bosnia and Herzegovina (BiH) ..................................................................................61 Barbara Limanowska Brazil .........................................................................................................................87 Frans Nederstigt and Luciana Campello R. Almeida India ........................................................................................................................ 114 Ratna Kapur Nigeria .................................................................................................................... -

2018 SLAS Annual Conference 22-23 March 2018 University of Southampton, Winchester Campus
2018 SLAS Annual Conference 22-23 March 2018 University of Southampton, Winchester Campus PAPER ABSTRACTS Acosta, Diego Citizenship in Latin America from a Comparative Historical Perspective: Current Evolution and Spanish Influences in Its Origin This paper offers a long-term glance at the evolution of citizenship in Latin America, tracing the Spanish influences on legal frameworks in the new continent and the evolution of norms. This study compares the legal regulation of citizenship in ten countries in South America (all except Guyana and Suriname) and Mexico. It explains the influence the 1812 Spanish Constitution had in the construction of the figures of the national and the foreigner. It also elaborates on current debates and legislation update on issues such as dual citizenship, discrimination between naturalized citizens and those being nationals by birth, and the conditions to obtain (and eventually lose) citizenship, highlighting the peculiar understanding of the ius soli principle in most countries. Albaladejo García, Nadia Mattering maps: Intercultural Spaces for/of Co-Creation in Remedios Varo and Leonora Carrington's El santo cuerpo grasoso Hay artistas que se consagran tan sólo por un aspecto concreto - y no necesariamente más importante - de su producción global’ (Castells, 1997: 11) Castells’ opening words in her book which compiles some of Remedios Varo’s writings, speak of the shadow her paintings have cast over her other artistic productions. Remedios Varo, born in Catalonia, arrived in Mexico in 1941 as an exile fleeing the Spanish civil war who was welcomed to the country under Cardenas' policy towards refugees at the time, in particular Spanish Republicans after the Spanish Civil War.