Luanda, Da Arquitetura Vernácula Ao Séc. Xxi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diário Da Re
Terça-feira, 24 de Março de 2015 III Série-N.° 56 GOU PUBS J08 0017 3924 \ ‘ ; « i1 * yfx 1 x y •’ DIÁRIO DA RE ---------- ---- — Ropóbllcn 4. angola __ ÓRGÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA Preço deste número - Kz: 670,00 Toda a correspondência, quer oficial, quer ASSINATURA O preço de cada linha publicada nos Diários relativa a anúncio e assinaturas do «Diário Ano da República l.a e 2.° série é de Kz: 75.00 e para da República», deve ser dirigida à Imprensa As três séries .............................Kz: 470 615.00 a 3.a série Kz: 95.00, acrescido do respectivo Nacional - E.P., em Luanda, Rua Henrique de A 1.° série ........ ;.............. Kz: 277 900.00 imposto do selo, dependendo a publicação da Carvalho n,° 2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, wv.imprensanacional.gov.ao - End. teleg.: A 2.a série ........................ Kz: 145 500.00 3.a série de depósito prévio a efectuar na tesouraria, «Imprensa». A 3.” série ........................... Kz: 115 470.00 da Imprensa Nacional - E. P. SUMÁRIO Osmium, Limitada. CIMERTEX (ANGOLA) — Sociedade de Máquinas e Equipamentos, Misu, Limitada. * , , ' ' Limitada. Fazenda Jocilia, Limitada. Grupo Amservice, Limitada. Associação dos Naturais e Amigos dc Banza Malambo. Grupo Mun. Fra, Limitada. Adamsmat (SU), Limitada. Grandstream, S. A. Kalabrothers, Limitada. ' • . Mandajor (SU), Limitada. SEETRAVEL—Viagens e Turismo', Limitada. AC&EC(SU), Limitada. RPD — Consultoria Geral, Limitada. Nessli(SU), Limitada. GET—In Soluções, Limitada. KAWAPA— Comercio, Indústria, Importação c Exportação, Limitada. Rcctificação: Clarif Comercial, Limitada. «Grupo Asac Investimenfs, Limitada». GESTA ER — Gestão c Serviços Aeroportuários, Limitada. Conservatória do Registo Comercial da 2.’ Secção do Guiché Único Adalberto & Petterson Angola, Limitada. -

Oh, Muxima! a Formação Da Música Popular Urbana De
Revista TEL, Irati, v. 7, n.2, p. 193-218, jul. /dez. 2016 - ISSN 2177-6644 OH, MUXIMA! THE OH, MUXIMA! A FORMATION OF URBAN POPULAR MUSIC OF ANGOLA FORMAÇÃO DA MÚSICA AND THE GROUP “N'GOLA POPULAR URBANA DE RHYTHMS” (1940-1950) ANGOLA E O GRUPO OH, MUXIMA! LA FORMACIÓN “N’GOLA RITMOS” DE LA MÚSICA POPULAR URBANA DE ANGOLA (1940-1950) Y EL GRUPO 'N'GOLA RITMOS' DOI: 10.5935/2177-6644.20160023 (1940-1950) Amanda Palomo Alves* Resumo: O presente artigo trata de uma importante fase da música popular urbana de Angola, que se dá a partir dos anos 1940. Buscamos, contudo, dissertar sobre a história de um grupo musical específico, o “N’gola Ritmos”. Nossa opção pelo tema se deve por compreendermos a importância do conjunto e a sua posição de liderança durante os anos cinquenta do século XX, sobretudo, na cidade de Luanda. Palavras-chave: Angola. História. Música. “N’gola Ritmos”. Abstract: This article will deal with a major phase of urban popular music of Angola, which takes place from the 1940s will seek, however, speak about the history of a particular musical group, "N'gola Rhythms". Our choice of theme is due to understand the importance of the whole and its leading position during the fifties of the twentieth century, particularly in the city of Luanda. Keywords: Angola. History. Music. "N'gola Rhythms". Resumen: El presente artículo trata de una importante fase de la música popular urbana de Angola, que se da a partir de los años 1940. Buscamos, pero, dissertar sobre la historia de um grupo musical específico, lo “N’gola Ritmos”. -

Inventário Florestal Nacional, Guia De Campo Para Recolha De Dados
Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais de Angola Inventário Florestal Nacional Guia de campo para recolha de dados . NFMA Working Paper No 41/P– Rome, Luanda 2009 Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais As florestas são essenciais para o bem-estar da humanidade. Constitui as fundações para a vida sobre a terra através de funções ecológicas, a regulação do clima e recursos hídricos e servem como habitat para plantas e animais. As florestas também fornecem uma vasta gama de bens essenciais, tais como madeira, comida, forragem, medicamentos e também, oportunidades para lazer, renovação espiritual e outros serviços. Hoje em dia, as florestas sofrem pressões devido ao aumento de procura de produtos e serviços com base na terra, o que resulta frequentemente na degradação ou transformação da floresta em formas insustentáveis de utilização da terra. Quando as florestas são perdidas ou severamente degradadas. A sua capacidade de funcionar como reguladores do ambiente também se perde. O resultado é o aumento de perigo de inundações e erosão, a redução na fertilidade do solo e o desaparecimento de plantas e animais. Como resultado, o fornecimento sustentável de bens e serviços das florestas é posto em perigo. Como resposta do aumento de procura de informações fiáveis sobre os recursos de florestas e árvores tanto ao nível nacional como Internacional l, a FAO iniciou uma actividade para dar apoio à monitorização e avaliação de recursos florestais nationais (MANF). O apoio à MANF inclui uma abordagem harmonizada da MANF, a gestão de informação, sistemas de notificação de dados e o apoio à análise do impacto das políticas no processo nacional de tomada de decisão. -

Tribunal De Contas De Angola
REPOBLICA DE ANGOLA TRIBUNAL DE CONTAS 10 CAMARA RESOLUcAO N°.z8 /FP/1 Processos n.°s: 446 a 496,593,698 e 741/PV/2014 I. Dos Factos O Departamento Ministerial das Finangas, submeteu para efeitos de Fiscalizagao Previa, por intermedio do Officio n.° 2175/04/03/GMF/2014, de 9 • de Julho, corn entrada nesta Corte de Contas no dia 30 de Julho do corrente ano, os contratos abaixo descritos celebrados entre o Departamento Ministerial da Construgao e diversas empresas privadas que passamos a enunciar: I. A empresa Engevia - Construcao Civil e Obras Ptiblicas, Lda celebrou os contratos seguintes: -Reabi I itagao da Estrada Nacional EN - 150, Trogo: Camacupa/Ringoma/Umpulo, corn extensao de 113 Km na Provincia do Bie, e do Servigo de Elaboragao do Pro jecto Executivo da Obra, no valor global de Akz: 9.604.999.895,00 ( Nove Mil Milhiies, Seiscentos e Quatro Milhiies, Novecentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco • Kwanzas); -Reab I itagao da Estrada Nacional EN - 150, Trogo: Alfandega/Caiongo/Cangola, corn extensao de 62 Km, na Provincia do Urge, e do Servigo de Elaboragao do Pro jecto Executivo da Obra, no valor global de Akz: 4.649.872.610,00 ( Quatro Mil Milhaes, Seiscentos e Quarenta e Nove Milhoes, Oitocentos e Setenta e Dols Mil e Seiscentos e Dez Kwanzas); -Reabilitagao da Estrada Nacional EN 160, Trogo: Quimbianda/Buengas/CuiloFuta, corn extensao de 78 Km, na Provincia do Ufge, eclo Servigo de Elaboragao do Pro jecto Executivo da bra, no valor de Akz: 1 11, 6.629.997.606,00 ( Seis Mil Milhaes, Seiscentos e Vinte e Nove -

Angola-Luanda-Bita-Water-Supply
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: 137066-AO Public Disclosure Authorized INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GUARANTEE Public Disclosure Authorized IN THE AMOUNT OF UP TO US$500 MILLION IN SUPPORT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA FOR THE LUANDA BITA WATER SUPPLY GUARANTEE PROJECT Public Disclosure Authorized June 11, 2019 Water Global Practice Africa Region This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective April 30 , 2019) Currency Unit = Angolan Kwanza (AKZ) AKZ 323.08 = US$1 FISCAL YEAR January 1-December 31 Regional Vice President: Hafez Ghanem Country Director: Elisabeth Huybens Senior Global Practice Director: Jennifer Sara Practice Managers: Maria Angelica Sotomayor Araujo, Sebnem Erol Madan Task Team Leaders: Pier Francesco Mantovani, Satheesh Kumar Sundararajan i ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ACS Additional Cash Support AKZ Angolan Kwanza AML/CFT Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism AQR Asset Quality Review ATI African Trade Insurance Agency BNA Central Bank of Angola bpifrance French Public Investment Bank (Banque Publique d’Investissement) C-ESMP Contractor Environmental and Social Management Plan CD Distribution Center (Centro de Distribução) CE Citizen Engagement CLO Community Liaison Officer CPF Country -

Anthrologica Birth Registration in Angola
Birth registration in Angola Formative research Nell Gray and Juliet Bedford February 2016 Anthrologica Acknowledgements. ! ! We!extend!sincere!gratitude!to!the!stakeholders!who!participated!in!this!research!for!sharing!their! experiences!and!insights,!and!for!giving!their!time!so!willingly.! ! We!would!like!to!thank!the!Government.of.Angola!for!their!support!of!this!research,!particularly!Dr.! Claudino!Filipe!and!his!team!at!the!Ministry!of!Justice,!and!representatives!from!the!provincial!and! municipal!Administrations!who!facilitated!and!supported!the!fieldwork.! ! Thanks!also!to!UNICEF.Angola!for!their!onBgoing!engagement!with!the!research:! Clara!Marcela!Barona! ! ! ! Paulo!Helio!Mendes! Tatjana!Colin! ! ! ! ! Manuel!Francisco! Lidia Borba Amelia!Russo!de!Sa!! Niko!Manos!Wieland! ! ! ! Christopher!Ngwerume! Vincent!van!Halsema! ! ! ! Hammad!Masood! Neusa!de!Sousa!! ! ! ! Mario!Manuel!! Teófilo!Kaingona! ! ! ! Vinicius!Carvalho! ! And!to!UNICEF.ESARO!colleagues,!Patricia!Portela!Souza,!Milen!Kidane!and!Mandi!Chikombero,!and!to! Debra!Jackson!at!UNICEF.Head.Quarters!in!New!York.! Anthrologica!would!like!to!thank!our!two!partner!organisations,!JMJ.Angola!and!the!Scenarium.Group.! ! JMJ.Angola!was!a!valuable!collaborative!partner!at!every!stage!of!the!project,!and!particular!thanks!are! extended!to!the!following!colleagues!for!their!positive!inputs:! João!Neves! ! ! ! ! ! Manuel!Francisco! Margaret!Brown! ! ! ! ! Mateus!Correia!da!Silva! Idaci!Ferreira! ! ! ! ! ! Rui!Pascoal!Figueiredo!Junior!Romeu! Ernesto!Isidro! ! ! ! ! ! Amelia!Tome! -

Dotação Orçamental Por Orgão
Exercício : 2021 Emissão : 17/12/2020 Página : 158 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 130.000.000,00 100,00% Receitas Correntes 130.000.000,00 100,00% Receitas Correntes Diversas 130.000.000,00 100,00% Outras Receitas Correntes 130.000.000,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Despesas Correntes 33.787.477.867,00 98,83% Despesas Com O Pessoal 21.073.730.348,00 61,64% Despesas Com O Pessoal Civil 21.073.730.348,00 61,64% Contribuições Do Empregador 1.308.897.065,00 3,83% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 1.308.897.065,00 3,83% Despesas Em Bens E Serviços 10.826.521.457,00 31,67% Bens 2.520.242.794,00 7,37% Serviços 8.306.278.663,00 24,30% Subsídios E Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Despesas De Capital 400.175.378,00 1,17% Investimentos 373.580.220,00 1,09% Aquisição De Bens De Capital Fixo 361.080.220,00 1,06% Compra De Activos Intangíveis 12.500.000,00 0,04% Outras Despesas De Capital 26.595.158,00 0,08% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 34.187.653.245,00 100,00% Órgãos Legislativos 34.187.653.245,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa / Projecto Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Acções Correntes 33.862.558.085,00 99,05% Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 10.567.385.159,00 Administração Geral 22.397.811.410,00 Manutenção Das Relações -

Encontro De Recolha De Subsidio Referente Ao Projecto De Pesquisa De Co-Produção De Conhecimento Urbano Em Angola E Moçambique
Encontro de Recolha de Subsidio Referente ao Projecto de Pesquisa de Co-Produção de Conhecimento Urbano em Angola e Moçambique Apresentção do Projecto LIRA pela DW - Development Workshop 07 de Agosto 2018 A Pesquisa visa promover a implementação do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 11 em Africa, bem como recolha de dados sobre todos os indicadores do objectivo de Desenvolvimento Sustentável Urbano em três bairros representando diferentes tipologias dos assentamentos peri- urbanos de Luanda. OBJECTIVOS: Farol Das Lagostas Pescadore Bairro Da Paz Dala Muleba Forno de Cal Ilha Do Cabo NGOLA KILUANJESao Pedro Da Barro Cacuaco Sede Boa Esperanca Salinas ImbondeirosEcocampo ILHA DO CABO SAMBIZANGAAnteiro Mulemba Kawelele No Porto Pesquerio Candua 1. Criar um sistema MarconiPetrangol Chapas Val Saroca Kikolo Sede NguanhaOssos 11 De NovembreCemiterioCompao Encibi Bandeira CampismoIlha Da Madeira Cardoso Boa Vista Roque Santeiro INGOMBOTA Cardoso Augusto NgangulaParaiso HOJISao Joao YA HENDAMabor Ceramica ???? Miramar Lixeira Santo Antonio Combustiveis Chicala I SAMBIZANGAMota participativa de monitoria BairroBairro CruzeiroSambizanga Operario Sao Pedro KIKOLO CACUA Chicala II Ingombota ZangadoC.T.TAdriano Moreira PraiaSaneamento De Bispo SaoMARCAL MarcalPaulo CAZENGA KINANGA Maianga Cazenga PopularComandante Bula Coreia (???) Rangel Bairro Azul RANGELPrecolCAZENGACazenga Municipal Catambor RANGELNelito Soares Tungango SambaMAIANGA Pequena TERRACalemba NOVA PrendaBairro MilitarBairro da PoliciaTerra Nova Mulemvos dos indicadores dos Madame -

La Tripanosomosi Humana Africana Al Focus Històric De Quiçama, Angola
UNIVERSITAT DE BARCELONA FACULTAT DE MEDICINA DEPARTAMENT DE MEDICINA Programa: Biopatologia en medicina Bienni: 1998-2000 LA TRIPANOSOMOSI HUMANA AFRICANA AL FOCUS HISTÒRIC DE QUIÇAMA, ANGOLA Doctorand: José Antonio Ruiz Postigo Codirectors: Dr. Jordi Mas Capó i Dr. Pere Pérez Simarro Tutor: Dr. Josep Mª Gatell Artigas Barcelona 2005 2 A mis padres, por el gran apoyo que siempre me han dado 3 4 Agraïments Agraeixo al Dr. Àlex Llobera i la Dra. Carme Font el seu recolzament en la realització del treball de camp a Angola, així com el seu valuós suport rebut en d’altres moments. A tot l’equip d’infermers del centre de salut de Muxima, Sr. Lumbo Ya Mandi Menino, Sra. Esperança Francisco, Sra. Madalena Rodrigues, Sr. Pedro Agostinho, Sra. Fabiana Cardoso, Sra. Maria Caculo, Sr. Felisberto Jorge, Sr. Adao Suente i Sra. Eva Sabino que gràcies a la seva encomiable tasca van fer possible tot el treball de diagnòstic i tractament reflectit en aquesta tesi. Al Dr. Teofilo Josenando, director del Programa Nacional de Controlo da Tripanossomíase d’Angola qui, juntament amb les autoritats del Ministério de Saúde, van fer possible el desenvolupament de les activitats dutes a terme a Quiçama. Al Dr. Jordi Mas, codirector d’aquesta tesi, pel que contínuament m’ha aportat. Al Dr. Pere Simarro, codirector d’aquesta tesi, per tot el que he après amb ell i pel que hem pogut compartir durant aquests anys. 5 Al Dr. José Ramon Franco, per la seva excel·lent col·laboració malgrat la distància física que normalment ens separa. A la Dra. -
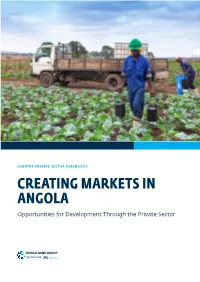
Creating Markets in Angola : Country Private Sector Diagnostic
CREATING MARKETS IN ANGOLA MARKETS IN CREATING COUNTRY PRIVATE SECTOR DIAGNOSTIC SECTOR PRIVATE COUNTRY COUNTRY PRIVATE SECTOR DIAGNOSTIC CREATING MARKETS IN ANGOLA Opportunities for Development Through the Private Sector COUNTRY PRIVATE SECTOR DIAGNOSTIC CREATING MARKETS IN ANGOLA Opportunities for Development Through the Private Sector About IFC IFC—a sister organization of the World Bank and member of the World Bank Group—is the largest global development institution focused on the private sector in emerging markets. We work with more than 2,000 businesses worldwide, using our capital, expertise, and influence to create markets and opportunities in the toughest areas of the world. In fiscal year 2018, we delivered more than $23 billion in long-term financing for developing countries, leveraging the power of the private sector to end extreme poverty and boost shared prosperity. For more information, visit www.ifc.org © International Finance Corporation 2019. All rights reserved. 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 www.ifc.org The material in this work is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. IFC does not guarantee the accuracy, reliability or completeness of the content included in this work, or for the conclusions or judgments described herein, and accepts no responsibility or liability for any omissions or errors (including, without limitation, typographical errors and technical errors) in the content whatsoever or for reliance thereon. The findings, interpretations, views, and conclusions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of the International Finance Corporation or of the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) or the governments they represent. -

Dotacao Orcamental Por Orgao
Exercício : 2016 Emissão : 17/12/2015 Página : 92 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 22.976.290.520,00 100,00% Despesas Correntes 22.960.105.031,00 99,93% Despesas Com O Pessoal 16.080.635.641,00 69,99% Despesas Com O Pessoal Civil 16.080.635.641,00 69,99% Contribuições Do Empregador 391.583.624,00 1,70% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 391.583.624,00 1,70% Despesas Em Bens E Serviços 6.080.105.031,00 26,46% Bens 372.774.975,00 1,62% Serviços 5.707.330.056,00 24,84% Subsídios E Transferências Correntes 407.780.735,00 1,77% Transferências Correntes 407.780.735,00 1,77% Despesas De Capital 16.185.489,00 0,07% Investimentos 16.185.489,00 0,07% Aquisição De Bens De Capital Fixo 16.185.489,00 0,07% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 22.976.290.520,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 22.976.290.520,00 100,00% Órgãos Legislativos 21.797.391.387,00 94,87% Órgãos Executivos 1.178.899.133,00 5,13% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 22.976.290.520,00 100,00% Actividade Permanente 22.976.290.520,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 22.976.290.520,00 100,00% Apoio Institucional 401.000.000,00 1,75% Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos 1.178.899.133,00 5,13% Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 21.396.391.387,00 93,12% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Assembleia Nacional 22.976.290.520,00 -

Dotacao Orcamental Por Orgao
Exercício : 2021 Emissão : 30/10/2020 Página : 155 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Despesas Correntes 33.787.477.867,00 98,83% Despesas Com O Pessoal 21.073.730.348,00 61,64% Despesas Com O Pessoal Civil 21.073.730.348,00 61,64% Contribuições Do Empregador 1.308.897.065,00 3,83% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 1.308.897.065,00 3,83% Despesas Em Bens E Serviços 10.826.521.457,00 31,67% Bens 2.520.242.794,00 7,37% Serviços 8.306.278.663,00 24,30% Subsídios E Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Despesas De Capital 400.175.378,00 1,17% Investimentos 373.580.220,00 1,09% Aquisição De Bens De Capital Fixo 361.080.220,00 1,06% Compra De Activos Intangíveis 12.500.000,00 0,04% Outras Despesas De Capital 26.595.158,00 0,08% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 34.187.653.245,00 100,00% Órgãos Legislativos 34.187.653.245,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa / Projecto Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Acções Correntes 33.862.558.085,00 99,05% Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 10.567.385.159,00 Administração Geral 22.397.811.410,00 Manutenção Das Relações Bilaterais E Organizações Multilaterais 764.164.343,00 Encargos Com A Comissão Da Carteira E Ética 133.197.173,00 Combate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da Saúde 325.095.160,00 0,95% Comissão Multissectorial