IZABELA FERNANDES DE SOUZA Foz Do Iguaçu 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Memoria De Investigación De 2005
MERCEDES CALVO CRUZ MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 2005 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación SERVICIO DE PUBLICACIONES © Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria [email protected] Servicio de Publicaciones y Producción Documental [email protected] D.L.: G.C. 827-2005 1ª edición: 2006 Imprime: Talleres Editoriales COMETA, S.A. Ctra. Castellón, Km. 3,400 50013 Zaragoza Impreso en España – Printed in Spain El presente documento está basado en la información aportada por los investigadores y no posee ningún valor de certificación. Índice Presentación ................................................................................................................ 7 Análisis Económico Aplicado ...................................................................................... 9 Arte, Ciudad y Territorio ............................................................................................ 23 Biología ...................................................................................................................... 31 Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología........................ 41 Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería ........................................................ 47 Ciencias Clínicas ........................................................................................................ 49 Ciencias Históricas ..................................................................................................... -

Mélanges Étienne Bernand
100 Jahre Ephesos = H.Friesinger - F.Krinzinger (edd.), 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos. Akten des Symposions Wien 1995(Österr.Akad.Wiss., Ph.-Hist. Klasse, Denkschriften Band 260; Wien 1999) 100 Jahre Ephesos = H.Friesinger - F.Krinzinger (edd.), 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos. Akten des Symposions Wien 1995(Österr.Akad.Wiss., Ph.-Hist. Klasse, Denkschriften Band 260; Wien 1999) XII Congressus = M.Mayer i Olivé, G.Baratta, A.Guzmán Almagro (edd.), XII Congressus internationalis Imperii Romani inscriptionibus descriptae, Barcelona, 3-8 Septembris 2002(Barcelona 2007) A’ Πανελλήνιο Συνέδριο = E.K.Sverkos (ed.), A’ Πανελλήνιο Ἐπιγραφικῆς Συνέδριο Ἐπιγραφικῆς στὴν µνήµη Δηµητρίου Κανατσούλη. Θεσσαλονίκη 22-23 Ὀκτωβρίου 1999 (Thessaloniki 2001) AAAS = Annales Archéologiques Arabes Syriennes AAES = H.C.Butler, W.K.Prentice (edd.), Publications of an American Archaeological Expedition to Syria in 1899, II-III (New York 1908) AASS = Annales Archéologiques Arabes Syriennes ABME = Ἀρχεῖον τῶν βυζαντινῶν µνηµείων τῆς Ἑλλάδος ABV = cf. Beazley, ABV Achaïe I, II, III = A.D.Rizakis, Achaïe I. Sources textuelles et Histoire regionale(Μελετήµατα 20; Athens 1995). Achaïe II. La Cité de Patras: Épigraphie et Histoire (Μελετήµατα 25) (Athens 1998). Achaïe III. Les cités achéennes: épigraphie et histoire (Athens 2008) ACSS = Ancient Civilizations from Scythia to Siberia (Leiden (1994) → Actes IXe Congrès = Actes du IXe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, 31 Aug. - 7 Sept. 1987, I (Acta Centri Historiae ‘Terra Antiqua Balcanica’, II; Sofia 1987) Actes Xe Congrès = M.Christol, O.Masson (edd.), Actes du Xe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Nîmes, 4-9 octobre 1992 (Paris 1997) Actes XIe Congrès = N.Duval (ed.), Actes du XIe Congrès international d’archéologie chrétienne. -

A Tribute to the Ionian Renaissance
A TribuTe To The ioniAn renAissAnce Olivier HeNRy * Although there is no doubt that foreign influences played a role in the conception of the Halikarnassos’ Maussolleion, new archaeological data brings greater nuance to this picture. Previous studies presented the tomb of Maussollos as a prototype of a new kind of tomb, borrowing its char - acteristics from foreign influences and later spreading this model throughout Asia Minor. This paper aims to readdress the issue in light of new studies on Karian funerary architecture from the 6 th century BC to the mid 4 th century BC (when Maussollos started to build his tomb). These funerary buildings reveal striking similarities with the Maussolleion, and raise the possibility that this building type might have been part of a long-term tradition of Karian funerary culture. Hekatomnid Karia holds a specific place in the study of ancient architectural history. One of the main features of 4 th century Karia is its original and intensive architectural activity developed by the members of the 4 th century dynasty and defined today as the ‘Ionian Renaissance’. This ‘Ionian Ren - aissance’ is best characterized by a revival of Archaic east Greek architecture influenced by both contemporaneous mainland Greek architecture and substantial technical features introduced by the Hekatomnids and their architects. The context that led to this ‘Renaissance’ is usually explained by the period of peace and economic growth that offered the Hekatomnids the opportunity to occupy a major position in the political history of southwestern Asia Minor, positioned between Greeks and Persians. The Hekatomnid ambition behind such behavior is not easy to draw; some scholars defend the idea of a re-establishment of the Golden Age of Persian supremacy during the 6 th century BC 1, while others consider the ‘Ionian Renaissance’ to be the result of a creolization process, intended at casting a new ‘Karianness’ 2. -

El Debate 19131110
SEGUNDA ÉPOCA FRANQUEO I COMCER"i AOO I ^O^^n* MADRID. AÑO m. NUM. 737. Apartado 466. Lnnes 10 de Noviembre de 1913. Teiéf<mo nám. 365. Redacción y Admiaistracióm BARQUILLO, 4 y 6 TRIOIIFO BE Lfl COflUClÓH HOMRQOICI eokgio sí encontrarse frente á frente el can y en las farolas de las vías sitoaáas en fe. parecía- que eí candidato de la conjunción iba algunos interventores, sobre la autenticí&S didato consa-vador, ée la Defensa Social, se ronda ed Atocha ijasquiaes, en los que ro vejieiendo á sus coatrarios. de algiin votante. .-i,. ^, ñor Silvela y Loring, y d' Sr. Talero Heí. gaban á los obreros se absinviesen de votar. Tanto él como los otros candidatos, reco Eí escrntimo. '*•"' ' ' », gas. • : • • La Policía quitaba los pasquines, pero eran rrieron el distrito durante todo el día. He aquí eb resultado que no ateró, eoiab. uno y otro disputaron sobre casi de los «sustituidos por otros al poco rato. El escrutinio, realizado sin protestas, dio se verá, la injpresión dominante desde las dos era el candidato apoyado por el Go En la sección' 22, se presentó un señor pa el. sigráente resultado: l)rimeras horas de la mañana: bierno. ' ra depositar su voto, pero consultado el Cen LAS ElECCIOHES A CONCEJALES Don Joaquín Muño;^ Suela, de la conjim- De los cuatro candidatos que se eiegíaai„ Otro incidente ruidoso promovieron los con- so, se vio que su apellido estaba equi'^'ocado. e-ióu republicano-socialista, 2.114 rotos; don juneionistas y radicales silbando á varios ami -Bi interventor i-adíoal se opuso entonces tres correspondieron á los monárqnicos y uno' Alejaiidi'o García López, ministerial, 1.876, y á la coalición republicano-socialista. -

The Spread of Coins in the Hellenistic World
The Spread of Coins in the Hellenistic World Andrew Meadows Although coinage was first ‘invented’ in the archaic Greek period, and spread to a sig- nificant part of the Mediterranean world during the classical period, it remained a mar- ginal element within the economy. At very few cities or mints were coins produced regularly, and the issues of a vast majority of mints were sporadic, small and of coins ill- suited to daily transactions.1 Moreover there existed in the nature of early coinage inher- ent impediments to international use. Thus, while coinage can be said to be a financial innovation of the archaic and classical Greek world, it did not radically change eco- nomic behaviour. Significant changes in the nature and scale of coinage occurred only in the wake of Alexander’s world conquest, during the Hellenistic period. The Hellenistic period runs, as usually defined, from the death of Alexander the Great in 323 BC to the Battle of Actium by which Roman superiority over the Greek world was finally established on 2nd September 31 BC. The period is defined by the world conquest of Alexander the Great, and the consequences of the division of his empire upon his death. The name ‘Hellenistic’ derives from the German term for the period, coined by J.G. Droysen in the 1830s in his Geschichte des Hellenismus (First edition, Hamburg 1836–1843). For Droysen, who had previously written a seminal study of Alexander the Great, the period of Hellenismus, was characterised by the Hellenisation of the world that Alexander had conquered. This world had largely been encompassed by the Achaemenid Persian Empire, but had comprised many different cultures in Asia Minor, the Near East, Egypt, Mesopotamia, Iran and beyond.2 1 On scale, see further below, section “Spread and Scale”. -
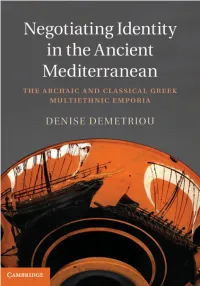
Negotiating Identity in the Ancient Mediterranean
Negotiating Identity in the Ancient Mediterranean The Mediterranean basin was a multicultural region with a great diversity of linguistic, religious, social, and ethnic groups. This dynamic social and cultural landscape encouraged extensive con- tact and exchange among different communities. This book seeks to explain what happened when different ethnic, social, linguistic, and religious groups, among others, came into contact with each other, especially in multiethnic commercial settlements located throughout the region. What means did they employ to mediate their interac- tions? How did each group construct distinct identities while interact- ing with others? What new identities came into existence because of these contacts? Professor Demetriou brings together several strands of scholarship that have emerged recently, especially in ethnic, religious, and Mediterranean studies. She reveals new aspects of identity con- struction in the region, examining the Mediterranean as a whole, and focuses not only on ethnic identity but also on other types of collective identities, such as civic, linguistic, religious, and social. denise demetriou is Assistant Professor of History at Michigan State University. Negotiating Identity in the Ancient Mediterranean The Archaic and Classical Greek Multiethnic Emporia denise demetriou cambridge university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao˜ Paulo, Delhi, Mexico City Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9781107019447 C Denise Demetriou 2012 This publication is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. -

Edades Moderna Y Contemporanea
EDADES MODERNA Y CONTEMPORANEA Obras de conjunto 94-507 Actas del Congreso Intel71acional sobreCartos IlIy la I1l1stración.- Tomo 1: El r~v y la mOllarquía- Ministerio de Cultura.- Madrid, 1989.- 649 p. (21 x 15). El volumen recoge la conferencia inaugural, las ponencias y las comunicaciones presentadas al Congreso celebrado en Madrid entre e! 12 Yel 16 de diciembre de 1988 con motiv<) del2e' centenario de este monarca. Contiene: "La monarquia" por PABLO FERNA1'qDEZ ALBADALEJO (p. 1-90); "América en la monarquía" por GUlLLERMO CESPEDES DEL CASTILLO (p .. 91-194); "Carlos III de Borbón. l3alance de un reinado" por ANTONIO DOMlNGUEZ ORTIZ (p. 195-212); "Política y amistad: Choiseul y Grimaldi. Correspondencia particular entre ambos ministros (1763-1770)" por DIDIE~ OZANAM (p. 213-238); "Carlos III y la extinción de los jesuitas" por .TOSE A. FERRER BENIMELI (p. 239-260); " Venecia y España durante el reinado de Carlos Ill" por GIOVANNI STIFFONI (p. 261-274); "Carlos III y su actividad política a través de su correspondencia con Tanucci (1759-1783)" porMAXIMILIANO BARRIO GOZALO (p. 275-298); "La actitud del rey Carlos III durante el año "sin rey" (1758-1759)" por DOLORES MATEO,SDORADO (p. 299,-322);" Alabanza y crítica en los elogios de CarlosIll" por .TOSE M. CASO GONZl\LEZ(p.322-348); "EI último viaje de Carlos Ill" por FRANCISCO AGUILAR PINAL (p. 349-366); "Regalismo e Inquisición bajo Carlos III: La Real Cédula de 5 de febrero de 1770" por AGOSTINO BORROMEO (p. 367-387); "Un aspecto olvidado del reformismo municipal carolino:,la reinstauración de las regidurías añales en Cádiz" por ANTONIO GARCIA BAQUERO (p. -

Map 61 Ephesus Compiled by C
Map 61 Ephesus Compiled by C. Foss and G. Reger (islands), 1994 Introduction The continental part of the map comprises three distinct geographic regions: the coasts of Ionia and Caria, the Maeander valley, and the mountainous hinterland of Caria. The coastal region, settled by Greeks in their first great expansion in the Iron Age, became the site of major cities and many smaller settlements along its deeply indented coastline. The excavators of Ephesus and Miletus have long surveyed the regions of those cities, and other classical scholars have investigated the rest of Ionia. The Ionian coast has seen great physical changes since antiquity. The vast quantities of alluvium deposited by the R. Maeander have made the ancient port of Ephesus an inland town, and turned the former Gulf of Latmos near Miletus into a lake (inset and E2). The Carian coast, with its numerous small ports, is well known thanks to the researches of Bean and Fraser. The broad Maeander valley, which divides Ionia from Caria, always played a major role in the economy of the region with its fertility and the communication it provided between coast and interior. It has not been systematically surveyed. The river’s tributaries offered an outlet for the scattered settlements in the basins and plateaus of the heavily forested interior of Caria. Much of this region, as well as many parts of neighboring ones, was carefully explored by Louis Robert. The map omits Carian sites for which no Greek name is attested; for these, see Radt (1970). For unnamed village sites also not marked, see Marchese (1989, 147-54). -

The Geography of Strabo. with an English Translation by Horace
THE LOEB CLASSICAL LIBRARY FOUNDED BY JAMES LOEB, LL.D. EDITED BY tT. E. PAGE, C.H., LITT.D. tE. CAPPS, PH.D., LL.D. tW. H. D. ROUSE, litt.d. L. A. POST, L.H.D. E. H. WARMINGTON, m.a., f.r.htst.soc. THE GEOGRAPHY OF STRABO VI THE GEOGRAPHY OF STRABO WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY HORACE LEONARD JONES, Ph.D., LL.D. CORNELL DNIVERSITT IN EIGHT VOLUMES VI LONDON WILLIAM HEINEMANN LTD CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS HARVARD UNIVERSITY PRESS MOMLZ G SI Mil' '' First printrd 1929 V. G> lirprinled 1954, I960 I 4 10952?O rrintrd in Great Britain CONTENTS PAOl BOOK XIII 3 BOOK XIV 197 A PARTIAL DICTIONARY OF PROPER NAMES 887 THE GEOGRAPHY OF STRABO BOOK XIII A 2 2TPABnN02: rEOrPA<MKnN I C581 1. Mexpi' fJ-^v Bevpo (K^coptaOw ra wepl tt)? ^pvyCa^' eTTavi6vT€^ Be irdXiv iirl rrjv WpoTzov- TiBa Kal TT)v €<l)€^ij<i T(p AlcrtjiTM irapaXiav Trjv avrrjv Tr}<; TrepioSelat rd^iv (iTToBcoao/j-ev. eaTi Se Tpwa? Trpdyrr) tt}? Trapa\ia<^ TavTr}<i, »^? to TToXvdpvXrjTov, Kalirep iv €p€nrLot<; kol iv €prip.ia XenrofjLeitjf;, o/xo)? TroXvXoyiav ov rijv Tvxovaav irapex^'' ^fi ypa<f)fj. 7rpb<; tovto Be avyyv(op.rj^ Bel Kal 7rapaKXr]<Te(Of;, 07r&)9 rrjv alriav rov ^ ^i]Kov^ p,r} rjfilv pdXXov dvintTwcnv oi evrvy- iroBovai, raw Xdi'OVTe'i 7j T0t9 a(f)6Bpa Ttjv ei>B6^a)i> Kal TraXaicov yvwaiv irpoaXaix^dvei Bk t^ p,T)Ket, Kal TO 7rX7j0o<i tmp eTroiKTjadvToyp rijv Xoipav '^^XXi]v(ov re Kal fiap^dpcaVy koX oi avyypa<f)eU, ov^l to, avra ypd^ovre^ irepl rwv avToiv, ovBe aa<f)M<; irdvra' mv ev Tot9 rrptoToi^ earlv "O^rjpo^t, eiKd^eiv irepl twv TrXelariov irapexfop. -

Cults, Creeds and Identities in the Greek City After the Classical Age
CULTS, CREEDS AND IDENTITIES IN THE GREEK CITY AFTER THE CLASSICAL AGE edited by Richard Alston, Onno M. van Nijf & Christina G. Williamson PEETERS LEUVEN – PARIS – WALPOLE, MA 2013 CONTENTS List of Illustrations .................................................................................... vii Preface ....................................................................................................... ix Contributors .............................................................................................. xi Introduction: Th e Greek city and its religions aft er the Classical age 1 Onno van Nijf, Richard Alston and Christina Williamson Chapter 1. Processions in Hellenistic cities. Contemporary discour- ses and ritual dynamics ........................................................................... 21 Angelos Chaniotis Chapter 2. Destined to rule. Th e Near Eastern origins of Hellenistic ruler cult .................................................................................................... 49 Eva Anagnostou-Laoutides Chapter 3. Th e ‘Temple with Indented Niches’ at Ai Khanoum. Ethnic and civic identity in Hellenistic Bactria ................................... 85 Rachel Mairs Chapter 4. As God is my witness. Civic oaths in ritual space as a means towards rational cooperation in the Hellenistic polis ............. 119 Christina Williamson Chapter 5. Oracles and civic identity in Roman Asia Minor ........... 175 Aude Busine Chapter 6. Offi cials as dedicators in post-classical poleis ................. 197 Günther -

Aus: Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik 88 (1991) 225–260 © Dr. Rudolf Habelt Gmbh, Bonn
ROBERT K. SHERK THE EPONYMOUS OFFICIALS OF GREEK CITIES III aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 88 (1991) 225–260 © Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 225 The Eponymous Officials of Greek Cities III* THE REGISTER Thrace, Black Sea Area, Asia Minor 56. ABDERA in Thrace With the westward advance of Persia under Cyrus the Great and the fall of Sardis (probably 541 BC) the Greek cities of Asia Minor received a new master whose satraps adopted policies hostile to their best interests. Rebelling against the hybris of the Persians, the inhabitants of Teos on the mainland left their city and migrated to Abdera on the southern coast of Thrace (Strabo 14.1.30 and Herodotus 1.168). Many of them later returned to Teos, and the relationship between Teos and Abdera remained so close that even about 166 BC Teos sent an embassy to Rome to intercede for Abdera against the encroachment of the Thracian King Kotys. The order for publication of the Abderan decree honoring the Teian envoys (SEG3 656, lines 34ff.) begins as follows: ofl d¢ nomofÊlakew ofl §p‹ fler°vw ÑH[– – – én]a- gracãtvsan tÒde tÚ cÆfisma etc. Thus, at that time the eponym was a priest. In another decree, also from the second century, published by Ch. Avezou and Ch. Picard in BCH 37 (1913) 124-125 no. 2, a grant of ateleia was made metå fler°a DiÒnuson and later (lines 31- 32) the order for publication prescribes énagracãtvsan d¢ ofl nomofÊlakew ofl §p‹ fle- r°vw DionÊsou tÒde tÚ cÆfisma etc. Thus, for that particular year the god Dionysos was his own priest as eponym of the year because no one else could be found to hold the expen- sive office.1 It has been thought by several modern scholars that two or more centuries earlier the eponymous official of Abdera was a priest of Apollo, but the evidence is of doubtful value, and I believe it should be dismissed.2 * Continued from ZPE 84, 1990, 231-295. -

Bir Aydın Seyahati Türkçe
1 1 2 1 Hazırlayan Armağan AYDIN Aydın Yatırım Destek Ofisi Nilay AKAY Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi Tasarım ve İçerik Yönetimi Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi * Kitabın içinde geçen karekodlar ilgili yerin konumunu ifade etmektedir. Örneğin, yan taraftaki karekod okutulduğunda Aydın’ın konumuna ulaşılmaktadır. 2 Efeler diyarı Aydın’a yapacagınız essiz bir seyahate hazır mısınız? Bu seyahatte Aydın inciri ile ağzınız tatlanacak, zeytinin yeşiline doyacak, bayraklı plajlarda mavi ve yeşil ile buluşacak, milli mücadele kahramanları efeler ile tanışacak, yöresel yemekler ve doğal ürünler ile uzun ve sağlıklı yaşamın sırrına erecek, antik kentlerde kadim zamanlara yolculuk edeceksiniz. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan şehrimize sizleri de davet ediyoruz. BİR AYDIN SEYAHATİ 33 İzmir Manisa Nereye mi gidiyoruz? Efeler diyarı AYDIN’A Buharkent Nazilli Kuyucak Sultanhisar Germencik Efeler Kuşadası Köşk İncirliova AYDIN Yenipazar Koçarlı Söke Karacasu Helsinki Oslo Stokholm Tallin Topçam Barajı Riga Kuzey Denizi Moskova Bozdoğan Kopenhag Çine Vilnius Amsterdam Berlin Varşova Moskova EGE DENİZİ Londra Brüksel Karpuzlu Kiev Paris Kemer Barajı Budapeşte Denizli Belgrad Bükreş Bafa Gölü Monako Karadeniz Sofya Roma Tiflis İstanbul Bakü Madrid Ankara Erivan Aydın Atina Tunus Ege Denizi Tahran Didim Cezayir K.K.T.C. Şam Rabat Akdeniz Beyrut Bağdat Trablus Bingazi Tel Aviv Muğla Umman Kahire 4 İzmir Manisa Buharkent Nazilli Kuyucak Sultanhisar Germencik Efeler Kuşadası Köşk İncirliova AYDIN Yenipazar Koçarlı Söke Karacasu Helsinki Oslo Stokholm Tallin Topçam Barajı Riga Kuzey Denizi Moskova Bozdoğan Kopenhag Çine Vilnius Amsterdam Berlin Varşova Moskova EGE DENİZİ Londra Brüksel Karpuzlu Kiev Paris Kemer Barajı Budapeşte Denizli Belgrad Bükreş Bafa Gölü Monako Karadeniz Sofya Roma Tiflis İstanbul Bakü Madrid Ankara Erivan Aydın Atina Tunus Ege Denizi Tahran Didim Cezayir K.K.T.C.