Guia Micromobilidade Compartilhada (2021)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
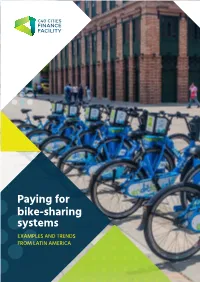
Paying for Bike-Sharing Systems EXAMPLES and TRENDS from LATIN AMERICA Introduction
Paying for bike-sharing systems EXAMPLES AND TRENDS FROM LATIN AMERICA Introduction Bike-sharing systems (BSS) have played BOX 1 a key role in discussions around how to promote cycling in cities for more than Financing and funding (CFF, 2017) a decade. This role has further increased Financing: Related to how governments (or with the emergence of private dockless private companies) that own infrastructure find the money to meet the upfront costs of building said systems since 2015. There are now infrastructure. Examples: municipal revenues, bonds, thousands of BSS in operation in cities intergovernmental transfers, private sector. across the world, particularly in Europe, Funding: Related to how taxpayers, consumers or Asia, and North America. others ultimately pay for infrastructure, including paying back the finance from whichever source Creating a BSS, however, is not simply a matter of governments (or private owners) choose. replicating a model that has worked in another city. BSSs are one element of a city’s overall transport infrastructure, Examples: Taxes, municipal revenues, user fees like roads, buses, metros, bike lanes, sidewalks, etc. Their and sponsorship. implementation must be based around a city’s context, including: (a) the applicable laws and regulations with respect to planning and operation of a BSS; (b) its integration with public transport networks, particularly The financing and funding options for a BSS will be its ability to connect transport nodes with offices and dependent on the operational structure that the city residences; and (c) the potential of cycling as a mode of chooses. In all cases, the city will be involved in this transport in the city and any relevant sustainability or structure: the degree of involvement will depend on the development objectives (Moon-Miklaucic et al., 2018). -

Download Relatório Técnico (PDF)
1 MICROMOBILIDADE COMPARTILHADA NO BRASIL 2 Desenvolvimento Laboratório de Mobilidade Sustentável (LABMOB-PROURB-UFRJ) Parceria Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) Colaboração Grow Tembici Serttel Coordenação Geral Victor Andrade Coordenação Executiva Marcela Kanitz Equipe Técnica Letícia Quintanilha Pedro Bastos Apoio Instituto Clima e Sociedade (iCS) MICROMOBILIDADE COMPARTILHADA NO BRASIL 3 Conteúdo INTRODUÇÃO 4 1. METODOLOGIA 6 1.1. Desenvolvimento da Plataforma Digital 6 1.1.1. Escopo dos dados coletados 9 1.1.2. Cálculo de emissões de CO2 evitadas 12 2. HISTÓRICO DA MICROMOBILIDADE 16 VEÍCULOS E TECNOLOGIA 21 OPERADORAS, PATROCINADORES E ARRANJOS INSTITUCIONAIS 23 REGULAMENTAÇÃO EXISTENTE 27 3. RESULTADOS DA PLATAFORMA DIGITAL 31 3.1. Dados gerais de uso dos sistemas 35 3.2. Emissão evitada de GEEs 40 3.3. Perfil dos usuários 41 RECOMENDAÇÕES & DESAFIOS 47 REFERÊNCIAS 51 MICROMOBILIDADE COMPARTILHADA NO BRASIL 4 INTRODUÇÃO A micromobilidade é um conceito bastante recente, mas que tem sido cada vez mais discutido no contexto global de busca de alternativas para mitigar os efeitos dos transportes no meio ambiente e na qualidade da vida urbana. Referindo-se aos deslocamentos feitos mediante veículos leves, de pequeno porte e impulsio- nados por energia elétrica ou força humana, a micromobilidade demonstra um alto potencial para a redução dos efeitos negativos resultantes do amplo uso de veículos motorizados movidos a combustíveis fósseis. Partindo dessa perspectiva, mais de mil cidades ao redor do planeta já dispõem de sistemas de micromobili- dade compartilhada, um modelo de serviço que, associado às inovações tecnológicas – especialmente pelo uso de aplicativos de smartphones –, torna-se mais um componente dos sistemas de transportes públicos. -

2015 - C40 Cities Emissions Reduction Activities Based on 2015 - Cities Emissions Reduction Activities
2015 - C40 Cities Emissions Reduction Activities Based on 2015 - Cities Emissions Reduction Activities City Name Account No Country Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Distrito Metropolitano de Quito 42178 Ecuador Page 1 of 1897 09/26/2021 2015 - C40 Cities Emissions Reduction Activities Based on 2015 - Cities Emissions Reduction Activities City Short Name C40 Reporting Year Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Quito C40 2015 Page 2 of 1897 09/26/2021 2015 - C40 Cities Emissions Reduction Activities Based on 2015 - Cities Emissions Reduction Activities Emissions reduction sector Food and Agriculture Community-Scale Development Community-Scale Development Mass Transit Mass Transit Private Transport Mass Transit Private Transport Private Transport Finance and Economic Development Waste Outdoor Lighting Waste Water Page 3 of 1897 09/26/2021 -

Maximizing Micromobility
Maximizing Micromobility UNLOCKING OPPORTUNITIES TO INTEGRATE MICROMOBILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION 1 ACKNOWLEDGEMENTS AUTHORS Dana Yanocha, ITDP Global Mackenzie Allan, ITDP Global REVIEWERS Background information, data, and draft review was provided by ITDP regional office staff: Christopher Kost, ITDP Africa Beatriz Rodrigues, ITDP Brazil Li Wei, ITDP China Pranjal Kulkarni, ITDP India Rian Wicaksana, National Development Planning Agency, Indonesia (formerly ITDP Indonesia) Clara Vadillo Quesada, Académie des Mobilités Actives, France (formerly ITDP Mexico) The authors would like to thank Carlos Felipe Pardo (NUMO) for guidance and assistance contributed to this report and the companion experts workshop held in December 2020. Support for this work was provided by ClimateWorks Foundation. Published in June 2021. 2 CONTENTS 1 INTRODUCTION 5 1.1 WHAT IS MULTIMODAL INTEGRATION? 8 1.2 THE BENEFITS OF MULTIMODAL INTEGRATION 9 2 EXISTING REGULATION AND WHY INTEGRATION MATTERS 11 3 WHAT CAN CITIES DO TO SUPPORT MICROMOBILITY INTEGRATION? 3.1 PHYSICAL INTEGRATION 13 3.2 PAYMENT AND FARE INTEGRATION 18 3.3 INFORMATIONAL INTEGRATION 22 3.4 INSTITUTIONAL INTEGRATION 24 4 KEY TAKEAWAYS 27 APPENDIX A 30 ADDITIONAL RESOURCES APPENDIX B 31 OUTSTANDING QUESTIONS COVER PHOTO SOURCE: Gabriel L. Guerrero, Shutterstock 3 To maximize the benefits of micromobility, cities must integrate these modes with public transportation. 4 INTRODUCTION Micromobility is an affordable, efficient, low-carbon transportation option that has become an attractive alternative to private vehicles for short trips. Micromobility refers to small, lightweight devices that: · Typically operate at speeds below 25 km/h (15 mph), · Can be human-powered or electric, · Can be shared or personally owned, and · Are ideal for trips up to 10 km. -

Realização GUIA PARA IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO PÚBLICO DE MICROMOBILIDADE NO BRASIL
Realização GUIA PARA IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO PÚBLICO DE MICROMOBILIDADE NO BRASIL REALIZAÇÃO Realização REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Presidência da República Jair Messias Bolsonaro Ministro da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade Carlos Alexandre Jorge Da Costa Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação Gustavo Leipnitz Ene APOIO TÉCNICO Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Diretor Nacional Michael Rosenauer Coordenador do Projeto Jens Giersdorf PRODUTO ELABORADO PARA: PROMOB-e Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH EXPEDIENTE: Coordenação Fernando Fontes Victor Andrade Daniel Guth Autores Daniel Guth Filipe Marino Juliana DeCastro Victor Andrade Revisão Ana Terra Projeto gráfico e diagramação Ricardo Campos CONTATOS Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação/Ministério da Economia Esplanada dos Ministérios Bloco J – Zona Cívico-Administrativa CEP: 70.053-900 Brasília-DF, Brasil Telefone: +55 (61) 2027-7293 www.economia.gov.br Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH SCN Quadra 1 Bloco C Sala 1501 – Ed. Brasília Trade Center CEP: 70.711-902 Brasília-DF, Brasil Telefone: +55 (61) 2101-2170 www.giz.de/brasil Informações legais Todas as indicações, dados e resultados deste estudo foram compilados e cuidadosamente revisados pelos autores . Ainda assim, podem ocorrer erros com relação ao conteúdo. Nem a GIZ nem os autores podem ser responsabilizados por qualquer reivindicação, perda ou prejuízo, direto ou indireto, resultante do uso ou da confiança depositada sobre as informações contidas neste estudo que resultem, direta ou indiretamente, de erros, im- precisões ou omissões de informações. -

Pagar Los Sistemas De Bicicletas Compartidas EJEMPLOS Y TENDENCIAS Introducción
Pagar los sistemas de bicicletas compartidas EJEMPLOS Y TENDENCIAS Introducción Los sistemas de bicicletas compartidas CAJA 1 (SBC) han jugado un papel clave en las discusiones sobre cómo promover Financiamiento y fuentes de financiación el uso de bicicletas en las ciudades (CFF, 2017) durante más de una década. Este papel Financiamiento: relacionado con la forma en que ha aumentado aún más con la aparición los gobiernos (o empresas privadas) que poseen de sistemas privados sin estación infraestructura encuentran el dinero para cubrir los costos iniciales para construir dicha infraestructura. desde 2015. Ahora hay miles de SBC en Ejemplos: ingresos municipales, bonos, transferencias funcionamiento en ciudades de todo el intergubernamentales, sector privado. mundo, particularmente en Europa, Asia Fuentes de financiación: relacionado con la forma en y Norte América. que los contribuyentes, los consumidores u otros pagan en última instancia por la infraestructura, incluido el pago del financiamiento de la fuente que elijan los gobiernos Sin embargo, crear un SBC no es simplemente una cuestión de (o propietarios privados). Ejemplos: impuestos, ingresos replicar un modelo que ha funcionado en otra ciudad. Los SBC municipales, tarifas de usuarios y patrocinio. son un elemento de la infraestructura de transporte general de una ciudad, como carreteras, autobuses, metros, ciclovías, aceras, etc. Su implementación debe basarse en el contexto de una ciudad, lo que incluye: (a) las leyes y regulaciones El financiamiento y las fuentes de financiación para un aplicables con respecto a la planificación y operación de un SBC dependerán de la estructura operativa que elija la SBC; (b) su integración con las redes de transporte público, ciudad. -
Bicicletas Compartilhadas
ITDP Brasil Financiamento e administração de sistemas públicos de bicicletas compartilhadas Janeiro 2018 1 ITDP Brasil Direção executiva Ficha Técnica - “Financiamento e administração de sistemas públicos de bicicletas compartilhadas” Clarisse Cunha Linke Janeiro 2018 - versão 1.0 Coordenação técnica Equipe de programas Thiago Benicchio Ana Nassar Bernardo Serra Equipe técnica Beatriz Gomes Rodrigues Clarisse Cunha Linke Danielle Hoppe Iuri Moura Diego Mateus da Silva João Pedro Rocha Gabriel Tenenbaum de Oliveira Letícia Bortolon Iuri Moura João Pedro Rocha Revisão final Letícia Bortolon Rafaela Marques Rafael Gustavo S. Siqueira Thiago Benicchio Diagramação e arte final Equipe de comunicação Caio Carneiro Ananda Cantarino Imagens Fábio Nazareth ITDP Brasil Pedro Bürger Rafaela Marques Equipe administrativa financeira Célia Regina Alves de Souza Roselene Paulino Vieira Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil Creati- ve Commons. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0/br/ ou mande uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Moun- tain View, CA 94042, USA. 2 Sobre o ITDP Fundado em 1985, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimen- to (ITDP, da sigla em inglês para Institute for Transportation and Develop- ment Policy) é uma entidade sem fins lucrativos que promove o transporte sustentável e equitativo no mundo, concentrando esforços para reduzir as emissões de carbono, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e a desi- gualdade social. Com sede na cidade de New York (EUA) e escritórios em Washigton D.C. (EUA), Brasil, Quênia, China, Índia, Indonésia e México, o ITDP possui uma equipe multidisciplinar de mais de 80 profissionais especialistas em plane- jamento urbano, transportes e políticas públicas, atuando de acordo com os 8 princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS, em tradução livre do termo original em inglês Transit-Oriented De- velopment). -

Plataformas Digitais De Mobilidade Urbana: Tipos E Modos De Atuação Types of Digital Platforms for Urban Mobility
https://doi.org/10.11606/gtp.v15i3.166299 PLATAFORMAS DIGITAIS DE MOBILIDADE URBANA: TIPOS E MODOS DE ATUAÇÃO TYPES OF DIGITAL PLATFORMS FOR URBAN MOBILITY Luísa da Cunha Teixeira1, Rodrigo Cury Paraizo1 RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o uso de plataformas digitais na mobilidade urbana. Descreve exemplos de aplicativos e plataformas agrupadas de acordo com a função que exercem sobre a mobilidade, 1 ou seja, como elas influenciam os deslocamentos no espaço urbano. Foram catalogadas 25 plataformas em Universidade Federal do quatro categorias principais: orientação de mobilidade, transporte sob demanda, compartilhamento de Rio de Janeiro - UFRJ veículos e compartilhamento de viagens. O uso da tecnologia digital revela algumas potencialidades e limitações de arranjos, usos e apropriações que merecem ser analisados com o intuito de compreender as possibilidades de ação para enfrentar os desafios que se colocam para a mobilidade urbana. PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade Urbana, Plataformas Digitais, Aplicativos Móveis. ABSTRACT: This work aims to analyze the use of digital platforms in urban mobility. It describes examples of applications Fonte de Financiamento: and platforms grouped by their function, as the way they assist physical displacements in the urban Conselho Nacional de environment. 25 platforms were catalogued in four main categories: mobility orientation, on-demand Desenvolvimento Científico e transport, vehicle sharing and ride-sharing. The use of digital technologies reveals some potentialities and Tecnológico - CNPq limitations of arrangements, uses and appropriations that deserve to be analyzed in order to understand the possibilities of action facing the challenges posed for urban mobility. Conflito de Interesse: Declara não haver. KEYWORDS: Urban Mobility, Digital Platforms, Mobile Applications. -
Análisis Descriptivo De Los Sistemas Públicos De Bicicletas En La Ciudad De Lima”
“Análisis Descriptivo de los Sistemas Públicos de Bicicletas en la Ciudad de Lima” Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de Maestro en Dirección de Tecnologías de Información Por: Fanny Rosario Avila Rojas Yonel Luis Huamán Montero Fabio Luis Ángel Livia Cavalié Milton David Malca Capcha Programa de la Maestría en Dirección de Tecnologías de Información 2017-I Lima, 27 de junio de 2019 i Esta tesis “Análisis Descriptivo de los Sistemas Públicos de Bicicletas en la Ciudad de Lima” Ha sido aprobada. …………………..…………..……………….. José Antonio Robles Flores (Jurado) …………………..…………..……………….. Raúl González Punzana (Jurado) …………………..…………..……………….. Lydia Aurora Arbaiza Fermini, Ph.D (Asesor) Universidad ESAN 2019 ii A Dios por su inmenso amor y protección. A mis padres Maximino y Cristina por sus consejos y enseñanzas, siempre viven en mi corazón. A mis hijas Stephanie, Diana y Majo quienes son mi motor para seguir adelante. Meta cumplida. Fanny Rosario Avila Rojas A Dios que guía siempre mis pasos. A mis padres: Yolanda y Luis que me inculcaron la perseverancia en alcanzar mis metas. A mis hermanos: Aldo y Yarit que siempre me apoyan en mis decisiones. A mis hijos: Paola, Ivanna y Liam que son la motivación en todo lo que hago. Yonel Luis Huamán Montero A Gisela por su continuo apoyo en todos mis proyectos y a Mercedes y Eduardo, mis queridos padres, por transmitirme el anhelo de siempre querer ser mejor. Fabio Luis Ángel Livia Cavalié A mis padres Salvador y Santosa por su constante apoyo y amor incondicional, a mis hermanos, sobrinos, tía y primos por acompañarme siempre; especialmente a mi hermana Janett que desde el cielo ilumina nuestra existencia. -

Vélos En Libre-Service Avec Station : De L’Étude De Faisabilité Du Service À Sa Mise En Œuvre
Vélos en libre-service avec station : de l’étude de faisabilité du service à sa mise en œuvre Collection | Connaissances 4 Connaître la mobilité touristique Vélos en libre-service avec station : de l’étude de faisabilité du service à sa mise en œuvre Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Cerema Territoires et ville 2 rue Antoine Charial - CS 33297 - 69426 Lyon Cedex 03 www.cerema.fr 2 Vélos en libre-service avec station Collection « Connaissances » Cette collection présente l’état des connaissances à un moment donné et délivre de l’information sur un sujet, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Elle offre une mise à jour des savoirs et pratiques professionnels incluant de nouvelles approches techniques ou méthodologiques. Elle s’adresse à des professionnels souhaitant maintenir et approfondir leurs connaissances sur des domaines techniques en évolution constante. Les éléments présentés peuvent être considérés comme des préconisations, sans avoir le statut de références validées. Remerciements De nombreux services de Vélos en Libre-Service existent en France aujourd’hui. Pourtant, il n’existait pas d’outil en français destiné à éclairer les collectivités sur les décisions de mises en œuvre de tels services. L’Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) a édité un ouvrage en ce sens en 2013 (The Bikeshare Planning Guide) qui a servi de base au travail de ce guide. Les contributeurs souhaitent donc particulièrement remercier l’ITDP. Cet ouvrage est une œuvre collective du Cerema produite avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire. -
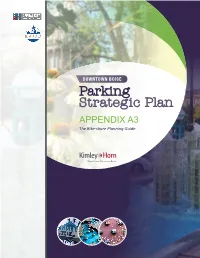
ITDP the Bike-Share Planning Guide
DOWNTOWN BOISE Parking Strategic Plan APPENDIX A3 The Bike-share Planning Guide THE BIKE- SHARE PLANNING GUIDE Introduction Sub 1 Introduction Sub 2 THE BIKE- SHARE PLANNING GUIDE Introduction Sub 3 The Bike-share Planning Guide Cover Photo: Mexico City's Ecobici has helped to increase cycling mode share in Mexico City. Cover Photo By: Udayalaksmanakartiyasa Halim 9 East 19th Street, 7th Floor, New York, NY, 10003 tel +1 212 629 8001 www.itdp.org Introduction Sub 4 Authors and Acknowledgements The writing of this report was a collaborative effort across ITDP and our partners. Contributing authors include: Aimee Gauthier, Colin Hughes, Christopher Kost, Shanshan Li, Clarisse Linke, Stephanie Lotshaw, Jacob Mason, Carlosfelipe Pardo, Clara Rasore, Bradley Schroeder, and Xavier Treviño. The authors would also like to thank Christopher Van Eyken, Jemilah Magnusson, and Gabriel Lewenstein for their support in the creation of the guide. ITDP is especially grateful to the following people for providing comments on and contributions to sections of this report: Alison Cohen, Director of Bike Share Services, Toole Design Group (with many thanks to Shomik Mehndiratta and the World Bank for their support of Ms. Cohen’s research) Dani Simons, Director of Marketing, NYC Bike Share Matteo Martignoni, International Human Powered Vehicle Association and former ITDP board member Jeff Olson, Alta Planning and Design Chris Holben, former Project Manager for Capital Bikeshare District Department of Transportation. Introduction Sub 5 Contents 1 INTRODUCTION -

Pedro Pimentel De Vassimon Performance Evaluation
PEDRO PIMENTEL DE VASSIMON PERFORMANCE EVALUATION FOR BIKE-SHARING SYSTEMS: A BENCHMARKING AMONG 50 CITIES Trabalho de Formatura apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do Diploma de Engenheiro de Produção. São Paulo 2015 PEDRO PIMENTEL DE VASSIMON PERFORMANCE EVALUATION FOR BIKE-SHARING SYSTEMS: A BENCHMARKING AMONG 50 CITIES Trabalho de Formatura apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do Diploma de Engenheiro de Produção. Orientador: Prof. Dr. Roberto Marx São Paulo 2015 FICHA CATALOGRÁFICA Vassimon, Pedro Pimentel de Performance Evaluation for Bike- Sharing Systems: a Benchmarking among 50 Cities / P.P. Vassimon -- São Paulo, 2015. 141p. Trabalho de Formatura - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Produção. 1.Bike sharing 2.Performance indicators 3.Business models 4.Database I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Produção II.t. Para Vitor, Eduardo e Mônica. ACKNOWLEDGEMENTS This work was developed as part of the double degree exchange programme between Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) in Brazil and Politecnico di Torino in Italy. I wish to thank all those who took part in this project and assisted me during the development of this work. I thank all my family and friends who supported me, especially my parents Eduardo and Mônica, who always provided me with the best conditions to pursue and achieve my objectives, and Renata, who was always there for me. I also thank Cris and Osni who always gave me their support and best advice. Many thanks to Luciana Nicola, Bruna Fanchini, Simone Gallo and Maira Machado from Banco Itaú, who spent their valuable time gathering and providing information on Bike Sampa and all the other bike-sharing systems in Brazil managed by the bank.