O Caso Da Siderurgia (Brasil E Estados Unidos) B
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sitcom Fjernsyn Programmer Liste : Stem P㥠Dine
Sitcom Fjernsyn Programmer Liste Chespirito https://no.listvote.com/lists/tv/programs/chespirito-56905/actors Lab Rats: Elite Force https://no.listvote.com/lists/tv/programs/lab-rats%3A-elite-force-20899708/actors Jake & Blake https://no.listvote.com/lists/tv/programs/jake-%26-blake-739198/actors Bibin svijet https://no.listvote.com/lists/tv/programs/bibin-svijet-1249122/actors Fred's Head https://no.listvote.com/lists/tv/programs/fred%27s-head-2905820/actors Blackadder Goes Forth https://no.listvote.com/lists/tv/programs/blackadder-goes-forth-2740751/actors Brian O'Brian https://no.listvote.com/lists/tv/programs/brian-o%27brian-849637/actors Hello Franceska https://no.listvote.com/lists/tv/programs/hello-franceska-12964579/actors Malibu Country https://no.listvote.com/lists/tv/programs/malibu-country-210665/actors Maksim Papernik https://no.listvote.com/lists/tv/programs/maksim-papernik-4344650/actors Chickens https://no.listvote.com/lists/tv/programs/chickens-16957467/actors Toda Max https://no.listvote.com/lists/tv/programs/toda-max-7812112/actors Cover Girl https://no.listvote.com/lists/tv/programs/cover-girl-3001834/actors Papá soltero https://no.listvote.com/lists/tv/programs/pap%C3%A1-soltero-6060301/actors Break Time Masti Time https://no.listvote.com/lists/tv/programs/break-time-masti-time-3644055/actors Mi querido Klikowsky https://no.listvote.com/lists/tv/programs/mi-querido-klikowsky-5401614/actors Xin Hun Gong Yu https://no.listvote.com/lists/tv/programs/xin-hun-gong-yu-20687936/actors Cuando toca la campana https://no.listvote.com/lists/tv/programs/cuando-toca-la-campana-2005409/actors -

Cover 3 1.Indd
Interface A journal for and about social movements VOL 3 ISSUE 1: REPRESSION & MOVEMENTS Interface: a journal for and about social movements Contents Volume 3 (1): i - iv (May 2011) Interface volume 3 issue 1 Repression and social movements Interface: a journal for and about social movements Volume 3 issue 1 (May 2011) ISSN 2009 – 2431 Table of contents (pp. i – iv) Editorial Cristina Flesher Fominaya and Lesley Wood, Repression and social movements (pp. 1 – 11) Articles: repression and social movements Peter Ullrich and Gina Rosa Wollinger, A surveillance studies perspective on protest policing: the case of video surveillance of demonstrations in Germany (P) (pp. 12- 38) Liz Thompson and Ben Rosenzweig, Public policy is class war pursued by other means: struggle and restructuring as international education economy (P) (pp. 39 - 80) Kristian Williams, The other side of the COIN: counter-insurgency and community policing (P) (pp. 81 - 117) Fernanda Maria Vieira and J. Flávio Ferreira, “Não somos chilenos, somos mapuches!”: as vozes do passado no presente da luta mapuche por seu território (P) (pp. 118 - 144) Roy Krøvel, From indios to indígenas: Guerrilla perspectives on indigenous peoples and repression in Mexico, Guatemala and Nicaragua (P) (pp. 145 – 171) i Interface: a journal for and about social movements Contents Volume 3 (1): i - iv (May 2011) Action / practice notes and event analysis Musab Younis, British tuition fee protest, November 9, 2010, London (event analysis, pp. 172 - 181) Dino Jimbi, Campanha “Não partam a minha casa” (action note, pp. 182 - 184) Mac Scott, G20 mobilizing in Toronto and community organizing: opportunities created and lessons learned (action note, pp. -
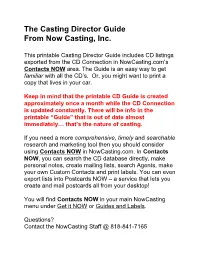
The Casting Director Guide from Now Casting, Inc
The Casting Director Guide From Now Casting, Inc. This printable Casting Director Guide includes CD listings exported from the CD Connection in NowCasting.com’s Contacts NOW area. The Guide is an easy way to get familiar with all the CD’s. Or, you might want to print a copy that lives in your car. Keep in mind that the printable CD Guide is created approximately once a month while the CD Connection is updated constantly. There will be info in the printable “Guide” that is out of date almost immediately… that’s the nature of casting. If you need a more comprehensive, timely and searchable research and marketing tool then you should consider using Contacts NOW in NowCasting.com. In Contacts NOW, you can search the CD database directly, make personal notes, create mailing lists, search Agents, make your own Custom Contacts and print labels. You can even export lists into Postcards NOW – a service that lets you create and mail postcards all from your desktop! You will find Contacts NOW in your main NowCasting menu under Get it NOW or Guides and Labels. Questions? Contact the NowCasting Staff @ 818-841-7165 Now Casting.com We’re Back! Many post hiatus updates! October ‘09 $13.00 Casting Director Guide Run BY Actors FOR Actors More UP- TO-THE-MINUTE information than ANY OTHER GUIDE Compare to the others with over 100 pages of information Got Casting Notices? We do! www.nowcasting.com WHY BUY THIS BOOK? Okay, there are other books on the market, so why should you buy this one? Simple. -

Film 150: Screenwriting
PROVISIONAL SYLLABUS: Subject to Change – Film 150: Screenwriting Film 150 Screenwriting (M & F 1 - 5 pm) Natasha V. Summer Session 1: June 26 - July 28 [email protected] Class Location: Rm 141, Soc Sci 2 Office Hours: M/F noon - 1 b4 class Office Location: TBA And by appt (email request) This is an introductory course in which students learn some basic principles of screenwriting, in the context of a Sketch Comedy Workshop class. Emphasis this Summer is on Sketch Comedy Writing, and how Sketch differs from other types of comedy (Stand Up, Sitcoms, Comedic Feature Films, & Improv vs. Written Skits.) Telling jokes is how we critique and understand the world, ourselves, and other people. Having a funny idea, and wanting to share it, is a deeply human impulse. Your job, as screenwriters, is to learn to write your sketches in the funniest, most effective way possible for an audience. You want to move people to laughter so they can understand something new and unique about life. The main activity of this class is writing——you’ll write at least TEN short comedy sketches, ½ - 4 pages in length each. (“Brevity is the soul of wit” – W. Shakespeare.) We will be primarily concerned with STRUCTURE, CHARACTER, and HUMOR, as key components in sketch writing. We will analyze television sketch shows and your own scripts in terms of their structure, characters, and comedic effectiveness. Becoming a better writer is a journey, and we all learn by attempting things and growing beyond our limitations. We learn by WRITING, first and foremost. I will expect you to write MORE sketches than those you decide to present in class, and I expect you to revise your writing both before and after you present in class. -
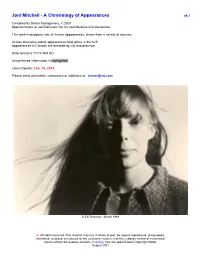
Joni Mitchell - a Chronology of Appearances V4.7
Joni Mitchell - A Chronology of Appearances v4.7 Compiled by Simon Montgomery, © 2001 Special thanks to Joel Bernstein for his contributions and assistance. This work-in-progress lists all known appearances, drawn from a variety of sources. Unless otherwise noted, appearances took place in the U.S. Appearances in Canada are denoted by city and province. Date format is YYYY.MM.DD Unconfirmed information is highlighted. Latest Update: Feb. 16, 2018 Please send comments, corrections or additions to: [email protected] © Ed Thrasher - March 1968 © All rights reserved. This material may not, in whole or part, be copied, reproduced, photocopied, translated, recorded, or reduced to any electronic medium, machine readable format or mechanical means without the express consent, in writing, from the specific lawful copyright holder. August 2001 1962 1962 Waskesiu Lake Waskesiu, SK According to Joni, “I started making music…in Saskatchewan mostly up at northern lakes, up around Lake Waskesiu … it was just self-entertainment with the gang then.” 1962.10.31 The Louis Riel Saskatoon, SK Joni’s first paid performance 1962.11.05 The Louis Riel Saskatoon, SK 1962.11.14 The Louis Riel Saskatoon, SK _____________________________________________________________________________ 1963 1963 The Louis Riel Saskatoon, SK Joni participated in weekly “Hoot Nights” playing her ukulele. 1963.08 For Men Only–CKBI-TV Prince Albert, SK Nineteen-year-old Joni Anderson was booked as a one-time replacement for a late-night moose-hunting show. During the program Joni was interviewed and performed several songs accompanying herself on baritone ukulele. 1963.09.13 The Depression! Calgary, AB According to Joni, she performed at The Depression! over a period of three and a half months, including the Sept. -

CEO Sociability: Path Towards Brand Equity and Brand Relationship
CEO Sociability: path towards Brand Equity and Brand Relationship Pedro Miguel Lopes Rondão Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master in Marketing Supervisor: Prof. Daniela Langaro da Silva do Souto, ISCTE Business School, Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral October 2019 CEO Sociability: Path towards Brand Equity and Brand Relationship Pedro Miguel Lopes Rondão Lopes Pedro Miguel RELATIONSHIP AND BRAND EQUITY BRAND TOWARDS PATH SOCIABILITY: CEO CEO Sociability: Path towards Brand Equity and Brand Relationship Acknowledgements Although being an individual work, teamwork prevails in the motivation that is necessary to make a document of this kind. This chapter serves to thank all those who helped on this long journey that this Master’s thesis became. First of all, I would like to pay my gratitude to my thesis supervisor – Daniela Langaro – that always showed great flexibility and support, answering all doubts that arose throughout this research endeavour. Beyond her well credited know-how around marketing and communications, she gave valuable inputs that helped me tackle such an embryonic topic, seen as initially demanding and challenging due to the limited number of research materials that had been treated in the past, while being capable of covering some key dimensions used for this research. Having done this thesis while working, I would like to say a word to Vodafone and Samsung, and the teams I worked and work with. In addition to showing great understanding for me and the tricky situation I was under with both academic and professional concerns to cover and milestones to be completed, they were always available to give me all the necessary help in successfully completing this ‘life chapter’. -

Things I've Learned from Women Who've Dumped Me
The events described in this book are true, but the names and other identifying characteristics of some of the people have been changed to protect their privacy. Compilation copyright © 2008 by Ben Karlin Introduction copyright © 2008 by Ben Karlin Graphic for “Nine Years Is the Exact Right Amount of Time to Be in a Bad Relationship” by Andro Buneta. “The Heart Is a Choking Hazard” copyright 2008 by Stephen Colbert. “Strange Gifts Can Scare” copyright 2008 by Marcel Dzama. “Beware of Math Tutors Who Ride Motorcycles” copyright 2008 by Will Forte. “She Wasn’t the One” by Bruce Jay Friedman was originally published as “Kneesocks” in Hampton Shorts magazine. Hampton Shorts, Inc. Volume 1, number 1. Summer 1996 © Bruce Jay Friedman. “Being Awkward Can Be a Prophylactic Against Dry Humping” copyright 2008 by Matt Goodman. “Always Make Her Feel Like She’s #1” copyright 2008 by Alex Gregory. “Technology Can Be Friend and Foe” copyright 2008 by Alex Gregory. “Lessons of a Cyclical Heart” copyright 2008 by Marcellus Hall. “Things More Majestic and Terrible Than You Could Ever Imagine” copyright 2008 by Todd Hanson. “Dirty Girls Make Bad Friends” copyright 2008 by A. J. Jacobs. “You Too Will Get Crushed” copyright 2008 by Ben Karlin. “Sometimes You Find a Lost Love, Sometimes You Don’t” copyright 2008 by Bob Kerrey. “A Dog Is No Reason to Stay Together” copyright 2008 by Damian Kulash, Jr. “Notes Towards a Unified Theory of Dumping” copyright 2008 by Sam Lipsyte. “It Wasn’t Me, It Was Her” copyright 2008 by Rick Marin. “Don’t Leave Too Much Room for the Holy Spirit” copyright 2008 by Tom McCarthy. -

Download Backstage LA-Acting-Schools
SPOTLIGHT ON Brad Greenquist, right, with Falk Hentschel and Ava Bogle PHILIPPE STELLA à la Why rehearsal cubes and a card table are no longer the only acting-class aids you’ll need BY MARK DUNDAS WOOD | [email protected] ot so many years ago, acting classes were fairly un- complicated affairs. You needed a spacious, well-lit studio. You would add perhaps a few chairs and tables or movable blocks for scene study work. Top that with a teacher who knew what he or she was about, plus students eager to master the craft, and you were set. In some cases, that model still holds. But many, if not most, acting classes have become decidedly more complex. Continued on page A2— BACKSTAGE.COM | JUNE 17-23, 2010 | SPOTLIGHT ON ACTING SCHOOLS & COACHES | A1 0617 SPOT ASC LA.indd A1 6/14/10 5:58 PM SPOTLIGHT ON Greenquist and Jul Koehler PHILIPPE STELLA —continued from page A1 Consider the catalogue of equipment that Los Angeles acting teacher Brad Greenquist (www.bradgreenquist.com) uses in his acting-for-the-camera classes. “I have a Panasonic DVX100A camera that I shoot with, usually on a tripod but sometimes hand- held or with a dolly,” he reports. “I have a boom and a boom pole and a Røde mike, and also an Audio-Technica lavaliere system with a portable receiver-mixer, which allows me to use two lavs to pick up clean audio from two actors and/or for my instruction or commentary. I also have a basic Lowel light kit—three lights; a C-stand for backlight; and a few small specials that I employ from time to time, the latest being an on-camera Obie for quick, simple front light. -

Long Bridge Over Deep Waters, the Culminating Bridge Show of Our Four-And-A-Half-Year Faith-Based Cycle
WELCOME FROM BILL RAUCH, ARTISTIC DIRECTOR OF CORNERSTONE THEATER COMPANY It's my great privilege to welcome you tonight to A Long Bridge Over Deep Waters, the culminating Bridge Show of our four-and-a-half-year Faith-Based Cycle. In January of 2001 we began with a central question: How does faith unite and divide us? Faith affiliation is often invisible to those around us. The monologues, scenes, testimonials, prayers, defiances and embraces that have followed, through a 21-play festival of short plays and seven full-length collaborations with different communities of faith, have brought home to me in a new way the unifying power and painful divisiveness of faith, its ability to bring us together and to drive us apart. Faith can put center stage our power to hurt one another, as well as our power to work together and to celebrate the beauty of every individual human life. Through his three-year odyssey of writing A Long Bridge Over Deep Waters, James Still has wrestled with how to help voice the play's communities, and he has done it with an integrity and courage that move and inspire me. In pursuing our mission of inclusion, we at Cornerstone often talk about making ourselves vulnerable, getting outside of ourselves to practice deep listening, and engaging in our work as a labor of love. James has taught me new depths of meaning behind these clichés. Cornerstone is always a collective effort. I am especially proud to have worked on this show alongside my brilliant Ensemble colleagues, our guest artists and our dedicated community collaborators. -

Equaker a High Sc.Hoof Tradition for 89 Years
eQuaker A High Sc.hoof Tradition for 89 years. Volume 89, Number 1 Salem Senior High School - September 2001 Homecoming 2001 Lauren Adamson Lauren is the daughter of Dan and Cathy Adamson. Her school activi ties include TACT, Interact, Latin Club, volleyball and track (freshman/ sophomore) and Who's Who Among American High School Students. Her future plans are to be accepted into the Northeastern Ohio Universi ties College of Medicine's combined BS/MD program. Her escort is Matt Kovach, son of Carl and Diane Kovach. Brooke Banning Brooke is the daughter of Dr. Richard! and Mrs. Karen Banning. Her school activities include cross-country, track, TACT, National Honor Society, AFS, Student Council, Interact, chamber choir and concert choir. Her future plans are to attend Ohio University and major in business. Her escort is Drew Palmer, son of Charles and Debra Palmer. Alexandra Conrad Alexandra is the daughter of David and Ruthann Conrad. Her school activities includeTACT, AFS and Interact. Her future plans are to at tend Xavier University and major in business. Her escort is Matt Ciotti, son of Janis Dubravetz and Jirn Ciotti. Stacey Lynn Hrvatin Stacey is the daughter of Ron and Carol Hrvatin. Her school activities include Student Council, National Honor Society, chamber choir, Project Support, TACT, Interact, and varsity cheerleading. Her future plans are to attend Ohio Northern University and major in biology and history. Her escort is Colin Rank, son of Diane and Ron James and Gary Rank. Amanda Marie Jesko Amanda is the daughter of Tom and Berni Jesko. Her school activities include Student Council, Yearbook (co-editor), TACT, Project Support, Interact, school musical, Spanish Club, soccer (captain), and basketball. -

Columbia Chronicle (09/24/2001) Columbia College Chicago
Columbia College Chicago Digital Commons @ Columbia College Chicago Columbia Chronicle College Publications 9-24-2001 Columbia Chronicle (09/24/2001) Columbia College Chicago Follow this and additional works at: http://digitalcommons.colum.edu/cadc_chronicle Part of the Journalism Studies Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Columbia College Chicago, "Columbia Chronicle (09/24/2001)" (September 24, 2001). Columbia Chronicle, College Publications, College Archives & Special Collections, Columbia College Chicago. http://digitalcommons.colum.edu/cadc_chronicle/517 This Book is brought to you for free and open access by the College Publications at Digital Commons @ Columbia College Chicago. It has been accepted for inclusion in Columbia Chronicle by an authorized administrator of Digital Commons @ Columbia College Chicago. Sports Nation reacts to 2001 Fall movie SporRJiC6:1VED tragedy SE? 2 G 2001 Pages 10 and 11 15 Back Page COLUMBIA Columbia responds to terrorist attaCKS LIBRARY 0 College takes action These efforts are being organized through the Institutional Advancement Office. during tragic times Paul Chiaravalle. the college's newly appointed chief of staff. said Columbia simply wanted be involved in the massive By Ryan Adair relief effort taking place across the coun Executive Editor try. ··we really fe lt that we needed to do There's no question the recent tragedy something." he said . that has crippled New York City and The college is also planning two sepa Washington. D. C .. has indeed affected rate blood drives in association with the the nation as a whole. The repercus. ions American Red Cross for faculty. -

Rafael Wendel Nascimento De Melo Do Digital Ao Impresso
Rafael Wendel nascimento de melo Do Digital ao impresso: experimentações gráficas com conteúDo Da internet Brasília – DF 2016 Rafael Wendel nascimento de melo Do Digital ao impresso: experimentações gráficas com conteúDo Da internet trabalho de conclusão de curso apresentado junto ao curso de graduação de desenho industrial da Universidade de Brasília, orientado pelo Professor Evandro renato Peroto, como requisito parcial para obtenção do ttulo de Bacharel em design, na habilitação de Programação Visual. Brasília – DF 2016 resUmo o presente projeto foi desenvolvido como trabalho de conclusão de curso de graduação de design da Universidade de Brasília, na habilitação de Programação Visual. Visou-se apresentar o desenvolvimento do projeto de um livro impresso, onde são exploradas as possibilidades ofere- cidas pelo design editorial impresso. como base para a concepção do projeto, foram realizadas análises teóricas sobre a construção do livro convencional e a leitura não-linear presente nos textos digitais. numa segunda etapa, ocorreu o desenvolvimento do projeto, em que o conteúdo de um artgo da enciclopédia online Wikipédia, “Timeline of LGBT History” (linha do tempo da História lGBt, em português), foi adaptado para o formato de livro impresso. palavras chave: Design Editorial, Design Gráfco, História lGBT. sUmário 1. INTRODUÇÃO – 8 1.1. conTExTualização – 8 1.2. jusTiFicaTiva – 9 1.3. oBjETivos – 10 1.3.1 objetvo geral – 10 1.3.2. objetvos específcos – 11 2. MeTODOlOgIa PROjeTUal – 12 3. ReFeReNCIal TeÓRICO – 14 3.1. o livro – 14 3.1.1. História – 14 3.1.2. o futuro do livro – 17 3.1.3. o papel do designer – 18 3.1.4.