Tese Final 15 De Junho
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Coca-Cola La Historia Negra De Las Aguas Negras
Coca-Cola La historia negra de las aguas negras Gustavo Castro Soto CIEPAC COCA-COLA LA HISTORIA NEGRA DE LAS AGUAS NEGRAS (Primera Parte) La Compañía Coca-Cola y algunos de sus directivos, desde tiempo atrás, han sido acusados de estar involucrados en evasión de impuestos, fraudes, asesinatos, torturas, amenazas y chantajes a trabajadores, sindicalistas, gobiernos y empresas. Se les ha acusado también de aliarse incluso con ejércitos y grupos paramilitares en Sudamérica. Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos a nivel mundial han seguido de cerca estos casos. Desde hace más de 100 años la Compañía Coca-Cola incide sobre la realidad de los campesinos e indígenas cañeros ya sea comprando o dejando de comprar azúcar de caña con el fin de sustituir el dulce por alta fructuosa proveniente del maíz transgénico de los Estados Unidos. Sí, los refrescos de la marca Coca-Cola son transgénicos así como cualquier industria que usa alta fructuosa. ¿Se ha fijado usted en los ingredientes que se especifican en los empaques de los productos industrializados? La Coca-Cola también ha incidido en la vida de los productores de coca; es responsable también de la falta de agua en algunos lugares o de los cambios en las políticas públicas para privatizar el vital líquido o quedarse con los mantos freáticos. Incide en la economía de muchos países; en la industria del vidrio y del plástico y en otros componentes de su fórmula. Además de la economía y la política, ha incidido directamente en trastocar las culturas, desde Chamula en Chiapas hasta Japón o China, pasando por Rusia. -

This Opinion Is a Precedent of the TTAB the Coca-Cola Company V
This Opinion Is a Precedent of the TTAB Mailed: June 28, 2021 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE _____ Trademark Trial and Appeal Board _____ The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise, Inc. _____ Cancellation Nos. 92063353 & 92064398 Holly Hawkins Saporito, Lauren R. Timmons, and Marcos Alvarez of Alston & Bird LLP for The Coca-Cola Company. John M. Rannells of Baker and Rannells, PA for Meenaxi Enterprise, Inc. _____ Before Taylor, Lynch, and Larkin Administrative Trademark Judges. Opinion by Lynch, Administrative Trademark Judge: I. Background Petitioner The Coca-Cola Company seeks to cancel the following two registrations owned by Respondent Meenaxi Enterprise, Inc.:1 1 These cancellation proceedings began as a single proceeding involving two registrations. The Board subsequently granted the parties’ motion to divide, resulting in two separate proceedings. 12 TTABVUE. However, the Board later noted that the parties filed “nearly Cancellation Nos. 92063353 & 92064398 THUMS UP in standard characters2 for: Colas; Concentrates, syrups or powders used in the preparation of soft drinks; Soft drinks, namely, sodas in International Class 32. LIMCA in standard characters3 for: Concentrates, syrups or powders used in the preparation of soft drinks; Soft drinks, namely, sodas in International Class 32. While the Petition to Cancel included numerous grounds for cancellation, the only one Petitioner pursued at trial is that Respondent has misrepresented the source of the goods on which the marks are used, under Trademark Act Section 14(3), 15 U.S.C. § 1064(3).4 The other pleaded claims that Petitioner did not address in its briefing are waived. Joel Gott Wines LLC v. -
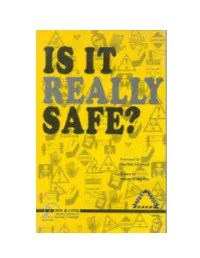
Is It Really Safe? Is It Really Safe? Caveat Emptor - II This Book Is the Second in the Series of Publications Under the Serial Title Caveat Emptor
Is It Really Safe? Is It Really Safe? Caveat Emptor - II This book is the second in the series of publications under the serial title Caveat Emptor. The first one was: ‘How To Survive As A Consumer’. Published by: Consumer Unity & Trust Society D-217, Bhaskar Marg, Bani park Jaipur 302016, India Email: [email protected] Website: www.cuts-international.org CUTS Calcutta Resource Centre 3, Suren Tagore Road Calcutta 700 019, India Ph: +91.33.24601424 Fx: +91.33.24407669 Email: [email protected] Written by: Soumi Home Roy Printed by: Jaipur Printers P. Ltd. Jaipur 302 001 ISBN: 81-8257-022-0 © CUTS, 2004 #0406 SUGGESTED CONTRIBUTION Rs.100/US$15 CUTS – Safety Watch Established in 1983, Consumer Unity & Trust Society (CUTS) is an active social action research and advocacy group based in Jaipur, India and recognised internationally. CUTS works at the grassroots, national, regional and international levels on diverse public interest issues by pursuing social justice and economic equality within and across borders, with value for people as its underlying theme. CUTS’ Centres are located at Jaipur (head office), New Delhi, Chittorgarh and Calcutta in India, and at Lusaka in Zambia, Nairobi in Kenya, and London in the UK. CUTS’ work is divided into five operational areas: • consumer protection, which includes accountability, regulatory reforms, etc.; • trade and development; • competition, investment and regulatory policies; • sustainable production and consumption, including consumer safety; and • rural consumers and women’s empowerment. CUTS works with several national, regional and international organisations, such as Consumers International, London, UK; Consumer Choice Council, Washington DC, USA; Central Consumer Protection Council, Ministry of Consumer Affairs, Government of India; National Codex Committee, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India; Consumer Co-ordination Council of India, etc. -

Joy Chakraborthy Rajat Sharma Media Agencies, That Were Being
June 16-30, 2011 Volume 2, Issue 12 `100 28 Media agencies, that were being battered by dwindling commission incomes, are playing the field smartly with non-traditional verticals. 38 8 42 32 PLUS TYROO MEDIA Re-targeting 20 THE INQUILAB Spreading its Wings 24 AMAR UJALA PROFILE ULYSSE NARDIN DEFINING MOMENTS Then and Now 30 Joy Chakraborthy Clocking Time Rajat Sharma NAMASTHE TELENGANA This man is confidence The Swiss watchmaker India TV’s head honcho has personified. lands in Bengaluru airport. a host of memories. New Approach 30 8iuissis Vvivssi@sqqiDsirwsirs@sqqiDsir GiiiyisqrsirAuwvriwvivisswi wqsiswsirsvwwvsETUS$Qisiuswssirsvwvi up"$(sETUS!" !!Qsvisirsww @sqqiDsirsswu EsuiwusrwiAuiuwu9s Sudip Nag, GM (Advertisement) - 96861 88840. Vijaya R - 98440 92091, Tony Doulton - 98450 67371, Anantha Krishnan - 81477 52856 Deepak Menon - 98106 65814 Prabal Deb - 98303 75315 A V Vinod Babu - 99520 16709 Ramachandra Rao - 98490 41737 Rajeev Pathria - 98201 51642. ! [email protected] rsqqivsirq rsqqivsirsisq EDITORIAL This fortnight... Volume 2, Issue 12 EDITOR n advertising agency is 85 per cent confusion and 15 per cent commission,” remarked a Sreekant Khandekar Afamous US comedian during the early ’50s. PUBLISHER Jokes apart, it was the 15 per cent model that sustained many advertising agencies (then Prasanna Singh CONSULTING EDITOR called full-service ad agencies) for decades. This continued even as the media departments of M Venkatesh these agencies were spun off into separate, specialist media buying agencies that CONTRIBUTING EDITOR bought and managed media for their clients. Prajjal Saha As these media agencies grew in size, so did their clout. The commission SENIOR LAYOUT ARTIST Vinay Dominic June 16-30, 2011 Volume 2, Issue 12 `100 model was an arrangement that many thought would go on without a hitch. -

Coca-Cola Company (Herein Known As Coke) Possesses One of the Most Recognized Brands on the Planet
Table of Contents Introduction ....................................................................................................................... 1 Chapter One: Organizational Profile............................................................................... 3 1.1 Operations ................................................................................................................... 3 1.2 Brands.......................................................................................................................... 4 1.3 Bottling Process ......................................................................................................... 6 1.4 Production Facilities................................................................................................... 8 1.5 Coke Executives and their Salaries .......................................................................... 8 1.6 Board of Directors ...................................................................................................... 9 1.7 Public Relations ........................................................................................................ 10 1.8 University Links ........................................................................................................ 11 Chapter Two: Economic Profile..................................................................................... 14 2.1 Financial Data............................................................................................................ 14 2.2 Joint Ventures -

Health Talk Newsletter
BEST www.sarvodayahospital.com /Sarvodayafaridabad /Sarvodaya_Care /sarvodaya-hospital-faridabad/ /channel/Sarvodayahospital HOSPITAL IN NORTH INDIA for ORTHOPEDICS & HEALTH TALK JOINT REPLACEMENT TIMES HEALTH SURVEY ALL INDIA HOSPITAL ISSUE: 11 | OCT-DEC, 2019 RANKING 2019 AIDING A BETTER LIFE SUCCESSFUL SURGERY FOR COMPLICATED HEART FAILURE UNIQUE KNEE TRANSPLANT SURGERY CLINIC PERFORMED AT SARVODAYA HOSPITAL SPINE DEFORMATION AT SARVODAYA HOSPITAL FARIDABAD DOCTORS HELPED TO RECREATE A ‘NATURAL CURVE’ IN A DEFORMED SPINE FOR THE FIRST TIME IN THE WORLD, TWO COMPLICATED PROCEDURES PERFORMED IN A SINGLE SURGERY, SUCCESSFULLY ENABLING THE PATIENT TO WALK THE VERY NEXT DAY Shri Laxman Singh was suffering due to severe knee was replaced in a single operation.” After pain, crookedness of both knees and was unable this operation, the patient was able to stand on to walk properly. The patient visited multiple his feet the very next day. Till date, no patient doctors in Bihar and Delhi hospitals, but was not has been cured this way in the entire world. This convinced with their counselling and potential is the first successful operation of its kind in the results, the patient then consulted Dr. Sujoy world. Bhattacharjee, Director and HOD- Centre for Every Monday The success of such rare operations further Joint Replacement at Sarvodaya Hospital, 3:00 pm to 5:00 pm emphasizes our vision, where we want to provide Faridabad. Symptoms like: Shortness of breath, best treatment to our society at affordable rates Coughing or wheezing especially when Post multiple investigations aided through best and that is why we are making, modern medical lying down or exercising may be in class imaging technology, root cause of the technology and experienced doctors who indications of heart disease. -

Coca-Cola Company
Corporate Responsibility Reporting on the Consumer Perspective Case: Coca-Cola Company Laura Halttunen Jani Inkilä Bachelor’s thesis 5. 12. 2014 Kuopio Bachelor’s degree (UAS) SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES THESIS Abstract Field of Study Social Sciences, Business and Administration Degree Programme Degree Programme in International Business Author(s) Laura Halttunen, Jani Inkilä Title of Thesis Corporate Responsibility Reporting on the Consumer Perspective – Case Coca-Cola Company Date 5.12.2014 Pages/Appendices 98/13 Supervisor(s) Minna Tarvainen, Anneli Juutilainen Client Organization/Partners Abstract Corporate responsibility and utilising the full potential behind it is a powerful tool for any company. Many companies and organizations have made investigations and reports to enable them to reach this full potential. The purpose of the present research was to study the level of consumer awareness towards corporate responsibility through the role of media channels. The objective was to study the scope of corporate responsibility from the consumer perspective and provide an association between theories and practical solutions. A further aim was to explain historical roots and the development of the concept, as well as the ideologies behind it and study customers’ awareness about the phenomenon; one important factor being the media. The theoretical framework is constructed on a literature review consisting of various books, academic and non-academic articles, and online publications. A qualitative interview with 20 participants was used to elicit the consumer viewpoint. Coca-Cola Company’s sustainability and GRI reports and strategies for the 2011-2013 financial years were analysed. The results indicate that the functional utilization of corporate responsibility requires concrete actions rather than a polished veneer. -

CONNECT Celebrating 100 Years of Indian Cinema with Limca Book Of
India and South West Asia CONNECT April-June 2013 Shabana Azmi receiving her citation from Mr. Manish Tiwari, along with Atul Singh and Vijaya Ghose Celebrating 100 years of Indian Cinema with Limca Book of Records Commemorating 24 glorious years of the Limca Book of Records, Coca- Cola India launched the Limca Book of Records 2013 - ‘Cinema Special’ edition at a special event in the capital city of New Delhi. The new edition celebrates 100 glorious years of Indian Cinema and catalogues a special Cinema section acknowledging the extraordinary achievements of 20 Indian cinematic icons as ‘People of the Year’. (Left to right) Prabhu Deva, Dr. K. Viswanath, Shabana Azmi, Vijaya Ghose, Mr. Manish Tiwari, Atul Singh, Santosh Sivan, Jahnu Bharua, Mike Pandey and A. Sreekar Prasad The 24th edition of the record book was launched Shabana Azmi: “I have often thought of what at a special event by Mr. Manish Tewari, Honorable my life would be, if I wasn’t doing cinema. Indian Minister of State, Information & Broadcasting, cinema completing a 100 years is a landmark and Government of India along with Atul Singh, BU I am but a small part of it. Limca Book of Records President and Vijaya Ghose, Editor, Limca Book of has joined in celebrating this achievement and I Records. The People of the Year were felicitated with am thankful to them for giving me this honor. I will a citation and an angavastram (auspicious shawl) cherish it forever.” and the new edition of the Limca Book of Records. The Limca Book of Records was launched in India At the event, popular artist, Vilas Nayak, created in 1990, emphasizes the unique achievements of magic on canvas, by unveiling a 6 feet by 5 feet Indians, celebrating India At Her Best. -

61000 Coca Cola Coverpdf.Qxd (Page 1)
2003 SUMMARY ANNUAL REPORT The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313 www.coca-cola.com Financial Highlights THE COCA-COLA COMPANY 2003 SUMMARY ANNUAL REPORT Percent YEAR ENDED DECEMBER 31, 2003 2002 Change (in millions except per share data, ratios and growth rates) Net operating revenues $ 21,044 $ 19,564 8 % Operating income $ 5,221 $ 5,458 (4)% Net income before cumulative effect of accounting change $ 4,347 $ 3,976 9 % Net income $ 4,347 $ 3,050 43 % Net income per share before cumulative effect of accounting change (basic and diluted) $1.77 $1.6011% ge Communications Net income per share (basic and diluted) $ 1.771 $1.232 44 % Net cash provided by operating activities $ 5,456 $ 4,742 15 % Dividends paid $ (2,166) $ (1,987) 9 % Share repurchase activity $(1,482) $ (707) 110 % Return on capital 24.5% 24.5% Return on common equity 33.6% 34.3% For more information about The Coca-Cola Company, our beliefs and policies, and additional stories about our operations in more than Unit case volume (in billions) 200 countries, please visit us at www.coca-cola.com. International operations 13.7 13.1 5 % An online version of this publication as well as our Annual Report on North America operations 5.7 5.6 2 % Form 10-K can be found at www.summaryannualreport.coca-cola.com. Worldwide 19.4 18.7 4 % 1 2003 basic and diluted net income per share included a net decrease of $0.18 as a result of the following items: a $0.15 per share decrease related to the Company’s streamlining initiatives primarily in North America and Germany; a $0.05 per share noncash decrease related to the consummation of a merger by one of our Company’s equity method investees, Coca-Cola FEMSA, S.A. -
View the Limca Book of Records Rules and Guidelines
LIMCA BOOK OF RECORDS RULES AND GUIDELINES PREAMBLE Limca Book of Records ('LBR’) as a record-keeping publication, has been compiling records since 1987 and has seen over 30 editions. It is India's first and longest continuously published book of records. It is, however, a private book, run and managed by a private organization with no public funding whatsoever. The retail price is also subsidized by the owner Coca-Cola India Private Limited (‘CCIPL’). The LBR also accepts absolutely no funding or payment or any other charges from record applicants or record holders for entries or for processing or for publication acceptance. Consequently, it is important to understand that all decisions are taken by applying a set of standards that are specific and stringent, but equally are subjective, and based on what the editors and staff of LBR and Consultants ('LBR Team') think are most suitable for the book. And that decision is solely LBR’s and not answerable to or affected by any other individual, entity or by what another entity may do or accept. I. INTRODUCTION 1. LBR is a catalogue of achievements made by Indians. It catalogues unique milestones and landmarks including, but not limited to, firsts, bests, mosts, inventions, discoveries, and honours and awards received, by Indians at home or abroad in all fields – both human and natural – that can be qualified in superlatives and that conform to the prevailing editorial policy in force during any year. While this is primarily a catalogue of superlatives and achievements, it is also a book of records, and a work of reference, and therefore in the spirit of empirical record-keeping, will record other milestones that may be negative or not celebratory or laudatory but are notable, such as 'longest trial in a court of law' or records pertaining to disasters or crime. -

23TOIDC COL 01R3.QXD (Page 1)
OID‰‰†‰KOID‰‰†‰OID‰‰†‰MOID‰‰†‰C New Delhi, Friday,May 23, 2003www.timesofindia.com Capital 36 pages* Invitation Price Rs. 1.50 International India Times Sport Sick of litigation, Party’s resistance fails to FC Porto clinch Michael Jackson deter PM from insisting UEFA Cup after is hospitalised on Mamata’s reinduction thrilling final Page 14 Page 12 Page 22 WIN WITH THE TIMES Truck runs Established 1838 Sushma fiat: No condoms, use abstinence Bennett, Coleman & Co., Ltd. over Cong By Kalpana Jain programmes even when she nence and faithfulness had been Calamity is the perfect glass TIMES NEWS NETWORK was information and broadcast- How the Aids virus is passed on so saleable, we would not have wherein we truly see and ing minister. had so many babies. The thing is know ourselves. leader’s New Delhi: Union health minis- Though heterosexual trans- you can’t prioritise. Priorities — William Davenant ter Sushma Swaraj has had her mission is responsible for over are only in the minds of people, way. The ABC of Aids is up for 85 per cent of the infections, 85% 2.7% 2.8% 2.6% 6.9% not in the bedroom.’’ NEWS DIGEST revision: Abstinence and Being henceforth messages will list All states have been instructed brother faithful come upfront, while the this as only one of the modes of Sexual Mother Infected Intravenous Unknown to strike the right balance in the TIMES NEWS NETWORK Algeria quake: At least 770 peo- place of ‘C’ — the condom — as a transmission. All other trans- contact to child blood drug use reason ABC of HIV/Aids. -

OUR TEAM Editorial
OUR TEAM CONSULTANTS Sports Editorial Chief Coordinator: Novy Kapadia (Athletics, Badminton, Football, Hockey, Squash) Vijaya Ghose Suresh Kumar Lau (Archery, Basketball, Boxing, Cue Sports, Gymnastics, Wrestling) Arthy Muthanna Singh P K Datta (Tennis) M K Jos Rakesh Rao (Chess, Golf, Table-Tennis) Smitha Thomas Kamesh Srinivasan (Shooting) Hariprasad Chattopadhyay (Statistics) Design & Layout VK Pahuja/ Meenakshi Pahuja (Swimming) P P Peeter Mohandas Menon (Cricket) Development & Nature - Usha Rai Marketing Education - Dr Alpana Neogy VVR Murty The Armed Forces - Benita Sen Memory - Anant Kasibhatla LIMCA BOOK OF RECORDS 2017 © The Coca-Cola Company, USA All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise or stored in any retrieval system without the prior written permission of the publisher, application for which shall be made to the publisher. PHOTO CREDIT Mohd. Shafiq Researched, compiled and designed by Live Images V G Communications PIB International Olympic Committee Processed and printed by Special Olympics Bharat Ajanta Offset & Packagings Ltd, New Delhi Warren Little/LOC/Getty Images John Patrick McGuire SPECIAL THANKS John Louis (Rubik’s Cube) Address all correspondence to Raman Rekhi (Special Olympics Bharat) Limca Book of Records (Editorial) Special Olympics International Hachette India Sandhir Singh Flora (Cinema) Hachette Book Publishing India Pvt Ltd 4th & 5th Floors, Corporate Centre, Plot No. 94, Sector 44, Gurugram 122003, INDIA Phone: +91-124-4195000 e-mail: [email protected] Website: www.limcabookofrecords.in ISBN: 978-93-82867-24-1 (Hard cover-English) Last date for new entries (complete with documentation) for the next edition: June 30, 2017 Note: Limca Book of Records does not have any branch offices or representatives.