Agradecimentos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

O Marcelismo, O Movimento Dos Capitães E O
LUÍS PEDRO MELO DE CARVALHO . O MOVIMENTO DOS CAPITÃES, O MFA E O 25 DE ABRIL: DO MARCELISMO À QUEDA DO ESTADO NOVO Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Mestre em Ciência Política: Cidadania e Governação no Curso de Mestrado em Ciência Política: Cidadania e Governação, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Orientador: Professor Doutor José Filipe Pinto Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Lisboa 2009 Luís Pedro Melo de Carvalho O Movimento dos Capitães, o MFA e o 25 de Abril: do marcelismo à queda do Estado Novo Epígrafe É saber antigo que um regime forte, apoiado nas Forças Armadas, não pode ser derrubado senão na sequela de uma guerra perdida que destrua o exército, ou por revolta do exército. Adriano Moreira (1985, p. 37) Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 2 Luís Pedro Melo de Carvalho O Movimento dos Capitães, o MFA e o 25 de Abril: do marcelismo à queda do Estado Novo Dedicatória Ao meu querido Pai, com saudade. À minha Mulher, emoção tranquila da minha vida. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 3 Luís Pedro Melo de Carvalho O Movimento dos Capitães, o MFA e o 25 de Abril: do marcelismo à queda do Estado Novo Agradecimentos Ao Professor Doutor José Filipe Pinto, que tive o prazer de conhecer durante este Mestrado, pelo seu profissionalismo e forma empenhada como dirige as aulas e as orientações e que muito contribuiu para o sucesso daqueles que por si são orientados. -

Abdul Khan-Dissertação-Contencioso Económico Financeiro Entre
CONTENCIOSO ECONÓMICO-FINANCEIRO ENTRE PORTUGAL E MOÇAMBIQUE NA TRANSIÇÃO À INDEPENDÊNCIA Abdul Magid Khan Dissertação de Mestrado em História Orientador: Prof. Doutor Pedro Aires Oliveira Lisboa, Setembro de 2018 CONTENCIOSO ECONÓMICO-FINANCEIRO ENTRE PORTUGAL E MOÇAMBIQUE NA TRANSIÇÃO À INDEPENDÊNCIA Abdul Magid Khan Dissertação de Mestrado em História Orientador: Prof. Doutor Pedro Aires Oliveira Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de mestre em História (História Contemporânea) realizada sob a orientação científica do Prof. Doutor Pedro Aires Oliveira. Lisboa, Setembro de 2018 Dedicatória À minha esposa Arminda Guambe (Dadinha) e aos meus filhos Mirtes Raíssa e Elton Diego pela compreensão durante a minha longa ausência. i Agradecimentos Ao Prof. Doutor Pedro Aires Oliveira, pela sábia orientação, incentivo e compreensão na realização da presente pesquisa. À minha mãe, avô e irmãos e demais família pelos sacrifícios que tornaram possível a minha realização humana, estudantil e profissional. Ao Banco de Moçambique, meu empregador, pela oportunidade concedida para frequentar este Mestrado e pela concessão da bolsa de estudos. A todos que directa ou indirectamente, contribuíram para que o presente trabalho tivesse êxito, O meu muito obrigado. ii Resumo (Contencioso Económico-Financeiro entre Portugal e Moçambique na Transição à Independência) Abdul Magid Khan Esta dissertação debruça-se sobre o contencioso económico-financeiro entre Portugal e a Frelimo que resultou das desinteligências havidas entre as partes durante as negociações para a independência do território colonial de Moçambique. Analisa a política económica colonial do regime do Estado Novo na segunda metade do século XX bem como as transformações levadas a cabo pela Frelimo como resultado da adopção da ideologia marxista. -

Instituto Superior De Economia E Gestao
0 0 0 0 0 "·, ·1,'' '·· ..•. ''r. 0 0 '·•'I 0 ·•··. 0 0 0 0 0 0 0 0 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA 0 0 E GESTAO 0 0 0 TESE DE DOUTORAMENTO 0 0 Sociologia Econ6mica e das Organizacoes 0 0 0 OS GRUPOS ECONOMICOS E 0 0 DESENVOLVIMENTO EM PORTUGAL NO 0 0 CONTEXTO DA GLOBALIZACAO 0 0 0 Eugenio Oscar Garcia da Rosa 0 0 Orientador: Professor Doutor Joao Ferreira do Amaral do ISEG 0 Coorientadora: Professora Doutora Ilona Zsuzsanna Kovacs do ISEG 0 0 0 Presidente: Reiter da Universidade Tecnica de Lisboa 0 0 Vogais: -Doutor Joao Martins Ferreira do Amaral, professor catedratico 0 aposentado do ISEG da Universidade de Lisboa D -Doutora Ilona Zsuzsanna Kovacs, professora catedratica do ISEG da D Universidade Tecnica de Lisboa D -Doutor Joaquim Alexandre dos Ramos Silva, professor associado do :) ISEG da Universidade Tecnica de Lisboa J -Doutor Manuel Gaspar da Silva Lisboa, professor auxiliar da Faculdade J de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa ) -Doutora Paula Cristina Gongalves Dias Urze, professora auxiliar da Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa ) ) ) LISBOA, Julho de 2012 ) ) ) 1 ) ) ) ) 0 0 0 0 0 0 ORIENT ADORES 0 0 0 Orientador: Professor Doutor Joao Ferreira do Amaral do ISEG 0 Coorientadora: Professora Doutora Ilona Zsuzsanna Kovacs do 0 ISEG 0 0 0 0 0 0 0 JURI DA PROVA DE DOUTORAMENTO 0 0 0 PRESIDENTE- Reitor da Universidade Tecnica 0 0 VOGAIS: 0 0 Doutor Joao Martins Ferreira do Amaral, professor catedratico 0 aposentado do lnstituto Superior de Economia e Gestao da 0 Universidade Tecnica -

Capítulo I 1 – Introdução
CAPÍTULO I 1 – INTRODUÇÃO Pretende-se com este trabalho descrever e analisar o debate político português que conduziu ao reconhecimento do governo de Angola formado pelo MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) após a proclamação da independência do país em 11 de novembro de 1975, até fevereiro de 1976, momento em que o Estado português emite o comunicado do seu reconhecimento. Durante o período em estudo, a questão angolana foi discutida no Conselho da Revolução (CR) e em Conselho de Ministros (CM). Contudo, além da discussão nestes órgãos, o ambiente político português da época ficou marcado pelo posicionamento dos partidos políticos que integravam o VI Governo Provisório (VI-GP), o Partido Comunista Português (PCP), o Partido Socialista (PS) e o Partido Popular Democrático (PPD), num ambiente onde o PCP se mostrava favorável ao reconhecimento do governo de Angola. Embora exista alguma literatura que aborde o objeto da nossa pesquisa, verifica-se, porém, a ausência de publicações que enquadrem de forma integrada o debate político português que conduziu ao reconhecimento do governo de Angola a 22 fevereiro de 19761. A apreciação até aqui feita sobre o objeto de estudo é na sua maioria de suporte documental e de imprensa escrita. Existem, na verdade, poucos estudos sobre o que foi desenvolvido para que o Estado português chegasse ao consenso e emitir a declaração de reconhecimento que legitimou o governo do MPLA. Ora, o processo de legitimação do governo de Angola ficou presenciado por várias discussões, sobretudo no seio do Conselho da Revolução, desde 10 de novembro de 1975, momento em que se regista o primeiro debate, até 20 de fevereiro de 1976, data em que o Estado português deu, através do mesmo órgão, maiores sinais de abertura ao processo que levou ao reconhecimento do governo de Angola2. -

O Arquivo Pessoal De Irene Quilhó Dos Santos Anexos
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE BELAS-ARTES O ARQUIVO PESSOAL DE IRENE QUILHÓ DOS SANTOS Tratamento documental ANEXOS Melissa Nogueira de Queiroz Trabalho de Projeto Mestrado em Museologia e Museografia Trabalho de Projeto orientado pelo Prof. Doutor Eduardo Duarte 2019 Anexo 1 - Folha de registo do X-Arq Anexo 2 –Registo completo no X-Arq Web de um documento simples Exemplo representado no quadro de classificação Anexo 3 – Disponibilização pública através do X-Arq Web Anexo 4 – Acondicionamento dos documentos. Capilhas Câmara Municipal de Cascais PT/CMC-CRSIQS/IQ/A/001/003 Subentidade CRSIQS Casa Reynaldo dos Santos/Irene Quilhó dos Santos detentora Fundo IQ Irene Quilhó dos Santos Secção A Biografia Série 001 Documentos Pessoais Subsérie 003 Assentos e Certidões Nº Inv 001 Data 1933 - 2004 Nº documentos 8 Âmbito e conteúdo Anexo 5 – Arquivo Pessoal de Irene Quilhó dos Santos: Inventários Recortes de Imprensa Série 001 Data de Estado de Nº Inv. Título Autor Jornal Páginas Nº folhas Assunto / Observações Dimensões Descritores publicação Conservação Celebração do matrimónio entre Cândido Augusto de Abreu Santos e D. Maria Irene Virote. Indicação de que a noiva era filha do soldado da República José de Souza Virote e também mãe de Irene Virote Quilhó. Virote, Maria Irene; Santos, Cândido Augusto RI-001 "Casamento" Jornal República 1912-02-08 3 1 Destaque num trecho do respetivo artigo através de caneta Mau 57,5 x 41,3 cm de Abreu; Casamento esferográfica azul e verifica-se o seguinte apontamento manuscrito: “Jornal do dia 8-2-1912 (dia seguinte ao meu casamento, casei-me em 7-2-1912)”. -

Responsáveis Políticos Pelo Império Colonial Português
Série Documentos de Trabalho Working Papers Series Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Nuno Valério DT/WP nº 72 ISSN 2183-1807 Apoio: Estudos de história colonial Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Nuno Valério (GHES — CSG — ISEG) Resumo Este documento de trabalho apresenta listas dos responsáveis políticos pelo Império Colonial Português: Reis, Regentes e Presidentes da República de Portugal, membros do Governo e governadores dos domínios, províncias, colónias e estados. Abstract This working paper presents lists of the political officials that were responsible for the Portuguese Colonial Empire: kings, regents and Presidents of Republic of Portugal, members of the government and governors of possessions, provinces, colonies and states. Palavras-chave Portugal — responsáveis políticos — Império Colonial Keywords Portugal — political officials — Colonial Empire Classificação JEL / JEL classification N4 governo, direito e regulação — government, law and regulation 1 Estudos de história colonial Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Plano Reis e Regentes de Portugal 1143-1910 Presidentes da República de Portugal desde 1910 Secretários de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos 1736-1834 Secretários de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos da regência constitucional 1830- 1834 Governos e Ministros e Secretários de Estado encarregados dos assuntos ultramarinos 1834-1976 Governadores do Estado da Índia 1505-1961 Governadores -

The Engine of the Republic: the Presidential Cars PRESENTATION
The Engine of the Republic: The Presidential Cars PRESENTATION The museum collection The Engine of the Republic – The Presidential Cars came about as a result of a challenge issued by the Museum of Transport and Communications to the Museum of the Presidency of the Republic. The challenge, which was immediately accepted, was to create a permanent exhibit that would make it possible for the public to visit, assembled and preserved, one of the most important collections of cars in the country: those that have been in the service of its presidents since the founding of the Republic, over 100 years ago. This collection also reflects an awareness that the vehicles exhibited here are part of a historical heritage. As such, they are no longer disposed of once decommissioned, but become part of the collection of the Museum of the Presidency of the Republic. The job of recording, locating and recovering the cars that were used by the presidents of the Republic, an ongoing task, has been a priority of the Museum of the Presidency of the Republic practically since its inception, as already demonstrated by a group of temporary exhibitions: beginning in 2004, to coincide with the opening of the Museum of the Presidency of the Republic, and continuing over the course of subsequent years, in Porto, Lisbon, Figueira da Foz and Guimarães. Siting this collection in Porto also contributes to the Museum of the Presidency of the Republic’s aim of decentralising its activity, bringing part of its collection to the north of the country, a region with a great tradition of car collecting. -

Jorge Manuel Monteiro Mendes Da População Às Políticas: a Agenda
Universidade de Aveiro Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Ano 2020 Território Jorge Manuel Monteiro Da População às Políticas: A Agenda dos Governos Mendes Constitucionais em Portugal (1) Ano civil da defesa Universidade de Aveiro Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Ano 2020 Território Jorge Manuel Monteiro Da População às Políticas: A Agenda dos Governos Mendes Constitucionais em Portugal Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Políticas Públicas, realizada sob a orientação científica da Doutora Maria Luís Rocha Pinto, Professora Associada (Aposentada) do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro e com a coorientação científica da Doutora Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira Almeida de Sousa Gomes, Professora Auxiliar do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. o júri presidente Prof. Doutor Vítor José Babau Torres prof. Catedrático, Departamento de Física, Universidade de Aveiro Prof. Doutora Gilberta Margarida de Medeiros Pavão Nunes Rocha prof. Catedrática aposentada, Universidade dos Açores Prof. Doutor João Alfredo dos Reis Peixoto prof. Catedrático, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa Prof. Doutor Artur da Rosa Pires prof. Catedrático, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro Prof. Doutora Isabel Maria Brandão Tiago Oliveira prof. Auxiliar, Departamento de Métodos e Pesquisa Social, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Prof. Doutora Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira Almeida de Sousa Gomes prof. Auxiliar, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do território, Universidade de Aveiro agradecimentos Uma investigação é, simultaneamente, um trabalho solitário e de equipa. -

Technocratic Governments: Power, Expertise and Crisis Politics in European Democracies
The London School of Economics and Political Science Technocratic Governments: Power, Expertise and Crisis Politics in European Democracies Giulia Pastorella A thesis submitted to the European Institute of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy London, February 2016 1 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 86852 words, excluding bibliography, appendix and annexes. Statement of joint work Chapter 3 is based on a paper co-authored with Christopher Wratil. I contributed 50% of this work. 2 Acknowledgements This doctoral thesis would have not been possible without the expert guidance of my two supervisors, Professor Sara Hobolt and Doctor Jonathan White. Each in their own way, they have been essential to the making of the thesis and my growth as an academic and as an individual. I would also like to thank the Economic and Social Research Council for their generous financial support of my doctoral studies through their scholarship. -

Análise Da Evolução Das Estruturas Da Administração Pública Central Portuguesa Decorrente Do PRACE E Do PREMAC
Análise da evolução das estruturas da administração pública central portuguesa decorrente do PRACE e do PREMAC Direção-Geral da Administração e do Emprego Público Fevereiro de 2013 Análise da evolução das estruturas da administração pública central portuguesa decorrente do PRACE e do PREMAC Equipa de trabalho do DIRIC César Madureira (coordenação) Miguel Rodrigues Maria Asensio Índice Lista de Siglas e Acrónimos ...................................................................... 4 Introdução .......................................................................................... 5 1. O sistema político-institucional e as políticas de reforma da administração pública (1976-2012) ......................................................................... 7 1.1. Tradição administrativa em Portugal .............................................. 7 1.2. Estrutura e orgânica dos governos: primeiros-ministros, ministros e secretários de Estado ............................................................... 11 1.3. Análise dos programas de governo na área da administração pública .... 15 1.3.1. Orientações políticas em áreas estratégicas para a administração pública ........................................................................... 19 2. Análise da evolução das estruturas na administração pública central decorrente do PRACE e do PREMAC .................................................... 51 2.1. Configuração da administração pública portuguesa – breve resenha comparativa com as administrações dos EM da União Europeia ............ 51 -

Desdobravel Frente-Ingl
NATIONAL PALACE OF BELÉM Classified as a national monument in 2007, Belém Palace became the seat of the presidency after 1910. With a history spanning more than five centuries, Belém Palace has served as the official residence of the President of the Republic since the election of the first President, Manuel de Arriaga. In the mid-sixteenth century, D. Manuel of Portugal, a figure of the Portuguese Renaissance, constructed the main building of the palace on land leased to monks from the Order of St. Jerome. In 1726, the property was acquired by King João V to serve as his holiday residence and remained in the royal family's possession until 1908. From then on, guardianship was entrusted to the Ministry of Foreign Affairs, which used Belém Palace to host visiting foreign officials until the foundation of the Republic in 1910. Palace ENGLISH Cascade Gardens Constructed under the orders of Queen Maria I, the imposing structure of the Cascade Gardens once housed exotic birds. An image Museu da Presidência da República of Hercules marks the garden's Tuesday to Sunday, 10 a.m. – 6 p.m. central axis. (last entry at 5:30 p.m.) Guided group tours available via pre-booking . Chapel Guided tours of Belém Palace and the gardens Saturdays: 10:30 a.m., 11:30 a.m., 2:30 p.m., In 2002, the chapel received a group 3:30 p.m., 4:30 p.m. (tour availability is dependent on the presidential schedule) of eight pastel paintings by Paula . Closed Rego, which portray the life of the 1 January | Easter Sunday | 1 May Virgin Mary. -
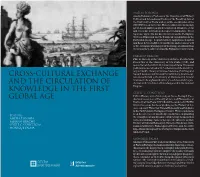
Cross-Cultural Exchange and the Circulation of Knowledge in the First Global Age
www.edicoesafrontamento.pt AMÉLIA POLÓNIA Amélia Polónia is a Professor at the Department of History, in the first global age global first the in knowledge of circulation the exchange and cross-cultural Political and International Studies of the Faculty of Arts of the University of Porto and scientific coordinator of the CITCEM Research Centre. Her scientific interests include agent-based analysis applied to historical dynamics, social and economic networks and seaport communities . These topics are applied to her direct interests on the Portuguese Overseas Expansion and the European Colonization in the Early Modern Age. Seaports history, migrations, transfers and flows between different continents and oceans as well as the environmental impacts of the European colonization overseas are key-subjects of Amélia Polónia's recent research. FABIANO BRACHT PhD in History at the University of Porto, Postdoctoral Researcher at the University of São Paulo (USP), and researcher of the CITCEM, University of Porto. His recent publications are related with the thematics of the Social His- tory of Health, History of Science, Medicine, Pharmacy and Natural Sciences, and Environmental History. Bracht’s cur- CROSS-CULTURAL EXCHANGE CROSS-CULTURAL EXCHANGE CROSS-CULTURAL EXCHANGE rent research field is the History of Medicine and Natural AND THE CIRCULATION OF Sciences in the eighteenth century South Asia and the pro- KNOWLEDGE IN THE FIRST AND THE CIRCULATION OF AND THE CIRCULATION OF duction and circulation of knowledge within the Colonial GLOBAL AGE KNOWLEDGE IN THE FIRST KNOWLEDGE IN THE FIRST Empires. GLOBAL AGE GISELE C. CONCEIÇÃO EDITORS PhD in History at the University of Porto, Portugal.