Fatores Que Afetam O Ataque Da Broca Do Fruto Do Abacateiro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AHFT EIA RT Vol I
EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A APROVEITAMENTOAPROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO HIDROELÉCTRICO DEDE FOZ FOZ TUA TUA ESTUDOESTUDO DE DE IMPACTE IMPACTE AMBIENTAL AMBIENTAL RelatórioRelatório Técnico Técnico - - Volume Volume I I Abril de 2008 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE FOZ TUA VOLUME I ÍNDICE Pág. 1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................... 1 1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ........................................................................................................................ 1 1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO................................................................................................................ 2 1.2.1 Identificação do Projecto e Fase Respectiva ......................................................................................... 2 1.2.2 O Proponente ........................................................................................................................................ 3 1.2.3 Entidade Licenciadora e Autoridade de AIA .......................................................................................... 3 1.3 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO ................................................................................... 3 1.3.1 Identificação dos Técnicos Responsáveis pela Execução do EIA ......................................................... 3 1.3.2 Período de Elaboração do EIA ............................................................................................................. -

Danos Foliares Causados Por Insetos Em Vellozo
v. 3, n. 6 – Fevereiro/Março - 2011 ISSN 1983-3687 Distribuição Gratuita INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - MG DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE GERÊNCIA DE PROJETOS E PESQUISAS Danos foliares causados por insetos em Heliconia episcopalis Vellozo (Heliconiacea - Zingiberales) no Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais A apifauna do Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, Minas Gerais Comunidades de besouros de serapilheira e a sucessão natural em uma floresta estacional semidecídua EXPEDIENTE MG.BIOTA Instruções para colaboradores MG.Biota Boletim de divulgação científica da Diretoria de Biodiversidade/IEF que publica bimestralmente Aos autores, trabalhos originais de contribuição científica para divulgar o conhecimento da biota mineira e áreas afins. O Boletim tem como política editorial manter a conduta ética em relação a seus colaboradores. Os autores deverão entregar os seus artigos diretamente à Gerência de Projetos e Pesquisas (GPROP), acompanhada de uma declaração de seu autor ou responsável, nos seguintes termos: Equipe PUBLICAÇÃO TÉCNICA INFORMATIVAMG.BIOTA Danilo Rocha Transfiro para o Instituto Estadual de Florestas por meio da Diretoria de Biodiversidade, todos os direitos sobre a Dayanna Fagundes Silva (estagiária) Edição: Bimestral contribuição (citar Título), caso seja aceita para publicação no MG.Biota, publicado pela Gerência de Projetos e Denize Fontes Nogueira Tiragem: 5.000 exemplares Pesquisas. Declaro que esta contribuição é original e de minha responsabilidade, que não está sendo Eugênia das Graças Oliveira Diagramação: Raquel de M. Mariani / Imprensa Oficial submetida a outro editor para publicação e que os direitos autorais sobre ela não foram anteriormente cedidos à Filipe Gusmão da Costa (estagiário) outra pessoa física ou jurídica. Ismênia Fortunato de Sousa (estagiária) Normalização: Silvana de Almeida – Biblioteca – SISEMA Ivan Seixas Barbosa Adeclaração deverá conter: Local e data, nome completo, CPF,documento de identidade e endereço completo. -
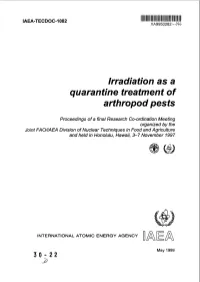
Arthropod Pests
IAEA-TECDOC-1082 XA9950282--W6 Irradiationa as quarantine treatmentof arthropod pests Proceedings finala of Research Co-ordination Meeting organizedthe by Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture and held Honolulu,in Hawaii, November3-7 1997 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY /A> 30- 22 199y Ma 9 J> The originating Section of this publication in the IAEA was: Food and Environmental Protection Section International Atomic Energy Agency Wagramer Strasse 5 0 10 x Bo P.O. A-1400 Vienna, Austria The IAEA does not normally maintain stocks of reports in this series However, copies of these reports on microfiche or in electronic form can be obtained from IMS Clearinghouse International Atomic Energy Agency Wagramer Strasse5 P.O.Box 100 A-1400 Vienna, Austria E-mail: CHOUSE® IAEA.ORG URL: http //www laea org/programmes/mis/inis.htm Orders shoul accompaniee db prepaymeny db f Austriao t n Schillings 100,- in the form of a cheque or in the form of IAEA microfiche service coupons which may be ordered separately from the INIS Clearinghouse IRRADIATIO QUARANTINA S NA E TREATMENF TO ARTHROPOD PESTS IAEA, VIENNA, 1999 IAEA-TECDOC-1082 ISSN 1011-4289 ©IAEA, 1999 Printe IAEe th AustriAn y i d b a May 1999 FOREWORD Fresh horticultural produce from tropical and sub-tropical areas often harbours insects and mites and are quarantined by importing countries. Such commodities cannot gain access to countries which have strict quarantine regulations suc Australias ha , Japan Zealanw Ne , d e Uniteth d dan State f Americo s a unless treaten approvea y b d d method/proceduro t e eliminate such pests. -

Climate Warming Effects on Grape and Grapevine Moth (Lobesia Botrana) in the Palearctic Region
Agricultural and Forest Entomology (2017), DOI: 10.1111/afe.12256 Climate warming effects on grape and grapevine moth (Lobesia botrana) in the Palearctic region ∗† ∗‡ ∗ ∗ Andrew Paul Gutierrez , Luigi Ponti , Gianni Gilioli § and Johann Baumgärtner ∗Center for the Analysis of Sustainable Agricultural Systems, 37 Arlington Avenue, Kensington, CA 94707, U.S.A., †College of Natural Resources, University of California, Berkeley, CA 94720-3114, U.S.A., ‡Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Centro Ricerche Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 Rome, Italy and §Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, Viale Europa, 11I-25123 Brescia, Italy Abstract 1 The grapevine moth Lobesia botrana (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Tortricidae) is the principal native pest of grape in the Palearctic region. In the present study, we assessed prospectively the relative abundance of the moth in Europe and the Mediterranean Basin using linked physiologically-based demographic models for grape and L. botrana. The model includes the effects of temperature, day-length and fruit stage on moth development rates, survival and fecundity. 2 Daily weather data for 1980–2010 were used to simulate the dynamics of grapevine and L. botrana in 4506 lattice cells across the region. Average grape yield and pupae per vine were used as metrics of favourability. The results were mapped using the grass Geographic Information System (http://grass.osgeo.org). 3 The model predicts a wide distribution for L. botrana with highest populations in warmer regions in a wide band along latitude 40∘N. 4 The effects of climate warming on grapevine and L. botrana were explored using regional climate model projections based on the A1B scenario of an average +1.8 ∘C warming during the period 2040–2050 compared with the base period (1960–1970). -

Palomilla Barrenadora Del Aguacate Stenoma Catenifer Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae)
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA FICHA TÉCNICA Palomilla barrenadora del aguacate Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae) Créditos: Hoddle, 2013. GRUPO ESPECIALISTA FITOSANITARIO DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA CONTENIDO IDENTIDAD ..............................................................................................................................................................1 Nombre científico..................................................................................................................................................1 Clasificación taxonómica ......................................................................................................................................1 Nombres comunes................................................................................................................................................1 Código EPPO .......................................................................................................................................................1 SITUACIÓN EN MÉXICO .........................................................................................................................................1 DISTRIBUCIÓN ........................................................................................................................................................1 HOSPEDANTES.......................................................................................................................................................1 -

2002 12 the Cerrados of Brazil.Pdf
00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page i The Cerrados of Brazil 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page ii 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page iii The Cerrados of Brazil Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna Editors Paulo S. Oliveira Robert J. Marquis Columbia University Press New York 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page iv Columbia University Press Publishers Since 1893 New York Chichester, West Sussex © 2002 Columbia University Press All rights reserved Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The cerrados of Brazil : ecology and natural history of a neotropical savanna / Paulo S. Oliveira and Robert J. Marquis. p. cm. Includes bibliographical references. ISBN 0-231-12042-7 (cloth : alk. paper)—ISBN 0-231-12043-5 (pbk. : alk. paper) 1. Cerrado ecology—Brazil. I. Oliveira, Paulo S., 1957– II. Marquis, Robert J., 1953– QH117 .C52 2002 577.4'8'0981—dc21 2002022739 Columbia University Press books are printed on permanent and durable acid-free paper. Printed in the United States of America c 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 p 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page v Contents Preface vii 1 Introduction: Development of Research in the Cerrados 1 Paulo S. Oliveira and Robert J. Marquis I Historical Framework and the Abiotic Environment 2 Relation of Soils and Geomorphic Surfaces in the Brazilian Cerrado 13 Paulo E. F. Motta, Nilton Curi, and Donald P. -

Sibio Pr Me Botib.Pdf
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE BOTUCATU INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS Aspectos Ecológicos de um Minador Foliar em Erythroxylum tortuosum Mart. (Erythroxylaceae): Qualidade da Planta, Anatomia das Minas e Variação Hierárquica de Traços Vegetais. Paula Roberta De Sibio PROF. DR. MARCELO NOGUEIRA ROSSI ORIENTADOR Dissertação apresentada ao Instituto de Biociências, Campus de Botucatu, UNESP, para obtenção do título de Mestre em Ciências Biológicas (Botânica), AC: Morfologia e Diversidade Vegetal BOTUCATU – SP - 2008 - FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉCNICA DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CAMPUS DE BOTUCATU - UNESP BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: Selma Maria de Jesus Sibio, Paula Roberta. Aspectos ecológicos de um minador foliar em Erythroxylum tortuosum Mart. (Erythroxylaceae): qualidade da planta, anatomia das minas e variação hierárquica de traços vegetais / Paula Roberta De Sibio. – Botucatu [s.n.], 2008. Dissertação(mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Botucatu, 2008. Orientador: Marcelo Nogueira Rossi Assunto CAPES: 20500009 1. Botânica 2. Ecologia vegetal 3. Interações Tróficas CDD 581.5 Palavras-chave: Anatomia foliar; Cerrado; Erythroxylum tortuosum; Herbivoria; Interações inseto-planta; Minador foliar; Qualidade da planta; Variação hierárquica ! " # $%& ' ) $%&*+ + - . % $%& # . % % -

Insetos Do Brasil 5.° Tomo
COSTA LIMA INSETOS DO BRASIL 5.° TOMO LEPIDÓPTEROS ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA SÉRIE DIDÁTICA N.º 7 - 1945 INSETOS DO BRASIL 5.º TOMO LEPIDÓPTEROS DA COSTA LIMA Catedrático de Entomologia Agrícola da Escola Nacional de Agronomia Ex-Chefe de Laboratório do Instituto Oswaldo Cruz INSETOS DO BRASIL 5.º TOMO CAPÍTULO XXVIII LEPIDÓPTEROS 1.ª PARTE ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA SÉRIE DIDÁTICA N.º 7 - 1945 CONTEUDO CAPÍTULO XXVIII Ordem LEPIDOPTERA ................................................................................................................ 7 Sub-ordem JUGATAE ......................................................................................................... 134 Superfamília MICROPTERYGOIDEA ............................................................................ 135 Superfamília HEPIALOIDEA ........................................................................................... 136 Sub-ordem FRENATAE ......................................................................................................... 138 Divisão HETEROCERA ........................................................................................................................ 139 Superfamília INCURVARIOIDEA ..................................................................................... 146 Superfamília NEPTICULOIDEA ......................................................................................... 147 Superfamília COSSOIDEA .................................................................................................. 148 Superfamília -

Plant-Arthropod Interactions: a Behavioral Approach
Psyche Plant-Arthropod Interactions: A Behavioral Approach Guest Editors: Kleber Del-Claro, Monique Johnson, and Helena Maura Torezan-Silingardi Plant-Arthropod Interactions: A Behavioral Approach Psyche Plant-Arthropod Interactions: A Behavioral Approach Guest Editors: Kleber Del-Claro, Monique Johnson, and Helena Maura Torezan-Silingardi Copyright © 2012 Hindawi Publishing Corporation. All rights reserved. This is a special issue published in “Psyche.” All articles are open access articles distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Editorial Board Toshiharu Akino, Japan Lawrence G. Harshman, USA Lynn M. Riddiford, USA Sandra Allan, USA Abraham Hefetz, Israel S. K. A. Robson, Australia Arthur G. Appel, USA John Heraty, USA C. Rodriguez-Saona, USA Michel Baguette, France Richard James Hopkins, Sweden Gregg Roman, USA Donald Barnard, USA Fuminori Ito, Japan David Roubik, USA Rosa Barrio, Spain DavidG.James,USA Leopoldo M. Rueda, USA David T. Bilton, UK Bjarte H. Jordal, Norway Bertrand Schatz, France Guy Bloch, Israel Russell Jurenka, USA Sonja J. Scheffer, USA Anna-karin Borg-karlson, Sweden Debapratim Kar Chowdhuri, India Rudolf H. Scheffrahn, USA M. D. Breed, USA Jan Klimaszewski, Canada Nicolas Schtickzelle, Belgium Grzegorz Buczkowski, USA Shigeyuki Koshikawa, USA Kent S. Shelby, USA Rita Cervo, Italy Vladimir Kostal, Czech Republic Toru Shimada, Japan In Sik Chung, Republic of Korea Opender Koul, India Dewayne Shoemaker, USA C. Claudianos, Australia Ai-Ping Liang, China Chelsea T. Smartt, USA David Bruce Conn, USA Paul Linser, USA Pradya Somboon, Thailand J. Corley, Argentina Nathan Lo, Australia George J. Stathas, Greece Leonardo Dapporto, Italy Jean N. -

Macro-Moths As Possible Assessment Endpoints for Non-Target Effects of Bt-Maize Pollen: a Faunistic Study in Three Italian Protected Areas
Bulletin of Insectology 70 (2): 307-314, 2017 ISSN 1721-8861 Macro-moths as possible assessment endpoints for non-target effects of Bt-maize pollen: a faunistic study in three Italian protected areas 1 2 3 1 2 Antonio MASETTI , Salvatore ARPAIA , Silvia GHESINI , Serena MAGAGNOLI , Ferdinando BALDACCHINO , 2 4 5 5 Rosaria Alessandra MAGARELLI , Ulderico NERI , Matteo LENER , Valentina RASTELLI , Giovanni 5 6 3 1 STAIANO , Andreas LANG , Mario MARINI , Giovanni BURGIO 1Dipartimento di Scienze Agrarie - Entomologia, Università di Bologna, Italy 2ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Centro Ricer- che Trisaia, Rotondella, Matera, Italy 3Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna, Italy 4Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di ricerca per lo studio delle re- lazioni tra pianta e suolo - (CREA-RPS), Rome, Italy 5Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Rome, Italy 6Environmental Geosciences, University of Basel, Switzerland Abstract Lepidoptera are the phytophagous group most at risk of impact by insect-resistant genetically modified (GM) plants since most of these crops have been developed to express toxins to specifically target lepidopteran pests. In the case of Bt-maize cultivation, pollen grains released by GM plants could dust larval host plants growing inside or nearby maize fields, thus leading to the expo- sure of caterpillars to the Cry toxins. This way of exposure has been studied mainly for butterflies, whereas moths, in spite of their great diversity and abundance, were rarely considered. To evaluate the potential exposure of moth species to maize pollen in ab- sence of Cry-expressing plants, macro-moths were sampled by means of light traps in three protected areas of Northern, Central and Southern Italy where conventional maize is among the main crops. -

EFFECTS of GAMMA RADIATION on PUPAE of ORIENTAL FRUIT MOTH, Grapholita Molesta (BUSCK)(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)
2011 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2011 Belo Horizonte,MG, Brazil, October 24-28, 2011 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN ISBN: 978-85-99141-04-5 EFFECTS OF GAMMA RADIATION ON PUPAE OF ORIENTAL FRUIT MOTH, Grapholita molesta (BUSCK)(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE). Valter Arthur1, Lucia C. A. S. Silva11, Deborah M. Modolo1, Rodrigo Sebastião Rossi Leandro1, Paula B. Arthur2 1Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA/USP Departamento de Radiobiologia e Ambiente Universidade de São Paulo Av. Centenário, 303 13400-970 Piracicaba, SP - Brasil [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 2 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN / CNEN - SP) Av. Professor Lineu Prestes 2242 05508-000 São Paulo, SP [email protected] ABSTRACT As insects increase in radiotolerance as they develop and usually several developmental stages of pest may present in fresh shipped commodity, it is important to know the radiation susceptibility of stages of the target insect before the establishment of ionizing radiation quarantine treatments. This study was performed to determine the radiotolerance of pupae of the oriental fruit moth, Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidade), to gamma radiation. This specie is considered as on of the most serious worldwide pests for temperate fruits, especially peaches. Pupae of 3 days old were exposed to 0 (control), 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 and 350 Gy of gamma radiation of source Cobalt-60, type Gammacell-220 at dose rate of 0,508 kGy/hour. Each treatment had 4 repetitions with 10 pupae in the total 40 pupae per treatment. -

Área De Estudo 7
Centro Universitário de Brasília Faculdade de Ciências da Saúde Licenciatura em Ciências Biológicas RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E SAZONALIDADE DE LAGARTAS EM TRÊS ESPÉCIES DE PLANTAS EM UM CERRADO DE BRASÍLIA CHRISTIANE SANTOS HAIDAR Monografia apresentada à Faculdade de Ciências da Saúde do Centro Universitário de Brasília como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Licenciado em Ciências Biológicas Orientadora: Profª Ivone R. Diniz Co-orientadora: Profª Elizabeth Mª M. da Costa Brasília – 2001 AGRADECIMENTOS Agradeço a Allys Gardênia Monteiro, Erick Santos Haidar, Jamile Haidar e Leybert da Silva Haidar pelo apoio e auxílio fundamentais para a confecção deste trabalho, às professoras Ivone R. Diniz e Helena Castanheira Morais por concederem a utilização dos dados deste trabalho que fazem parte do projeto Herbívoros do Cerrado, em andamento. 2 RESUMO Os dados relativos à riqueza e abundância de lagartas em plantas hospedeiras do cerrado ainda são bastante escassos, apesar do crescimento significativo das pesquisas sobre este tema. Deve-se a isso o fato de que na maioria das vezes são utilizados estudos provenientes de áreas com climas temperados como modelo e comparação. As lagartas são organismos de coleta e monitoramento relativamente fáceis, sendo utilizadas com sucesso em pesquisas de história natural, herbivoria, parasitismo e desenvolvimento animal. A fauna de Lepidoptera do cerrado é pouco conhecida, se comparada aos dados desta ordem para climas temperados e florestas secas de ambientes tropicais. As lagartas foram coletadas ao longo de 13 meses em três plantas hospedeiras características do cerrado sensu stricto, na Fazenda Água Limpa, em Brasília. As plantas selecionadas foram Acosmium dasycarpum (Leguminosae), Arrabidaea brachipoda (Bignoniaceae) e Annona sp.