Arquivo Total.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Biology and Control of Tree Hoppers Injurious to Fruit Trees in the Pacific Northwest
m TECHNICAL BULLETIN NO. 402 FEBRUARY 1934 BIOLOGY AND CONTROL OF TREE HOPPERS INJURIOUS TO FRUIT TREES IN THE PACIFIC NORTHWEST BY M. A. YOTHERS Associate Entomoioftlst Division of Fruit Insects, Bureau of Entomology UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WASHINGTON, D.C. ISi »le by the Superintendent of Documents, Washington, D.C. -------------- Price 10 centl TECHNICAL BULLETIN NO. 402 FEBRUARY 1934 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE WASHINGTON. D.C. BIOLOGY AND CONTROL OF TREE HOPPERS INJURIOUS TO FRUIT TREES IN THE PACIFIC NORTHWEST By M. A. YoTHERS, associate entoviologist, Division of Fruit InsectSf Bureau of Entomology CONTENTS Page Page Introduction 1 Ceresa alhidosparsa 8tal .._. 32 Stictocephala inermis Fab -_ 2 Distribution 3;í Distribution 2 History _ -. 33 Synonymy and common name 2 Description of adult _ 33 Food plants 3 Position of eggs 33 Character and importance of injury ;i Hatching , 33 Description of stapes 4 Nymphal instars _ _ _ _ 34 Life history and habits - _ 7 Jieiiria ruhideUa Ball 34 Ceresa basalts Walk -_ 19 Associated species of Membracidae , 35 History and distribution 10 Dissemination 35 Synonymy and common name 20 The relation of ants to nymphs _ 3fi Character and importance of injury 20 Natural control 36 Food plants - - - 21 Parasites 36 Description of instars 21 Other enemies, _ 36 Description of adult 21 Natural protection. _ _ 37 Life history and habits 21 Preventive and control measures 38 Ceresa bubalus Fab :iO Spraying against the eggs - - - - - 38 Distribution ¡iO Spraying against the nymphs _- 41 Synonymy and common name... 31 Clean culture 42 Character and importance of injury HI Other possible control niel hods _ 42 Food plants 31 Summary and conclusions 43 Coniparisoa of ovipositors. -

The Art and Science of Describing Nature's Surrealists
Zootaxa 4281 (1): 001–290 ISSN 1175-5326 (print edition) http://www.mapress.com/j/zt/ Table of contents ZOOTAXA Copyright © 2017 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://doi.org/10.11646/zootaxa.4281.1.2 The art and science of describing nature’s surrealists: Festschrift Celebrating the Career of Albino Morimasa Sakakibara OLIVIA EVANGELISTA, DANIELA MAEDA TAKIYA & CHRISTOPHER H. DIETRICH (EDS.) 5 The art and science of describing nature’s surrealists: Foreword from the Editors OLIVIA EVANGELISTA, DANIELA MAEDA TAKIYA & CHRISTOPHER H. DIETRICH 22 New species in the treehopper genus Bocydium Latreille, with description of nymphal stages and observations on their natural history CAMILO FLÓREZ-V & OLIVIA EVANGELISTA 58 A new species of Lycoderes Sakakibara (Hemiptera, Membracidae, Stegaspidinae) from Brazil ANTONIO JOSÉ CREÃO-DUARTE, VALBERTA ALVES CABRAL & ALINE LOURENÇO 63 A New Treehopper Genus and Species from Puerto Rico (Hemiptera: Membracidae: Stegaspidinae) with Notes on other Caribbean Membracidae CHRISTOPHER H. DIETRICH 70 Problematode: an enigmatic new genus of Membracidae (Hemiptera) with two new species from Venezuela MARCO A. GAIANI 77 Two remakable new species of Notocera Amyot and Serville, 1843 (Hemiptera, Membracidae, Hypsoprorini) from the Brazilian Caatinga ANTÔNIO JOSÉ CREÃO-DUARTE, REMBRANDT R. A. D. ROTHÉA, ALINE LOURENÇO, VALBERTA ALVES CABRAL & OLIVIA EVANGELISTA 90 Notes on the genus Sakakibarella Creão-Duarte with description of three new species (Membracidae: Membracinae: Hoplophorionini) LUIS F. CAMACHO, CAMILO FLÓREZ-V & OLIVIA EVANGELISTA 108 Two new species of Darnini (Hemiptera: Membracidae) from Colombia and Peru LAURA GONZALEZ-MOZO, STUART MCKAMEY, JESSICA L. WARE, GEORGE HAMILTON 115 Two new species of unusual Ceresini (Hemiptera: Membracidae: Smiliinae) STUART H. -

Social Behaviour and Life History of Membracine Treehoppers
Journal of Natural History, 2006; 40(32–34): 1887–1907 Social behaviour and life history of membracine treehoppers CHUNG-PING LIN Department of Entomology, Cornell University, Ithaca, NY, USA and Department of Life Science, Center for Tropical Ecology and Biodiversity, Tunghai University, Taichung, Taiwan (Accepted 28 September 2006) Abstract Social behaviour in the form of parental care is widespread among insects but the evolutionary histories of these traits are poorly known due to the lack of detailed life history data and reliable phylogenies. Treehoppers (Hemiptera: Membracidae) provide some of the best studied examples of parental care in insects in which maternal care involving egg guarding occurs frequently. The Membracinae exhibit the entire range of social behaviour found in the treehoppers, ranging from asocial solitary individuals, nymphal or adult aggregations, to highly developed maternal care with parent–offspring communication. Within the subfamily, subsocial behaviour occurs in at least four of the five tribes. The Aconophorini and Hoplophorionini are uniformly subsocial, but the Membracini is a mixture of subsocial and gregarious species. The Hypsoprorini contains both solitary and gregarious species. Accessory secretions are used by many treehoppers to cover egg masses inserted into plant tissue while oviposition on plant surfaces is restricted to a few species. Presumed aposematic colouration of nymphs and teneral adults appears to be restricted to gregarious and subsocial taxa. Ant mutualism is widespread among membracine treehoppers and may play an important role in the evolutionary development of subsocial behaviour. The life history information provides a basis for comparative analyses of maternal care evolution and its correlation with ant mutualism in membracine treehoppers. -

Mixed‐Species Aggregations in Arthropods
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by St Andrews Research Repository Title for subject: Interspecific groups in arthropods Title for authors: J. Boulay et al. * Corresponding author: Julien Boulay, CHU Lille, Université Lille 2, EA 7367 – UTML – Unité de Taphonomie Médico-Légale, Lille, France. Email : [email protected] MIXED-SPECIES AGGREGATIONS IN ARTHROPODS Julien Boulay1, Cindy Aubernon1, Graeme D. Ruxton2, Valéry Hédouin1, Jean-Louis Deneubourg3 and Damien Charabidzé1 1CHU Lille, Université Lille 2, EA 7367 – UTML – Unité de Taphonomie Médico-Légale, Lille, France 2School of Biology, University of St. Andrews, Dyers Brae House, St. Andrews, Fife KY16 9TH 3Unit of Social Ecology-CP 231, Université Libre de Bruxelles (ULB), Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, Building NO-level 5, 1050 Brussels, Belgium Abstract This review offers the first synthesis of the research on mixed-species groupings of arthropods and highlights the behavioural and evolutionary questions raised by such behaviour. Mixed-species groups are commonly found in mammals and birds. Such groups are also observed in a large range of arthropod taxa independent of their level of sociality. Several examples are presented to highlight the mechanisms underlying such groupings, particularly the evidence for phylogenetic proximity between members that promotes cross- This is an Accepted Article that has been peer-reviewed and approved for publication in the Insect Science but has yet to undergo copy-editing and proof correction. Please cite this article as doi: 10.1111/1744-7917.12502. This article is protected by copyright. All rights reserved. species recognition. -

C. Riley Nelson
C. RILEY NELSON CURRICULUM VITAE December 2018 File: nelson vita dec 2018 2.docx or nelson vita dec 2018 2.pdf Home Address: 500 East Foothill Drive, Provo, Utah 84604 Home Telephone: 801-222-0622 Work Address: Department of Biology, Brigham Young University, Provo, Utah 84602. Telephone: 801-422-1345, fax: 801-422-0090 Electronic Mail: [email protected] Married to J. Kaye Nelson, three children: Jason (1981), Andrea (1983), and Amy (1986). Son of Aileen Doul Larsen Nelson and Winston Peter Nelson, both deceased. Son-In-Law of Richard and Sherry Wheeler, both deceased. United States Citizen ACADEMIC RANK Professor, Department of Biology, Brigham Young University, present. Professor, Department of Integrative Biology, Brigham Young University, 2005. Associate Professor, Department of Integrative Biology, Brigham Young University, 1999-2005. EDUCATION Name of Institution Years Major focus Degree California Academy of Sciences 1989 Entomology Tilton Postdoctoral Fellow Brigham Young University Provo, Utah 1986 Zoology Ph. D. Utah State University, Logan, Utah 1984 Biology M.S. Utah State University, Logan, Utah 1980 Biology B. S. Box Elder High School, Brigham City, Utah 1974 General Graduate HONORS AND AWARDS BYU Faculty General Education Committee, Brigham Young University, September 2017. General Education Professorship, Brigham Young University, August 2013. Creative Works Award, Brigham Young University, August 2012. John Tanner Lectureship, M. L. Bean Life Science Museum, Brigham Young University, 30 November 2006. Alcuin Fellowship for General Education, Brigham Young University, August 2005-present. Continuing Faculty Status, BYU, 2005-2008. Professor Rank Advancement, Brigham Young University, August 2005 Adjunct Assistant Professor, Clemson University, April 1998 - April 2002. -

Evolution of Cicadomorpha (Insecta, Hemiptera) 155-170 © Biologiezentrum Linz/Austria; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Denisia Jahr/Year: 2002 Band/Volume: 0004 Autor(en)/Author(s): Dietrich Christian O., Dietrich Christian O. Artikel/Article: Evolution of Cicadomorpha (Insecta, Hemiptera) 155-170 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Evolution of Cicadomorpha (Insecta, Hemiptera) C.H. DIETRICH Abstract Cicadomorpha (Cicadoidea, Cerco- and tribe. The origins of some family- poidea and Membracoidea) are one of the group taxa may also have coincided with dominant groups of plant-feeding insects, shifts in feeding or courtship strategies, or as evidenced by their extraordinary diver- the colonization of novel habitats (e.g., sity and ubiquity in habitats ranging from grasslands, deserts). The origins of genera tropical rainforest to tundra. Improve- and species, in many cases, can be attribu- ments on our knowledge of the phylogeny ted to shifts in habitat and host plant asso- of these insects, based on cladistic analysis ciation, as well as smaller scale biogeogra- of morphological and molecular data and phic vicariance. Many aspects of cicado- study of the fossil record, provide the morphan evolution remain poorly under- opportunity to examine the possible fac- stood. These include phenomena such as tors that led to their diversification. Fac- the coexistence of many closely related tors influencing early divergences among species on the same host plant and the major lineages apparently included shifts diversity of bizarre pronotal modifications in life history strategies, including a tran- found among Membracidae. Such questi- sition from subterranean or cryptic to ons are best addressed by further ecologi- arboreal nymphal stage, shifts in feeding cal and behavioral study, as well as phylo- strategy (xylem to phloem or parenchy- genetic analysis. -

Afrotropical, Indomalayan, and Palearctic Regions Figs. 19.1-19.3 Type Genus
19. Tribe OXYRHACHINI Distant 1908 Old World: Afrotropical, Indomalayan, and Palearctic Regions Figs. 19.1-19.3 Type genus: Oxyrhachis Germar, 1833a Oxyrhachisaria Distant, 1908g [new division]: first treated as subfamily Oxyrrhachinae [sic: for Oxyrhachinae] and tribe Oxyrrhachini (Haupt 1929c); tribe Oxyrhachisini [sic: for Oxyrhachini] Goding 1930b; subfamily Oxyrhachinae equals Centrotinae and tribe Oxyrhachini moved to Centrotinae (Dietrich et al. 2001a). Xiphistesini Goding, 1930a [new division]: first treated as tribe Xiphistini and equals Oxyrhachini (Capener 1962a). Diagnostic characters.—Frontoclypeal lobes indistinct, head with large foliate lobes. Posterior pronotal process concealing scutellum. Pleuron with propleural lobe present and mesopleural lobe enlarged. Forewing with Cu1 vein abutting clavus (not marginal vein), with m-cu1 and m-cu2 crossveins in at least one wing, M and Cu veins adjacent at base, base of R2+3 and R4+5 veins truncate. Hind wing with R4+5 and M1+2 veins fused or not (3 or 4 apical cells). Tibiae foliaceous. Mesothoracic and metathoracic femora without ab- and adlateral cucullate setae. Metathoracic tibial rows I and III without cucullate setae (row II without cucullate setae in some species). Female second valvulae short with undulating dorsal margin, narrow near base, not curved, dorsal margin with fine teeth. Male style clasp oriented laterally, apex membranous, cylindrical, angled ventrally. Abdomen with paired 283 dorsal swellings, larger in posterior segments; acanthae distinct, bases not heightened, acanthae without ornamentation. Description.—Length 5-6.3 mm. Color tan to dark brown, or combinations thereof. HEAD (Fig. 19.1 I): frontoclypeal margins parallel or slightly converging ventrally, frontoclypeal lobes indistinct; with large foliate lobes; ocelli about equidistant from each other and eyes; vertex without toothlike projections. -

Phylogenomics of Auchenorrhyncha (Insecta: Hemiptera)
Systematic Entomology (2019), DOI: 10.1111/syen.12381 Phylogenomics of Auchenorrhyncha (Insecta: Hemiptera) using transcriptomes: examining controversial relationships via degeneracy coding and interrogation of gene conflict RACHEL K. SKINNER1 , CHRISTOPHER H. DIETRICH2, KIMBERLY K. O. WALDEN1, ERIC GORDON3, ANDREW D. SWEET4, LARS PODSIADLOWSKI5, MALTE PETERSEN5, CHRIS SIMON3, DANIELA M. TAKIYA6 andKEVIN P. JOHNSON2 1Department of Entomology, University of Illinois, Urbana, IL, U.S.A., 2Illinois Natural History Survey Prairie Research Institute, University of Illinois, Champaign, IL, U.S.A., 3Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Connecticut, Storrs, CT, U.S.A., 4Department of Entomology, Purdue University, West Lafayette, IN, U.S.A., 5Center for Molecular Biodiversity Research, Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn, Germany and 6Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil Abstract. The hemipteran suborder Auchenorrhyncha is a highly diverse, ecologi- cally and agriculturally important group of primarily phytophagous insects which has been a source of phylogenetic contention for many years. Here, we have used tran- scriptome sequencing to assemble 2139 orthologues from 84 auchenorrhynchan species representing 27 families; this is the largest and most taxonomically comprehensive phy- logenetic dataset for this group to date. We used both maximum likelihood and multi- species coalescent analyses to reconstruct the evolutionary history in this group using amino acid, nucleotide, and degeneracy-coded nucleotide orthologue data. Although many relationships at the superfamily level were consistent between analyses, several differing, highly supported topologies were recovered using different datasets and recon- struction methods, most notably the differential placement of Cercopoidea as sister to either Cicadoidea or Membracoidea. -

Universidade Federal Da Paraíba Centro De Ciências Exatas E Da Natureza Programa De Pós-Graduação Em Ciências Biológicas/Zoologia
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ZOOLOGIA ALINE LOURENÇO VIEIRA DA SILVA ESTRATIFICAÇÃO VERTICAL E CHECKLIST DE MEMBRACIDAE (HEMIPTERA: AUCHENORRHYNCHA) EM FLORESTA ÚMIDA NA PARAÍBA João Pessoa, Paraíba 2017 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ZOOLOGIA ALINE LOURENÇO VIEIRA DA SILVA ESTRATIFICAÇÃO VERTICAL E CHECKLIST DE MEMBRACIDAE (HEMIPTERA: AUCHENORRHYNCHA) EM FLORESTA ÚMIDA NA PARAÍBA Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, área de concentração Zoologia, da Universidade Federal da Paraíba em cumprimento às exigências para obtenção do grau de mestre em Ciências Biológicas. Orientador: Antonio José Creão-Duarte João Pessoa, Paraíba 2017 1 Catalogação na publicação Seção de Catalogação e Classificação S586e Silva, Aline Lourenço Vieira da. Estratificação vertical e checklist de membracidae (hemiptera: auchenorrhyncha) em floresta úmida na Paraíba / Aline Lourenço Vieira da Silva. - João Pessoa, 2017. 79 f. : il. Orientador: Antonio José Creão-Duarte. Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCEN 1. Ciências biológicas. 2. Zoologia. 3. Estratificação vertical. 4. Membracídeos. I. Título. UFPB/BC Dedico à minha avó, Nailde Maria da Conceição (in memoriam) que sempre me incentivou nos estudos e me deixou tantos ensinamentos de vida. 3 AGRADECIMENTOS Este trabalho, sem dúvida alguma, não teria sido concluído desta forma se não tivesse contado com tantos apoios e incentivos, que agora tenho a oportunidade e venho agradecer: À CAPES, pela bolsa concedida. Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas-Zoologia (PPGCB) e ao Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB (DSE) pelo apoio e estrutura durante este trabalho. -
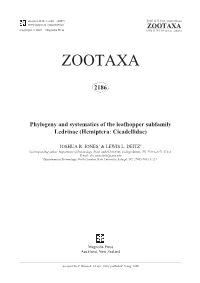
Zootaxa, Phylogeny and Systematics of the Leafhopper Subfamily
Zootaxa 2186: 1–120 (2009) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2009 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) ZOOTAXA 2186 Phylogeny and systematics of the leafhopper subfamily Ledrinae (Hemiptera: Cicadellidae) JOSHUA R. JONES1 & LEWIS L. DEITZ2 1Corresponding author: Department of Entomology, Texas A&M University, College Station, TX, 77843–2475, U.S.A. E-mail: [email protected] 2Department of Entomology, North Carolina State University, Raleigh, NC, 27695-7613, U.S.A. Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by C. Dietrich: 18 Apr. 2009; published: 6 Aug. 2009 Joshua R. Jones & Lewis L. Deitz Phylogeny and systematics of the leafhopper subfamily Ledrinae (Hemiptera: Cicadellidae) (Zootaxa 2186) 120 pp.; 30 cm. 6 Aug. 2009 ISBN 978-1-86977-389-2 (paperback) ISBN 978-1-86977-390-8 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2009 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2009 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. ISSN 1175-5326 (Print edition) ISSN 1175-5334 (Online edition) 2 · Zootaxa 2186 © 2009 Magnolia Press JONES & DEITZ Phylogeny and systematics of the leafhopper subfamily Ledrinae (Hemiptera: Cicadellidae) Table of contents Abstract .................................................................................................................................................................................................... -

Occurrence of Treehopper (Hemiptera: Membracidae) Bycatch on Purple Panel Traps and Lindgren Funnel Traps in Pennsylvania, with New State Records
The Great Lakes Entomologist Volume 48 Numbers 3/4 -- Fall/Winter 2015 Numbers 3/4 -- Article 11 Fall/Winter 2015 October 2015 Occurrence of Treehopper (Hemiptera: Membracidae) Bycatch on Purple Panel Traps and Lindgren Funnel Traps in Pennsylvania, with New State Records Lawrence Barringer Pennsylvania Department of Agriculture, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholar.valpo.edu/tgle Part of the Entomology Commons Recommended Citation Barringer, Lawrence 2015. "Occurrence of Treehopper (Hemiptera: Membracidae) Bycatch on Purple Panel Traps and Lindgren Funnel Traps in Pennsylvania, with New State Records," The Great Lakes Entomologist, vol 48 (3) Available at: https://scholar.valpo.edu/tgle/vol48/iss3/11 This Peer-Review Article is brought to you for free and open access by the Department of Biology at ValpoScholar. It has been accepted for inclusion in The Great Lakes Entomologist by an authorized administrator of ValpoScholar. For more information, please contact a ValpoScholar staff member at [email protected]. Barringer: Occurrence of Treehopper (Hemiptera: Membracidae) Bycatch on Pur 172 THE GREAT LAKES ENTOMOLOGIST Vol. 48, Nos. 3 - 4 Occurrence of Treehopper (Hemiptera: Membracidae) Bycatch on Purple Panel Traps and Lindgren Funnel Traps in Pennsylvania, with New State Records Lawrence E. Barringer1 Abstract Surveys for invasive insects in Pennsylvania conducted from 2009-2013 captured large numbers of native treehoppers (Hemiptera: Membracidae). These were collected using Lindgren funnel traps and purple prism traps totaling 1,434 specimens in eight tribes, 20 genera, and 57 species. As a result of this work Pennsylvania now has four new published species records: Heliria gibberata Ball 1925, Palonica pyramidata (Uhler 1877), Telamona projecta Butler 1877, and Telamona westcotti Goding 1893. -

Hemiptera) and a New Species of Antillotolania from Puerto Rico
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 301:Immature 1–12 (2013) Stages and Hosts of Two Plesiomorphic, Antillean Genera of Membracidae.... 1 doi: 10.3897/zookeys.301.4234 RESEARCH articLE www.zookeys.org Launched to accelerate biodiversity research Immature Stages and Hosts of Two Plesiomorphic, Antillean Genera of Membracidae (Hemiptera) and a new species of Antillotolania from Puerto Rico Stuart H. McKamey1,†, Brent V. Brodbeck2,‡ 1 USDA/ARS Systematic Entomology Laboratory, 10th St. & Constitution Ave., PO Box 37012, Washington, DC 20013-7012 2 North Florida Research and Education Center-Quincy, 155 Research Road, Quincy, FL 32351 † urn:lsid:zoobank.org:author:E6BD01B8-0684-464A-8A86-812701DA05C7 ‡ urn:lsid:zoobank.org:author:DB03E169-7FA6-48AF-9AAF-3DA53A22DDFB Corresponding author: Stuart H. McKamey ([email protected]) Academic editor: Mick Webb | Received 1 November 2012 | Accepted 18 April 2013 | Published 17 May 2013 urn:lsid:zoobank.org:pub:E94EE9BB-392E-4C65-99C4-08959625D555 Citation: McKamey SH, Brodbeck BV (2013) Immature Stages and Hosts of Two Plesiomorphic, Antillean Genera of Membracidae (Hemiptera) and a new species of Antillotolania from Puerto Rico. ZooKeys 301: 1–12. doi: 10.3897/ zookeys.301.4234 Abstract The nymphs of Antillotolania Ramos and Deiroderes Ramos are described for the first time, along with the first host record for the genus Antillotolania, represented by A. myricae, sp. n. Nymphal features of both genera, such as a ventrally fused, cylindrical tergum IX (anal tube), the presence of abdominal lamellae, and heads with foliaceous ventrolateral lobes confirm their placement in Membracidae and are consistent with phylogenetic analyses placing them in Stegaspidinae but in conflict with a cladistic analysis showing a closer relationship to Nicomiinae.