DAIANA DA SILVA CASTIGLIONI Biologia Reprodutiva Do Lagostim
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.Biological Parameters of the Burrowing Crayfish, Parastacus
Latin American Journal of Aquatic Research E-ISSN: 0718-560X [email protected] Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile Ibarra, Mauricio A.; Arana, Patricio M. Biological parameters of the burrowing crayfish, Parastacus pugnax (Poeppig, 1835), in Tiuquilemu, Bío-Bío Region, Chile Latin American Journal of Aquatic Research, vol. 40, núm. 2, julio, 2012, pp. 418-427 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Valparaiso, Chile Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175024254016 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Lat. Am. J. Aquat. Res., 40(2): 418-427, 2012 Latin American Journal of Aquatic Research 418 DOI: 10.3856/vol40-issue2-fulltext-16 Research Article Biological parameters of the burrowing crayfish, Parastacus pugnax (Poeppig, 1835), in Tiuquilemu, Bío-Bío Region, Chile Mauricio A. Ibarra1 & Patricio M. Arana1 1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso P.O. Box 1020, Valparaíso, Chile ABSTRACT. In order to determine the biological parameters of the burrowing crayfish (Parastacus pugnax), we fenced in 900 m2 of a humid, low-lying sector in Tiuquilemu, Bío-Bío Region, Chile. Monthly samples were taken from August 2007 to August 2008, and 3,512 specimens were caught. Records were made of their carapace length (CL), total weight (TW), sex, and number of eggs (for females). The monthly size-structures showed few juveniles between 20 and 30 mm CL in nearly all months. -

Freshwater Crayfish Volume 16 President’S Corner 2 Now Available IAA Related News 3
March 2009 Volume 31, Issue 1 ISSN 1023-8174 The Official Newsletter of the International Association of Astacology Inside this issue: Cover Story 1 Freshwater Crayfish Volume 16 President’s Corner 2 Now Available IAA Related News 3 Short Articles 4 Conservation of 4 White-clawed Crayfish Austropotamobius pallipes, in Southwest England Notes on the Piedmont 5 Blue Burrower, Cambarus harti Traditional Laundry 5 Becomes Crayfish Killer (Cândeni Case Study) Books & 8 Multimedia News Items From 10 Around the World Meeting 12 Announcements Literature of 16 Interest to Astacologists The cover of the newly published Freshwater Crayfish 16. e are please to announce that Fresh- the past 35 years, and this volume incorpo- W water Crayfish 16, the proceedings rates a number of timely updates. These up- resulting from the 16th Symposium of the dates include a new format for the papers International Association of Astacology that themselves that brings them into line with was held in Surfers Paradise, The Gold Coast, mainstream published journals, and a revised Queensland, Australia between the 30th of set of instructions for authors that will help July and 4th August 2006, has been published standardize manuscript submission for this by the IAA. newly implemented journal format. Further- This is the latest in a long line of Freshwa- more, this was the first volume of Freshwater ter Crayfish volumes that extend back over (Continued on page 3) Crayfish News Volume 31 Issue 1: Page 1 President’s Corner Dear IAA members: view manuscripts for Freshwater Crayfish is As this is the first Crayfish News for 2009, another wonderful indication of the very close I would like to wish you all a very successful -knit nature of the IAA and its members. -

Decapoda: Astacidea)
Downloaded from http://rstb.royalsocietypublishing.org/ on January 5, 2015 Multiple drivers of decline in the global status of freshwater crayfish (Decapoda: rstb.royalsocietypublishing.org Astacidea) Nadia I. Richman1,2, Monika Bo¨hm1, Susan B. Adams3, Fernando Alvarez4, 5 6 6 7 Research Elizabeth A. Bergey , John J. S. Bunn , Quinton Burnham , Jay Cordeiro , Jason Coughran6,8, Keith A. Crandall9,10, Kathryn L. Dawkins11, Robert Cite this article: Richman NI et al. 2015 J. DiStefano12, Niall E. Doran13, Lennart Edsman14, Arnold G. Eversole15, Multiple drivers of decline in the global status Leopold Fu¨reder16, James M. Furse17, Francesca Gherardi18,†, Premek Hamr19, of freshwater crayfish (Decapoda: Astacidea). 20 6 21,22 23 Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140060. David M. Holdich , Pierre Horwitz , Kerrylyn Johnston , Clive M. Jones , http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0060 Julia P. G. Jones2, Robert L. Jones24, Thomas G. Jones25, Tadashi Kawai26, Susan Lawler27, Marilu Lo´pez-Mejı´a28, Rebecca M. Miller29, Carlos Pedraza- One contribution of 17 to a discussion meeting Lara30, Julian D. Reynolds31, Alastair M. M. Richardson32, Mark B. Schultz33, issue ‘Phylogeny, extinction and conservation’. Guenter A. Schuster34, Peter J. Sibley35, Catherine Souty-Grosset36, Christopher Subject Areas: A. Taylor37, Roger F. Thoma38, Jerry Walls39, Todd S. Walsh40 and Ben Collen41 ecology, evolution 1Institute of Zoology, Zoological Society of London, Regent’s Park, London NW1 4RY, UK 2School of Environment, Natural Resources and Geography, Bangor University, -

Advances in Freshwater Decapod Systematics and Biology CRUSTACEANA MONOGRAPHS Constitutes a Series of Books on Carcinology in Its Widest Sense
Advances in freshwater decapod systematics and biology CRUSTACEANA MONOGRAPHS constitutes a series of books on carcinology in its widest sense. Contributions are handled by the Series Editor(s) and may be submitted through the office of KONINKLIJKE BRILL Academic Publishers N.V., P.O. Box 9000, NL-2300 PA Leiden, The Netherlands. Series Editor for the present volume: CHARLES H.J.M. FRANSEN, c/o Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, NL-2300 RA Leiden, The Netherlands; e-mail: [email protected] Founding Editor: J.C. VON VAUPEL KLEIN, Bilthoven, The Netherlands. Editorial Committee: N.L. BRUCE, Wellington, New Zealand; Mrs. M. CHARMANTIER-DAURES, Montpellier, France; Mrs. D. DEFAYE, Paris, France; H. DIRCKSEN, Stockholm, Sweden; R.C. GUIA¸SU, Toronto, Ontario, Canada; R.G. HARTNOLL, Port Erin, Isle of Man; E. MACPHERSON, Blanes, Spain; P.K.L. NG, Singapore, Rep. of Singapore; H.-K. SCHMINKE, Oldenburg, Germany; F.R. SCHRAM, Langley, WA, U.S.A.; C.D. SCHUBART, Regensburg, Germany; G. VA N D E R VELDE, Nijmegen, Netherlands; H.P. WAGNER, Leiden, Netherlands; D.I. WILLIAMSON, Port Erin, Isle of Man. Published in this series: CRM 001 - Stephan G. Bullard Larvae of anomuran and brachyuran crabs of North Carolina CRM 002 - Spyros Sfenthourakis et al. (eds.) The biology of terrestrial isopods, V CRM 003 - Tomislav Karanovic Subterranean Copepoda from arid Western Australia CRM 004 - Katsushi Sakai Callianassoidea of the world (Decapoda, Thalassinidea) CRM 005 - Kim Larsen Deep-sea Tanaidacea from the Gulf of Mexico CRM 006 - Katsushi Sakai Upogebiidae of the world (Decapoda, Thalassinidea) CRM 007 - Ivana Karanovic Candoninae (Ostracoda) from the Pilbara region in Western Australia CRM 008 - Frank D. -

Conjoined Twins in the Burrowing Crayfish, Virilastacus Rucapihuelensis Rudolph & Crandall, 2005 (Decapoda, Parastacidae)
CONJOINED TWINS IN THE BURROWING CRAYFISH, VIRILASTACUS RUCAPIHUELENSIS RUDOLPH & CRANDALL, 2005 (DECAPODA, PARASTACIDAE) BY ERICH H. RUDOLPH1) and ANDREA W. MARTÍNEZ Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile ABSTRACT The occurrence of two pairs of newly hatched conjoined twins is reported in an oviposition of a female-phase, intersex specimen of the burrowing parastacid Virilastacus rucapihuelensis, caught in the peatlands of Rucapihuel, southern Chile. These conjoined twins were found among 49 normal, stage 1 juveniles and constitute the third reported case of Siamese juveniles in freshwater astacids. Their external morphological traits are described, as well as the type and extent of their fusion; a morphological comparison is made between them and previous cases of conjoined twins in Astacoidea. The stage of embryonic development when they would have formed, and the probable causes of their origin, are also analysed. RESUMEN Se reporta el hallazgo de dos parejas de gemelos siameses, recientemente eclosionados, en una ovipostura de un espécimen intersexo en fase hembra del parastácido excavador. Virilastacus rucapihuelensis, capturado en los humedales de la localidad de Rucapihuel en el sur de Chile. Estos siameses se encontraron con otros 49 juveniles en estado 1 normales y constituyen el tercer caso reportado de juveniles siameses en astácidos de agua dulce. En ellos se describen sus rasgos morfológicos externos, como así mismo el tipo y extensión de su fusión, se establece una comparación morfológica entre ellos y con aquellos casos previos de siameses en Astacoidea. También se analiza el momento del desarrollo embrionario en que ellos se habrían formado y las probables causas de su origen. -

Biological Parameters of the Burrowing Crayfish, Parastacus Pugnax (Poeppig, 1835), in Tiuquilemu, Bío-Bío Region, Chile
Lat. Am. J. Aquat. Res., 40(2): 418-427, 2012 Latin American Journal of Aquatic Research 418 DOI: 10.3856/vol40-issue2-fulltext-16 Research Article Biological parameters of the burrowing crayfish, Parastacus pugnax (Poeppig, 1835), in Tiuquilemu, Bío-Bío Region, Chile Mauricio A. Ibarra1 & Patricio M. Arana1 1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso P.O. Box 1020, Valparaíso, Chile ABSTRACT. In order to determine the biological parameters of the burrowing crayfish (Parastacus pugnax), we fenced in 900 m2 of a humid, low-lying sector in Tiuquilemu, Bío-Bío Region, Chile. Monthly samples were taken from August 2007 to August 2008, and 3,512 specimens were caught. Records were made of their carapace length (CL), total weight (TW), sex, and number of eggs (for females). The monthly size-structures showed few juveniles between 20 and 30 mm CL in nearly all months. P. pugnax was found to carry eggs from mid-spring through late autumn; size at first maturity for females was 38.1 mm CL; and fecundity varied between three and 45 eggs per female. In terms of the global sexual proportion, males were predominant in 11 of the 12 months, although the ratio was as expected (1:1). We estimated the parameters of the growth curve -1 using modal progression analysis, obtaining CL∞, K, and t0 values of 55.3 mm, 0.23 mm year , and -0.58 years, respectively. The length-weight relationship was calculated separately for males and females, and no significant differences were found between sexes. The common parameters defining the potential function of a = 0.00052 and b = 2.98 (P < 0.05) indicated isometric increments in weight. -

Assessing the Importance of Burrows Through Behavioral Observations Of
Palaoro et al. Zoological Studies 2013, 52:4 http://www.zoologicalstudies.com/content/52/1/4 RESEARCH Open Access Assessing the importance of burrows through behavioral observations of Parastacus brasiliensis, a Neotropical burrowing crayfish (Crustacea), in laboratory conditions Alexandre V Palaoro, Marcelo M Dalosto, Cadidja Coutinho and Sandro Santos* Abstract Background: Crayfish from the Neotropical region comprise a unique group among crustaceans. Their burrowing habits have severe consequences for many ecological, morphological, and behavioral traits. Although they are all considered true burrowers, the degree of these adaptations and their relationships to the behavioral repertoires of these crustaceans have been discussed for a long time, although with no consensus. Results: To address this situation, we performed behavioral observations of Parastacus brasiliensis in a laboratory environment. Animals (n = 7) were isolated and acclimated in experimental aquaria according to their size (two large and five smaller aquaria) and observed for seven days at four different times of the day (twice during the day and twice at night). Their behaviors were qualified and quantified. The time spent inside and outside the burrow was also observed and analyzed with a t test for paired samples. Their circadian activity was analyzed using Rayleigh's Z test. Animals spent 54.9% of the time hiding within the burrow and also remained longer in it during the day than at night. They spent more time active outside the burrow during the night. Conclusions: These results suggest that these crayfish are nocturnal and are definitely not a part of the lotic species group. This species appears to be closely associated with its burrow but can exhibit considerable activity outside of it and can therefore be classified as a secondary burrower. -

Two New Amphipod Families Recorded in South America Shed Light on an Old Biogeographical Enigma Cene Fišer a , Maja Zagmajster a & Rodrigo L
This article was downloaded by: [University of Ljubljana], [Cene Fišer] On: 15 July 2013, At: 04:52 Publisher: Taylor & Francis Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Systematics and Biodiversity Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/tsab20 Two new Amphipod families recorded in South America shed light on an old biogeographical enigma Cene Fišer a , Maja Zagmajster a & Rodrigo L. Ferreira b a SubBioLab, Department of Biology, Biotechnical Faculty , University of Ljubljana , Slovenia b Departamento de Biologia Universidade Federal de Lavras , Lavras , Minas Gerais , Brasil Published online: 21 Jun 2013. To cite this article: Cene Fier , Maja Zagmajster & Rodrigo L. Ferreira (2013) Two new Amphipod families recorded in South America shed light on an old biogeographical enigma, Systematics and Biodiversity, 11:2, 117-139, DOI: 10.1080/14772000.2013.788579 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/14772000.2013.788579 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. -
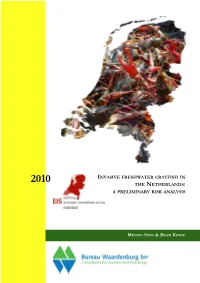
Menno Soes & Bram Koese
2010 INVASIVE FRESHWATER CRAYFISH IN THE NETHERLANDS: A PRELIMINARY RISK ANALYSIS MENNO SOES & BRAM KOESE Invasive crayfish in the Netherlands: a preliminary risk analysis Status Interim report Date April 1, 2010 Authors ir. D.M. Soes drs. B. Koese Commissioner Invasive Alien Species Team Ministery of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) Postbus 9102 6700 HC Wageningen Production Stichting European Invertebrate Survey - Nederland Postbus 9517 2300 RA Leiden Tel. 071-5687594 E-mail: [email protected] Bureau Waardenburg Adviseurs voor ecologie & milieu Postbus 365 4100 AJ Culemborg Tel. 0345-512710 E-mail [email protected] Reference number TRCPD/2010/0001 Rapportnumber EIS2010-01 Photo’s & graphs B. Koese/EIS-Nederland, unless specified Permission for publication Teamleader Aquatic Research Bureau Waardenburg Jos Spier Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. © Bureau Waardenburg bv / Stichting EIS-Nederland / Invasive Alien Species Team Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:2000. Invasive freshwater crayfish in the Netherlands: a risk analysis 3 PREFACE During the last decade increasing numbers of exotic crayfish are introduced in the Netherlands. -
Parámetros Biológico-Pesqueros Del Camarón De Vega, Parastacus Pugnax (Poeppig, 1835) En La Zona De Tiuquilemu, Región Del Bío-Bío”
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO FACULTAD DE RECURSOS NATURALES ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR “Parámetros biológico-pesqueros del camarón de vega, Parastacus pugnax (Poeppig, 1835) en la zona de Tiuquilemu, Región del Bío-Bío” Proyecto para optar al Título de Ingeniero Pesquero por Mauricio Andrés Ibarra Monsalva Valparaíso, 2010 Comisión del Proyecto de Título Profesor Guía : Sr. Patricio Arana E. Profesor : Sr. Gabriel Yany G. Profesor : Sr. Guido Plaza P. i ii Valparaíso 21 de junio de 2010 AUTORIZACIÓN DE USO Al presentar este Proyecto como último requisito para la obtención del título de Ingeniero Pesquero, autorizo a la biblioteca de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para que disponga libremente de ella. Autorizo además reproducciones parciales o totales de este Proyecto solamente con fines académicos. Sin mi consentimiento escrito, no se permitirán reproducciones con propósitos comerciales o fines de lucro. ______________________________ Mauricio Andrés Ibarra Monsalva iii Dedico este Proyecto de Título: A todos mis amigos, los que de una u otra forma han estado presentes en cada etapa de mi vida, los de infancia en la villa, los de O’higgins, los de educación básica y media, los de universidad, los de la “coordinadora”, los “VL” y a los que se han agregado en el transcurso de mi vida, no los mencionaré, porque la lista es extensa, sabrán a quienes me refiero. A mis familiares: abuela, tías, tíos, primos, cuñada y a los que ya no están en cuerpo, especialmente a la abuelita “Gina” (Q.E.P.D.), porque se que estuve presente en sus buenos deseos y en sus oraciones. -
FBE Tez Yazim Kilavuzu
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TATLI SU ĠSTAKOZU Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’UN DĠġĠ ÜREME SĠSTEMĠNĠN GELĠġĠMĠ ÇAĞDAġ ÜNĠġ Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji Programı DanıĢman Prof.Dr. Melike ERKAN Ocak, 2011 ĠSTANBUL ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TATLI SU ĠSTAKOZU Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’UN DĠġĠ ÜREME SĠSTEMĠNĠN GELĠġĠMĠ ÇAĞDAġ ÜNĠġ Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji Programı DanıĢman Prof.Dr. Melike ERKAN Ocak, 2011 ĠSTANBUL ĠSTANBUL ii Bu çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin T-4289 numaralı projesi ile desteklenmiĢtir. iii ÖNSÖZ Bu çalıĢma, hem yüksek besin değeri hem de ekonomik önemi nedeni ile ülkemizin baĢta gelen su ürünlerinden biri olan ve tatlı su istakozu Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)‟un diĢi üreme sisteminin geliĢimini açığa çıkarılması amacıyla yapılmıĢtır. Tüm lisansüstü eğitimim boyunca hem engin bilgi ve tecrübeleriyle hem de sonsuz manevi desteğiyle her zaman yanımda olan ve yetiĢmemde büyük emeği geçen çok değerli danıĢman hocam Sayın Prof. Dr. Melike ERKAN‟a en içten teĢekkürlerimi sunarım. ÇalıĢmalarım sırasında her zaman yanımda olup desteğini esirgemeyen çok sevgili arkadaĢım AraĢ. Gör. Yasemin TUNALI-AYUN‟a ve tezimin tamamlanması sürecindeki yardımları için arkadaĢlarım Uzm. Biyolog Simge KARA, Biyolog Emine ġEN‟e teĢekkür ederim. Hayatımın en güzel günlerini paylaĢtığım ve hayatımın sonuna kadar da birlikte olmayı dilediğim Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nihan YĠĞEN‟e tez çalıĢmam sırasında ve her zor zamanımdaki manevi desteğinden ötürü çok teĢekkür ederim. Tüm yaĢamım boyunca olduğu gibi lisansüstü eğitimim boyunca da sonsuz teĢvik ve emekleriyle bugüne gelmemi sağlayan, maddi ve manevi destekleri ile her zaman yanımda olan çok sevgili ANNEM ve BABAM‟a ve ayrıca yokluğuna hiçbir zaman alıĢamayacak olsam da yeri kalbimde ve hayatımda asla doldurulamayacak olan canım TEYZEM‟e sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. -
XXVIII Congreso De Ciencias Del Mar Sociedad Chilena De Ciencias Del Mar • Universidad Andrés Bello
XXVIII Congreso de Ciencias del Mar Sociedad Chilena de Ciencias del Mar • Universidad Andrés Bello XXVIII CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR 26 - 30 de mayo 2008 Viña del Mar 1 XXVIII Congreso de Ciencias del Mar Sociedad Chilena de Ciencias del Mar • Universidad Andrés Bello ÍNDICE Programa de Presentaciones 7 Programación Charlas Magistrales 31 Dr. Pablo Valenzuela: “Patógenos de salmón en cautiverio: progreso en el estudio biológico, detección y desarrollo de vacunas para su control.” Cahrla Ceremonia Inaugural 32 Dr. Roberto De Andrade: “Conservación de la biodiversidad de importancia mundial a lo largo de la costa chilena” 32 Dr. Wolfgang Stotz, Jaime Aburto, Luis Caillaux, Domingo Lancellotti & Marcelo Valdebenito: “Propuesta de una nueva concepción para el ordenamiento y administración de la Pesca Artesanal: ¿Son las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) la pieza central?” 33 Dr. Rodrigo Hucke-Gaete: “La ballena azul en Chile: un gigante para la conservación marina” 34 Programación Simposios 35 Resúmenes Exposiciones Orales 59 Resúmenes exposiciones paneles 149 Índice de Autores 235 2 XXVIII Congreso de Ciencias del Mar Sociedad Chilena de Ciencias del Mar • Universidad Andrés Bello XXVIII CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR Universidad Andrés Bello Sociedad Chilena de Ciencias del Mar EDITADO POR Comité Organizador XXVIII Congreso de Ciencias del Mar EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN Erika Poblete A. Carolina Rojas L. Lorena Contreras DISEÑO PORTADA Erika Poblete A. Carolina Rojas L. Fernando Burgos Lorena Contreras FOTO PORTADA Centro de Investigaciones Marinas Quintay IMPRESIÓN www.a3Impresores.cl 3 XXVIII Congreso de Ciencias del Mar Sociedad Chilena de Ciencias del Mar • Universidad Andrés Bello PRESENTACIÓN La Escuela de Ciencias del Mar perteneciente a la Facultad de Ecología y Recursos Naturales de la Univer- sidad Andrés Bello, en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, dan la bienvenida al XXVIII Congreso de Ciencias del Mar.