Decapoda: Anomura: Diogenidae): Uma Abordagem Latitudinal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Classification of Living and Fossil Genera of Decapod Crustaceans
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 2009 Supplement No. 21: 1–109 Date of Publication: 15 Sep.2009 © National University of Singapore A CLASSIFICATION OF LIVING AND FOSSIL GENERA OF DECAPOD CRUSTACEANS Sammy De Grave1, N. Dean Pentcheff 2, Shane T. Ahyong3, Tin-Yam Chan4, Keith A. Crandall5, Peter C. Dworschak6, Darryl L. Felder7, Rodney M. Feldmann8, Charles H. J. M. Fransen9, Laura Y. D. Goulding1, Rafael Lemaitre10, Martyn E. Y. Low11, Joel W. Martin2, Peter K. L. Ng11, Carrie E. Schweitzer12, S. H. Tan11, Dale Tshudy13, Regina Wetzer2 1Oxford University Museum of Natural History, Parks Road, Oxford, OX1 3PW, United Kingdom [email protected] [email protected] 2Natural History Museum of Los Angeles County, 900 Exposition Blvd., Los Angeles, CA 90007 United States of America [email protected] [email protected] [email protected] 3Marine Biodiversity and Biosecurity, NIWA, Private Bag 14901, Kilbirnie Wellington, New Zealand [email protected] 4Institute of Marine Biology, National Taiwan Ocean University, Keelung 20224, Taiwan, Republic of China [email protected] 5Department of Biology and Monte L. Bean Life Science Museum, Brigham Young University, Provo, UT 84602 United States of America [email protected] 6Dritte Zoologische Abteilung, Naturhistorisches Museum, Wien, Austria [email protected] 7Department of Biology, University of Louisiana, Lafayette, LA 70504 United States of America [email protected] 8Department of Geology, Kent State University, Kent, OH 44242 United States of America [email protected] 9Nationaal Natuurhistorisch Museum, P. O. Box 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands [email protected] 10Invertebrate Zoology, Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 10th and Constitution Avenue, Washington, DC 20560 United States of America [email protected] 11Department of Biological Sciences, National University of Singapore, Science Drive 4, Singapore 117543 [email protected] [email protected] [email protected] 12Department of Geology, Kent State University Stark Campus, 6000 Frank Ave. -

Spermatophore Morphology of the Endemic Hermit Crab Loxopagurus Loxochelis (Anomura, Diogenidae) from the Southwestern Atlantic - Brazil and Argentina
Invertebrate Reproduction and Development, 46:1 (2004) 1- 9 Balaban, Philadelphia/Rehovot 0168-8170/04/$05 .00 © 2004 Balaban Spermatophore morphology of the endemic hermit crab Loxopagurus loxochelis (Anomura, Diogenidae) from the southwestern Atlantic - Brazil and Argentina MARCELO A. SCELZ01*, FERNANDO L. MANTELATT02 and CHRISTOPHER C. TUDGE3 1Departamento de Ciencias Marinas, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET, Funes 3350, (B7600AYL), Mar del Plata, Argentina Tel. +54 (223) 475-1107; Fax: +54 (223) 475-3150; email: [email protected] 2Departamento de Biologia, Faculdade de Filosojia, Ciencias e Letras de Ribeirao Preto (FFCLRP), Universidade de Sao Paulo (USP), Av. Bandeirantes 3900, Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brasil 3Department of Systematic Biology, National Museum ofNatural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013-7012, USA Received 10 June 2003; Accepted 29 August 2003 Summary The spermatophore morphology of the endemic and monotypic hermit crab Loxopagurus loxochelis from the southwestern Atlantic is described. The spermatophores show similarities with those described for other members of the family Diogenidae (especially the genus Cliba narius), and are composed of three major regions: a sperm-filled, circular flat ampulla; a columnar stalk; and a pedestal. The morphology and size of the spermatophore of L. loxochelis, along with a distinguishable constriction or neck that penetrates almost halfway into the base of the ampulla, are characteristic of this species. The size of the spermatophore is related to hermit crab size. Direct relationships were found between the spermatophore ampulla width, total length, and peduncle length with carapace length of the hermit crab. These morphological characteristics and size of the spermatophore ofL. -

Carcinization in the Anomura–Fact Or Fiction? II. Evidence from Larval
Contributions to Zoology, 73 (3) 165-205 (2004) SPB Academic Publishing bv, The Hague Carcinization in the Anomura - fact or fiction? II. Evidence from larval, megalopal and early juvenile morphology Patsy+A. McLaughlin Rafael Lemaitre² & Christopher+C. Tudge² ¹, 1 Shannon Point Marine Center, Western Washington University, 1900 Shannon Point Road, Anacortes, 2 Washington 98221-908IB, U.S.A; Department ofSystematic Biology, NationalMuseum ofNatural History, Smithsonian Institution, P.O. Box 37012, Washington, D.C. 20013-7012, U.S.A. Keywords: Carcinization, Anomura, Paguroidea, Lithodidae, Paguridae, Lomisidae, Porcellanidae, larval, megalopal and early juvenile morphology, pleonal tergites Abstract Existing hypotheses 169 Developmental data 170 Results 177 In this second carcinization in the Anomura ofa two-part series, From hermit to king, or king to hermit? 179 has been reviewed from early juvenile, megalopal, and larval Analysis by Richter & Scholtz 179 perspectives. Data from megalopal and early juvenile develop- Questions of asymmetry- 180 ment in ten ofthe Lithodidae have genera provided unequivo- Pleopod loss and gain 18! cal evidence that earlier hypotheses regarding evolution ofthe Uropod loss and transformation 182 king crab erroneous. of and pleon were A pattern sundering, - Polarity or what constitutes a primitive character decalcification has been traced from the megalopal stage through state? 182 several early crabs stages in species ofLithodes and Paralomis, Semaphoronts 184 with evidence from in other supplemental species eight genera. Megalopa/early juvenile characters and character Of major significance has been the attention directed to the states 185 inmarginallithodidsplatesareofnotthehomologoussecond pleomere,with thewhichadult whenso-calledseparated“mar- Cladistic analyses 189 Lomisoidea 192 ginal plates” ofthe three megalopal following tergites. -

Instituto De Biociências - Câmpus Botucatu
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - CÂMPUS BOTUCATU TESE DE DOUTORADO DINÂMICA POPULACIONAL E BIODIVERSIDADE DOS ERMITÕES (DECAPODA, ANOMURA) AO LONGO DO LITORAL SUDESTE DO BRASIL Gilson Stanski Orientador: Prof. Dr. Antonio Leão Castilho BOTUCATU - SP 2019 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - CÂMPUS BOTUCATU TESE DE DOUTORADO DINÂMICA POPULACIONAL E BIODIVERSIDADE DOS ERMITÕES (DECAPODA, ANOMURA) AO LONGO DO LITORAL SUDESTE DO BRASIL Tese de Doutorado apresentada ao programa de Pós-Graduação do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista – UNESP – Campus de Botucatu, como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciências Biológicas – Zoologia. Gilson Stanski Orientador: Prof. Dr. Antonio Leão Castilho BOTUCATU – SP 2019 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉC. AQUIS. TRATAMENTO DA INFORM. DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CÂMPUS DE BOTUCATU - UNESP BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: LUCIANA PIZZANI-CRB 8/6772 Stanski, Gilson. Dinâmica populacional e biodiversidade dos ermitões (Decapoda, Anomura) ao longo do litoral sudeste do Brasil / Gilson Stanski. - Botucatu, 2019 Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Instituto de Biociências de Botucatu Orientador: Antonio Leão Castilho Capes: 20400004 1. Caranguejo. 2. Ecologia. 3. Habitat (Ecologia). 4. Decapode (Crustaceo). Palavras-chave: Anomura; Ecologia; Fauna acompanhante; Partilha de habitat; Recursos ambientais. Você não decide seu futuro. Você decide seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro (autor desconhecido) Dedico a presente Tese de Doutorado aos meus irmãos e em especial a meu pai Antonio e minha mãe Nair (in memorian), sem os quais seria impossível concretizar esse sonho. Agradecimentos 2019 AGRADECIMENTOS Primeiramente a Deus. Ao professor Dr. -
Crustacea, Anomura, Paguridae)
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 449: 57–67An (2014) unusual new species of paguroid (Crustacea, Anomura, Paguridae)... 57 doi: 10.3897/zookeys.449.8541 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research An unusual new species of paguroid (Crustacea, Anomura, Paguridae) from deep waters of the Gulf of Mexico Rafael Lemaitre1, Ana Rosa Vázquez-Bader2, Adolfo Gracia2 1 Department of Invertebrate Zoology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 4210 Silver Hill Road, Suitland, MD 20746, USA 2 Laboratorio de Ecología Pesquera de Crustáceos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Av. Universidad # 3000, Universidad Nacional Autónoma de Méxi- co, CU, Distrito Federal, 04510, México Corresponding author: Rafael Lemaitre ([email protected]) Academic editor: S. De Grave | Received 2 September 2014 | Accepted 2 October 2014 | Published 22 October 2014 http://zoobank.org/464620C6-C2F3-421F-8B1B-46179D3F5A9A Citation: Lemaitre R, Vázquez-Bader AR, Gracia A (2014) An unusual new species of paguroid (Crustacea, Anomura, Paguridae) from deep waters of the Gulf of Mexico. ZooKeys 449: 57–67. doi: 10.3897/zookeys.449.8541 Abstract A new hermit crab species of the family Paguridae, Tomopaguropsis ahkinpechensis sp. n., is described from deep waters (780–827 m) of the Gulf of Mexico. This is the second species of Tomopaguropsis known from the western Atlantic, and the fifth worldwide. The new species is morphologically most similar to a species from Indonesia, T. crinita McLaughlin, 1997, the two having ocular peduncles that diminish in width distally, reduced corneas, dense cheliped setation, and males lacking paired pleopods 1. The calcified plates on the branchiostegite and anterodorsally on the posterior carapace, and the calcified first pleonal somite that is not fused to the last thoracic somite, are unusual paguroid characters. -

Ocupação De Conchas De Gastrópodes Por Ermitões (Decapoda, Anomura) No Litoral De Rio Grande, Rio Grande Do Sul, Brasil
218 AYRES-PERES et al. Ocupação de conchas de gastrópodes por ermitões (Decapoda, Anomura) no litoral de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil Luciane Ayres-Peres1, Carolina C. Sokolowicz1, Carla B. Kotzian2, Paulo J. Rieger3 & Sandro Santos1 1. Laboratório de Carcinologia, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Santa Maria, 97.105-900 Santa Maria, RS. ([email protected]; [email protected]; [email protected]) 2. Laboratório de Malacologia, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Santa Maria, 97.105-900 Santa Maria, RS. ([email protected]) 3. Laboratório de Zoologia de Crustáceos Decápodos, Departamento de Ciências Morfobiológicas, Fundação Universidade de Rio Grande, 96.201-900 Rio Grande, RS. ([email protected]) ABSTRACT. Occupation of gastropod shells by hermit crabs (Decapoda, Anomura) in the littoral of Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil. The present study aimed to characterize the shell occupation by hermit crabs at the Rio Grande city, state of Rio Grande do Sul. Animals were sampled at 14 radials in Rio Grande, between 12 and 50 meters depth. Each hermit crab and its respective shell were identified, weighted and measured. A total of 408 animals were captured, of families Paguridae and Diogenidae; the most abundant species were Dardanus insignis (de Saussure, 1858) and Loxopagurus loxochelis (Moreira, 1901). The animals occupied shells from 13 gastropod species, mainly of Buccinanops lamarckii (Kiener, 1834) and B. gradatum (Deshayes, 1844). Dardanus insignis utilized shells from 12 of the 13 mollusks species registered; L. loxochelis from nine ones. In a general way, the shell occupation patterns present a correlation between the hermit crab size and the shell size, in the case of the two most abundant species the strongest correlation was between their size/weight and shell aperture width, evidencing that shells occupation is given not only by their local availability, but also by the relationship between hermit crabs variables and gastropod shells. -

Redescription of Tomopaguroides Valdiviae (Balss, 1911) (Crustacea, Decapoda, Anomura, Paguroidea, Paguridae) with Notes on Variation and Female Morphology
Redescription of Tomopaguroides valdiviae (Balss, 1911) (Crustacea, Decapoda, Anomura, Paguroidea, Paguridae) with notes on variation and female morphology Patsy A. MCLAUGHLIN Shannon Point Marine Center, Western Washington University, 1900 Shannon Point Road, Anacortes, WA 98221-9081B (USA) [email protected] McLaughlin P. A. 2004. — Redescription of Tomopaguroides valdiviae (Balss, 1911) (Crustacea, Decapoda, Anomura, Paguroidea, Paguridae) with notes on variation and female morphology. Zoosystema 26 (3) : 469-481. ABSTRACT A detailed diagnosis of the monotypic genus Tomopaguroides Balss, 1912 is presented for the first time, together with the redescription of its type species, T. valdiviae (Balss, 1911) from the lectotype, herein designated, and supple- KEY WORDS mental specimens collected in New Caledonia and the Philippine, Salomon Crustacea, Decapoda, and Fiji islands. These collection areas represent major range extensions from Anomura, the type locality in the Indian Ocean off Somalia, the only previously Paguroidea, Paguridae, confirmed locality for this species. The genus is one of only two in the family Tomopaguroides valdiviae, Paguridae characterized by the presence of only paired, modified male second lectotype, pleopods. Female attributes, heretofore unknown, are described. Significant redescription, variation, intraspecific morphological variation is reported and an anomaly attributed to anomalous regeneration. regeneration is documented. RÉSUMÉ Redescription de Tomopaguroides valdiviae (Balss, 1911) (Crustacea, Decapoda, Anomura, Paguroidea, Paguridae) et notes sur la variation et la morphologie femelle. Une diagnose détaillée du genre monotypique Tomopaguroides Balss, 1912 est présentée pour la première fois, avec la redescription de son espèce type, T. valdiviae (Balss, 1911) à partir du lectotype, désigné ici, et de spécimens MOTS CLÉS additionnels récoltés en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines et aux îles Crustacea, Decapoda, Salomon et Fidji. -
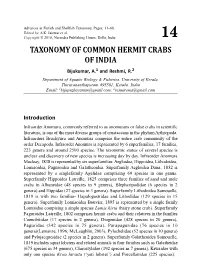
TAXONOMY of COMMON HERMIT CRABS of INDIA Bijukumar, A
Advances in Finfish and Shellfish Taxonomy, Pages: 11–68 Edited by: A.K. Jaiswar et al. Copyright © 2018, Narendra Publishing House, Delhi, India 14 TAXONOMY OF COMMON HERMIT CRABS OF INDIA Bijukumar, A. 1 and Reshmi, R. 2 Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala, Thiruvananthapuram 695581, Kerala, India Email: 1bi [email protected]; 2r [email protected] Introduction Infraorder Anomura, commonly referred to as anomurans or false crabs in scientific literature, is one of the most diverse groups of crustaceans in the phylum Arthropoda. Infraorders Brachyura and Anomura comprise the entire crab community of the order Decapoda. Infraorder Anomura is represented by 6 superfamilies, 17 families, 223 genera and around 2500 species. The taxonomic status of several species is unclear and discovery of new species is increasing day by day. Infraorder Anomura Macleay, 1838 is represented by six superfamilies: Aegloidea, Hippoidea, Lithodoidea, Lomisoidea, Paguroidea and Galatheoidea. Superfamily Aegloidea Dana, 1852 is represented by a singlefamily Agelidae comprising 69 species in one genus. Superfamily Hippoidea Latreille, 1825 comprises three families of sand and mole crabs in Albuneidae (48 species in 9 genera), Blepharipodidae (6 species in 2 genera) and Hippidae (27 species in 3 genera). Superfamily Lithodoidea Samouelle, 1819 is with two families Hapalogastridae and Lithodidae (129 species in 15 genera). Superfamily Lomisoidea Bouvier, 1895 is represented by a single family Lomisidae compising a single species Lomis hirta (hairy stone crab). Superfamily Paguroidea Latreille, 1802 comprises hermit crabs and their relatives in the families Coenobitidae (17 species in 2 genera), Diogenidae (428 species in 20 genera), Paguridae (542 species in 75 genera), Parapaguridae (76 species in 10 genera)(Lemaitre, 1996; McLaughlin, 2003), Pylochelidae (52 species in 10 genera) and Pylojacquesidae (2 species in 2 genera). -

Spermatophore and Gonopore Morphology of the Southwestern-Atlantic Hermit Crab Pagurus Exilis (Benedict, 1892) (Anomura, Paguridae) Marcelo A
Zoological Studies 49(3): 421-433 (2010) Spermatophore and Gonopore Morphology of the Southwestern-Atlantic Hermit Crab Pagurus exilis (Benedict, 1892) (Anomura, Paguridae) Marcelo A. Scelzo1, Marina Z. Fantucci2, and Fernando L. Mantelatto2,* 1Departamento de Ciencias Marinas, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET. Funes 3350, (AYL7600B), Mar del Plata, Argentina. E-mail:[email protected] 2Laboratory of Bioecology and Crustacean Systematics, Department of Biology, Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto (FFCLRP), University of São Paulo, Av. Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto, SP CEP 14040-901, Brazil E-mail [email protected] (Accepted September 23, 2009) Marcelo A. Scelzo, Marina Z. Fantucci, and Fernando L. Mantelatto (2010) Spermatophore and gonopore morphology of the southwestern-Atlantic hermit crab Pagurus exilis (Benedict, 1892) (Anomura, Paguridae). Zoological Studies 49(3): 421-433. The form and function of the spermatophore have been used as a complementary tool in studies of the reproductive biology and systematics of hermit crabs. In this context, we describe the spermatophore and gonopore morphology of Pagurus exilis. The spermatophores were extracted from the distal part of the vas deferens of specimens collected in Argentina and Brazil. The spermatophores were composed of 3 major regions: a main ampulla (with a sperm capsule inside and an accessory ampulla at the base), a stalk, and a pedestal. Each spermatophore had a distinct dorsolateral suture line around the ampulla, where the rupture occurs to release the sperm. The spermatophore total length was 1.5 times the main ampulla length. The main ampulla was oval and slightly flattened. A triangular accessory ampulla extended from the main ampulla base to the pedestal on 1 side, and contained no to several sperm. -

A New Genus and Species of Hermit Crab (Decapoda: Anomura: Paguridae) from Seamounts Off South-Eastern Tasmania, Australia
Memoirs of Museum Victoria 60(2): 229–236 (2003) ISSN 1447-2546 (Print) 1447-2554 (On-line) http://www.museum.vic.gov.au/memoirs A new genus and species of hermit crab (Decapoda: Anomura: Paguridae) from seamounts off south-eastern Tasmania, Australia PATSY A. MCLAUGHLIN Shannon Point Marine Center, Western Washington University, 1900 Shannon Point Road, Anacortes, WA98221-9081B, USA ([email protected]) Abstract McLaughlin, P.A. 2003. A new genus and species of hermit crab (Decapoda: Anomura: Paguridae) from seamounts off south-eastern Tasmania, Australia. Memoirs of Museum Victoria 60(2): 229–236. A new and highly variable species, representing a new genus of hermit crabs, is described and illustrated. In addition to the morphological changes in shape and armature of the chelipeds associated with growth in Bythiopagurus macro- colus, gen. nov., sp. nov., this species exhibits a singular development of the left chela that may be an adaptation to its specialised habitat among colonies of the stony coral Solenosmilia variabilis Duncan. The similarities seen among the genera Bythiopagurus, gen. nov., Michelopagurus McLaughlin and Icelopagurus McLaughlin appear the be superficial and convergent; Bythiopagurus appears phylogenetically related to the Pylopaguropsis group of genera characterised by 13 pairs of bi- or quadriserial gills. Key words Crustacea, Anomura, Paguridae, new genus, new species, Tasmania, seamounts, Bythiopagurus Introduction measurement of shield length less informative than for most pagurid genera. The ratio was calculated of corneal diameter The seamount region of south-eastern Tasmania is a distinctive (maximum measured width of the left cornea) to length of the deep-water environment extensively surveyed for the first time ocular peduncle (length of the left ultimate peduncular seg- between 20 January and 1 February 1997. -

Zootaxa, Larvae of Two Species Of
TERMS OF USE This pdf is provided by IVIagnolia Press for private/researcii use. Commercial sale or deposition in a public library or website is prohibited. Zootaxa 1911: 52-68 (2008) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ '7t~\t~\'\^ \^^ \ Copyright © 2008 • Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Larvae of two species of Trizocheles (Decapoda: Anomura: Paguroidea: Pylochelidae: Trizochelinae), description of the adult of one, and preliminary implications of development on pylochelid phylogeny PATSY A. MCLAUGHLIN'& RAFAEL LEMAITRE' 'shannon Point Marine Center, Western Washington University, 1900 Shannon Point Road, Anacortes, WA 98221-4042, U.S.A . E-mail: [email protected] ^Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Invertebrate Zoology, P.O. Box 37012, Washington, D. C. 20013-7012, U.S.A. E-mail: [email protected] Abstract The larvae of two species of the pylochelid genus Trizocheles are described from prematurely hatched specimens and compared with earlier described larvae of Pylocheles (Pylocheles) and Pomatocheles. Although all are lecithotrophic and exhibit marked advanced development, differences in the larval morphology among the three genera are profound. Con- sideration is given to these differences as they relate to development in the entire Paguroidea, and the possible impact they may have on pylochelid phylogeny. As one of the Trizocheles species is undescribed, adults as well as larvae are described and illustrated. Key words: Decapoda, Anomura, Paguroidea, Pylochelidae, Trizochelinae, Trizocheles, Pylocheles, Pomatocheles, new species, advanced and lecithotrophic development, phylogeny Introduction As noted by McLaughlin et al. (2007), the Paguroidea provide a wide range of evolutionary enigmas. This is especially true for the Pylochelidae. -

Biodiversidade Marinha Da Ilha Do Maranhão Livro Publicado Com Recursos Provenientes Do Edital N
Biodiversidade Marinha da Ilha do Maranhão Livro publicado com recursos provenientes do Edital n. 24/2010 – Programa de Apoio à Publicação (APUB/FAPEMA) JORGE LUIZ SILVA NUNES MAURÍCIO ARAÚJO MENDONÇA (Organizadores) Biodiversidade Marinha da Ilha do Maranhão São Luís 2013 Copyright © 2013 by EDUFMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO REITOR: Prof. Dr. Natalino Salgado Filho VICE-REITOR: Prof. Dr. Antonio José Silva Oliveira DIRETOR DA EDUFMA E PRESIDENTE DO CONSELHO EDITORIAL Prof. Dr. Sanatiel de Jesus Pereira CONSELHO EDITORIAL Prof. Dr. André Luiz Gomes da Silva, Prof. Dr. Antônio Marcus de Andrade Paes, Prof. Dr. Aristófanes Corrêa Silva, Prof. Dr. César Augusto Castro, Sra. Luhilda Ribeiro Silveira, Prof. Dr. Marcelo Domingos Sampaio Carneiro, Profª Drª Márcia Manir Miguel Feitosa, Prof. Dr. Marcos Fábio Belo Matos Capa e Editoração Eletrônica Roberto Sousa Carvalho Foto da Capa Caroline S. Rogers Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão Biodiversidade marinha da Ilha do Maranhão / Jorge Luiz Sil- va Nunes, Maurício Araújo Mendonça (orgs.). – São Luís: EDUFMA, 2013. 208 p. ISBN 978-85-7862-293-0 1. Biodiversidade marinha – Maranhão. 2. Vida marinha – Maranhão. I. Nunes, Jorge Luiz Silva. II. Mendonça, Maurício Araújo. CDD 577.7 CDU 574.1(26) Impresso no Brasil Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, microfilmagem, gravação ou outro, sem escrita permissão do autor. Agradecimentos Nossos agradecimentos aos pesquisadores, revisores, amigos e alunos cuja contribuição foi extremamente relevante e inspiradora para a elaboração deste livro: Dra.