Configurações, 17 | 2016 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prospects for Commercial Agriculture in the Guinea Savannah Zone and Beyond Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
49046 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Agriculture andRuralAgriculture Development DIRECTIONS INDEVELOPMENT the GuineaSavannah Zone andBeyond Prospects forCommercialProspects Agriculture in Awakening Africa’s Awakening Sleeping Giant Awakening Africa’s Sleeping Giant Awakening Africa’s Sleeping Giant Prospects for Commercial Agriculture in the Guinea Savannah Zone and Beyond © 2009 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 Telephone 202-473-1000 Internet www.worldbank.org E-mail [email protected] All rights reserved. 1 2 3 4 :: 12 11 10 09 This volume is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The bound- aries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permission to reproduce portions of the work promptly. For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com. -

Coversheet for Thesis in Sussex Research Online
A University of Sussex DPhil thesis Available online via Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/ This thesis is protected by copyright which belongs to the author. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Please visit Sussex Research Online for more information and further details The Route of the Land’s Roots: Connecting life-worlds between Guinea-Bissau and Portugal through food-related meanings and practices Maria Abranches Doctoral Thesis PhD in Social Anthropology UNIVERSITY OF SUSSEX 2013 UNIVERSITY OF SUSSEX PhD in Social Anthropology Maria Abranches Doctoral Thesis The Route of the Land’s Roots: Connecting life-worlds between Guinea-Bissau and Portugal through food-related meanings and practices SUMMARY Focusing on migration from Guinea-Bissau to Portugal, this thesis examines the role played by food and plants that grow in Guinean land in connecting life-worlds in both places. Using a phenomenological approach to transnationalism and multi-sited ethnography, I explore different ways in which local experiences related to food production, consumption and exchange in the two countries, as well as local meanings of foods and plants, are connected at a transnational level. One of my key objectives is to deconstruct some of the binaries commonly addressed in the literature, such as global processes and local lives, modernity and tradition or competition and solidarity, and to demonstrate how they are all contextually and relationally entwined in people’s life- worlds. -

West African Chimpanzees
Status Survey and Conservation Action Plan West African Chimpanzees Compiled and edited by Rebecca Kormos, Christophe Boesch, Mohamed I. Bakarr and Thomas M. Butynski IUCN/SSC Primate Specialist Group IUCN The World Conservation Union Donors to the SSC Conservation Communications Programme and West African Chimpanzees Action Plan The IUCN Species Survival Commission is committed to communicating important species conservation information to natural resource managers, decision makers and others whose actions affect the conservation of biodiversity. The SSC’s Action Plans, Occasional Papers, newsletter Species and other publications are supported by a wide variety of generous donors including: The Sultanate of Oman established the Peter Scott IUCN/SSC Action Plan Fund in 1990. The Fund supports Action Plan development and implementation. To date, more than 80 grants have been made from the Fund to SSC Specialist Groups. The SSC is grateful to the Sultanate of Oman for its confidence in and support for species conservation worldwide. The Council of Agriculture (COA), Taiwan has awarded major grants to the SSC’s Wildlife Trade Programme and Conser- vation Communications Programme. This support has enabled SSC to continue its valuable technical advisory service to the Parties to CITES as well as to the larger global conservation community. Among other responsibilities, the COA is in charge of matters concerning the designation and management of nature reserves, conservation of wildlife and their habitats, conser- vation of natural landscapes, coordination of law enforcement efforts, as well as promotion of conservation education, research, and international cooperation. The World Wide Fund for Nature (WWF) provides significant annual operating support to the SSC. -

World Bank Document
The World Bank Guinea Integrated Agricultural Development Project (GIADP/PDAIG) (P164326) Note to Task Teams: The following sections are system generated and can only be edited online in the Portal. Please delete this note when finalizing the document. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Combined Project Information Documents / Integrated Safeguards Datasheet (PID/ISDS) Public Disclosure Authorized Appraisal Stage | Date Prepared/Updated: 05-May-2018 | Report No: PIDISDSA23847 Public Disclosure Authorized Apr 01, 2018 Page 1 of 26 The World Bank Guinea Integrated Agricultural Development Project (GIADP/PDAIG) (P164326) BASIC INFORMATION OPS_TABLE_BASIC_DATA A. Basic Project Data Country Project ID Project Name Parent Project ID (if any) Guinea P164326 Guinea Integrated Agricultural Development Project (GIADP/PDAIG) Region Estimated Appraisal Date Estimated Board Date Practice Area (Lead) AFRICA 30-Apr-2018 18-Jun-2018 Agriculture Financing Instrument Borrower(s) Implementing Agency Investment Project Financing Ministry of Economy and Ministry of Agriculture Finance Proposed Development Objective(s) The project development objective is to increase agricultural productivity and market access for producers and agribusiness Small and Medium Enterprises (SMEs) in selected value chains in the project areas. Components Component 1: Increasing agricultural productivity Component 2: Increasing Market Access Component 3: Strenghening institutional capacity Component 4: Project coordination and implementation PROJECT FINANCING -

USDA/FAS Food for Progress LIFFT-Cashew
USDA/FAS Food for Progress LIFFT-Cashew SeGaBi Cashew Value Chain Study 2 March 2018 CONTACT Katarina Kahlmann Regional Director, West Africa TechnoServe [email protected] +1 917 971 6246 +225 76 34 43 74 Melanie Kohn Chief of Party, LIFFT-Cashew Shelter For Life International 1 [email protected] +1-763-253-4082 TABLE OF CONTENTS ACRONYMS 4 DEFINITION OF TECHNICAL TERMS 8 1 EXECUTIVE SUMMARY 10 2 INTRODUCTION 13 3 METHODOLOGY 15 3.1 DESK RESEARCH AND LITERATURE REVIEW 15 3.2 DATA COLLECTION 16 3.3 ANALYSIS AND REPORT WRITING 16 3.4 A NOTE ON SENEGALESE AND GAMBIAN CASHEW SECTOR INFORMATION 17 4 GENERAL CASHEW BACKGROUND INFORMATION 18 4.1 PRODUCTION 18 4.2 SEASONALITY 20 4.3 PROCESSING 22 4.4 CASHEW AND CLIMATE CHANGE 24 5 OVERVIEW AND TRENDS OF GLOBAL CASHEW SECTOR 26 5.1 GLOBAL KERNEL DEMAND 26 5.2 PRODUCTION 31 5.3 PROCESSING 36 5.4 SUMMARY AND OUTLOOK 40 6 REGIONAL OVERVIEW 44 6.1 REGIONAL RCN TRADE 46 6.2 REGIONAL POLICIES AND COLLABORATION 50 6.3 ACCESS TO FINANCE 51 6.4 MARKET INFORMATION SYSTEMS 56 7 GUINEA-BISSAU VALUE CHAIN ANALYSIS 58 7.1 VALUE CHAIN OVERVIEW 61 7.2 SECTOR ORGANIZATIONS 64 7.3 PRODUCTION 67 7.4 RCN TRADE 74 7.5 PROCESSING 76 7.6 MARKET LINKAGES 82 7.7 KERNEL MARKETS 83 8 SENEGAL VALUE CHAIN ANALYSIS 85 8.1 VALUE CHAIN OVERVIEW 86 2 8.2 SECTOR ORGANIZATIONS 89 8.3 PRODUCTION 90 8.4 RCN TRADE 100 8.5 PROCESSING 101 8.6 MARKET LINKAGES 106 8.7 KERNEL MARKETS 107 9 THE GAMBIA VALUE CHAIN ANALYSIS 109 9.1 VALUE CHAIN OVERVIEW 110 9.2 SECTOR ORGANIZATIONS 113 9.3 PRODUCTION 114 9.4 RCN TRADE 119 9.5 PROCESSING 120 -

REPUBLIC of GUINEA Labor–Justice–Solidarity
REPUBLIC OF GUINEA Labor–Justice–Solidarity MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK NATIONAL STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF RICE GROWING APRIL 2009 Table of contents LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 5 SUMMARY 6 I. INTRODUCTION 8 II. REVIEWING THE RICE SECTOR 9 2.1. The policy position of rice 10 2.2 Preferences and demand estimates 10 2.3 Typology and number of rice farmers, processors and marketers 11 2.4. Gender dimensions 13 2.5. Comparative advantage of national rice production 14 III. CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 14 3.1. The potential of local rice for rural poverty reduction and economic growth 14 3.2. The land system 15 3.3. Social issues 16 3.4. Trans-border and regional issues 16 3.5. Knowledge and lessons learnt from R&D in rice 16 VI. PRIORITY AREAS AND PERSPECTIVES 17 4.1. Ranking by order of priority in terms of potential contribution to national production 17 4.2. Identification and ranking specific environmental challenges and related opportunities by order of priority 18 4.3. Identification of policy challenges/opportunities 20 4.3.1. Policy challenges 20 4.3.1. Opportunities 21 V. VISION AND FRAMEWORK OF THE NATIONAL RICE STRATEGY 21 5.1. Objectives of rice production 21 5.5.1. Overall target: 21 5.5.2. Quantified objectives: 21 5.2.3. Strategy development phase 23 5.2.4. Key interventions 24 5.2.5 Scientists, technicians and agricultural advisory agents in 2008 and beyond 25 5.2.6. Governance of the Rice Growing Development Strategy 25 5.2.7. -

RAPID Assessment of the HORTICULTURE SECTOR in Guinea
RAPID ASSESSMENT OF THE HORTICULTURE SECTOR IN GUINEA OCTOBER 29, 2015 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by the Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Horticulture (Horticulture Innovation Lab) at the University of California, Davis. RAPID ASSESSMENT OF THE HORTICULTURE SECTOR IN GUINEA OCTOBER 29, 2015 This publication was produced for the United States Agency for International Development. It was prepared by the Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Horticulture (Horticulture Innovation Lab) at the University of California, Davis. CONTRIBUTORS: Amanda Crump, Brenda Dawson, Abdoul Khalighi Diallo, Britta Hansen, Kalifala Fofana, Bah Amadou Pita, Peter C. Shapland, Hatcheu Emil Tchawe, and Jason Tsichlis All photos by Peter C. Shapland. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. CONTENTS Acronyms 4 Executive Summary 5 Summary of Recommendations 6 Introduction 9 About Guinea 9 Methods: Rapid Assessment Methodology 13 Farmer Assessment Methods 13 Stakeholder Assessment Methodology 15 Market Assessment Methodology 15 Results and Discussion 16 Farmer and Village Leader Assessment of the Horticulture Sector in Guinea 16 Human and Institutional Capacity Assessment of the Horticulture Sector in Guinea 27 Market and Trade Assessment of the Horticulture Sector in Guinea 29 Nutrition and Horticulture -

Report on the African Soil Partnership Workshop 20 – 22 May 2015 Coconut Grove Hotel Elmina, Ghana
Report on the African Soil Partnership Workshop 20 – 22 May 2015 Coconut Grove Hotel Elmina, Ghana Acknowledgement The African Soil Partnership Workshop was organized and implemented by the FAO and funded by the European Commission through the Global Soil Partnership. We thank all participants from Sub-Saharan Africa for their active participation during the workshop and for their commitment towards the implementation of future GSP activities through the African Soil Partnership. Our gratitude goes to the European Commission who financially supported this workshop. This report was compiled by Liesl Wiese and Ronald Vargas. The content comes, in part, directly from the presentations made by participants from each country and all presenters are thanked for their valuable contributions. The discussions in plenary sessions are also reflected and the recommendations emanating from these deliberations are provided. Each workshop participant is warmly acknowledged for his/her active contribution representing their country or institution. This report should provide valuable information and suggestions to feed into the finalization of an Implementation Plan for the African Soil Partnership. Table of Contents Acknowledgement .......................................................................................................................... 2 Table of Contents ............................................................................................................................ 3 Table of Figures .............................................................................................................................. -

Climate-Smart Agriculture in Guinea-Bissau
Climate-Smart Agriculture in Guinea-Bissau Climate-smart agriculture (CSA) considerations P• The economic wealth of Guinea-Bissau is mainly through zai techniques etc. is becoming obvious in in its natural capital with agriculture (crop, forestry, both small and large scale production systems. fishing and livestock farming) accounting for 4 percent of the country’s GDP. Similar to most P• The enabling environment for CSA lies in the countries in West Africa, Guinea-Bissau’s physical A strength of both government and private sector exposure and dependence on agriculture drive its (AgroSafim, AgroGeba, AgriMansoa) institutions I vulnerability to climate change. Significant rises in whose activities aimed at supporting and increasing temperature and droughts are projected especially agriculture productivity and advancing CSA for the eastern part of the country. practices in Guinea-Bissau. National policies, plans and strategies such as the National Adaptation • Total annual greenhouse gas (GHG) emissions in Programme of Action, National Good Governance M Guinea-Bissau is estimated at about 3.5 MtCO eq. 2 Programme, Convention on Biological Diversity, The livestock sub-sector contributes about 72 National Plan of Environmental Management etc. percent of total emissions mainly from enteric outline measures to build adaptive capacity, improve fermentation and emissions from manure left on resilience of agricultural systems and conserve pasturelands. biodiversity for sustainable development. The nationally determined contributions of Guinea- Bissau indicates reforestation as the major action $• Under the auspices of the United Nations for mitigating GHG emissions. A new forestry policy Development programme (UNDP, Guinea-Bissau and a legal framework for long-term low-carbon continues to benefit from the Global Environment development particularly in the energy sector are Facility, Adaptation Fund and the Least Developed proposed as innovative mitigation measures. -

Download the PDF Version
OF CONTRIBUTION OCP AFRICA TO THE DEVELOPMENT OF FOOD SYSTEMS years FOOD SYSTEMS IN AFRICA. his report is available in digital edition, animated and enriched with videos.Scan the QR code to access it. The report is also available via the link below www.ocpafrica.com/5yearsreport 2 3 OF CONTRIBUTION OCP AFRICA TO THE DEVELOPMENT OF FOOD SYSTEMS years FOOD SYSTEMS IN AFRICA. His Majesty the King Mohammed VI, may Allah assist him 05 OF CONTRIBUTION OCP AFRICA TO THE DEVELOPMENT OF FOOD SYSTEMS years FOOD SYSTEMS IN AFRICA. ‘‘ We are seeing the beginning of a green revolution in Africa. Africa will be the locus of solutions for global food security challenges and not problems as often represented. We can reverse that trend if we strive to process our natural resources for the continent.’’ Mostafa Terrab Chairman and CEO of OCP Group 06 07 OF CONTRIBUTION OCP AFRICA TO THE DEVELOPMENT OF FOOD SYSTEMS years FOOD SYSTEMS IN AFRICA. Created five years ago, OCP Africa capitalizes on the century-old experience of its parent-company OCP Group to contribute to the sustainable development of African agriculture. Present in the continent through 12 subsidiaries and two representative offices, with 17 African nationalities, OCP Africa is proud to belong in multicultural Africa and work with a network of public and private partners. Our core business is supplying customized fertilizers, but our commitment does not end there. With our partners, we provide customized solutions to smallholder farmers following the local soil-crop- environment system and agronomic practices. Through supportive programs, we help smallholder farmers learn best agricultural practices and manage their activity more sustainably. -

World Bank Document
Public Disclosure Authorized Guinea Bissau: Public Disclosure Authorized Unlocking diversification to unleash agriculture growth Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized June 2019 STANDARD DISCLAIMER This Report is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this Report do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this Report. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. ACKNOWLEDGEMENTS This Report was authored by Marie Caroline Paviot (Senior Agriculture Economist, GFA01 and Task Team Leader), Edward W. Bresnyan, Jr. (Senior Agriculture Economist, GFA12), Alvaro Diaz (Value Chain Specialist, FAOCP) and Siddika Mishu, (Consultant, FAOCP), in collaboration with the Government of Guinea-Bissau and under the overall guidance of Amadou Ba (Country Representative, AMFGW) and Marianne Grosclaude (Practice Manager, Agriculture, GFA01). The team would like to thank the Ministry of Agriculture and the Ministry of Finance for their support throughout the preparation of this Report. The team recognizes the valuable insights gained from interviews with several in-country development -
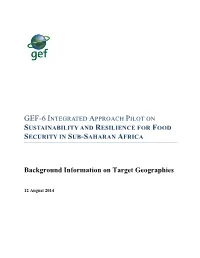
Background Paper
GEF-6 INTEGRATED APPROACH PILOT ON SUSTAINABILITY AND RESILIENCE FOR FOOD SECURITY IN SUB-SAHARAN AFRICA Background Information on Target Geographies 12 August 2014 Table of Contents 1. Introduction ........................................................................................................................................... 4 1.1 The Sahel Zone ................................................................................................................................... 4 1.2 East African Highlands ....................................................................................................................... 9 1.3 Horn of Africa ................................................................................................................................... 11 1.4 Southern Africa ................................................................................................................................. 13 2. Institutional Context for Food Security .............................................................................................. 16 2.1 National Governments ...................................................................................................................... 16 2.2 GEF Agencies ................................................................................................................................... 17 2.3 Regional Entities ............................................................................................................................... 18 2.4 Private Sector