O Clero Secular Medieval E As Suas Catedrais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CRISTIANA OLIVEIRA – Soprano
CRISTIANA OLIVEIRA – Soprano Cristiana Oliveira turned to singing after her first degree as a violinist. Completing her second degree this time in singing, she joined the New York Opera Studio, where she studied under the celebrated director Nico Castel and appeared there in the role of Yaroslavna in Borodin’s Prince Igor. She went on to win first prize of the XIV Estoril International Interpretation Competition for her interpretation of the Strauss Four Last Song and the Special Prize - Concert a Milano - at the International Vocal Competition Maria Malibran in Milan. She returned to Portugal where she quickly established herself as an important talent, appearing with principal orchestras throughout the country and with the Teatro Nacional de São Carlos, both in staged productions and in concert performances. She regularly appears in Oratorio and has sung soprano solo in the Verdi Messa da Requiem, the Mozart Requiem, Saint-Saëns Christmas Oratorio, the Bomtempo Requiem, the Dvorak Requiem and Stabat Mater, the Rossini Stabat Mater and Mahler’s Symphony No. 2. She has also featured as soloist with the São Carlos National Orchestra at Festival ao Largo and Dias da Musica Festival at Teatro Nacional de São Carlos and Centro Cultural de Belem, both recorded and broadcast live by RTP2 – Portuguese National Television. She has been much praised for her Lieder recitals in Portugal, Spain, Italy and the USA, several of which have been recorded and broadcast on Antena 2 –Portuguese Classical Radio. Cristiana Oliveira has now moved into the soprano lirico-spinto repertory and recent appearances include the concert aria Ah Perfido Beethoven – Akademie 1808 in Kaiserslautern, the Verdi - Messa da Requiem in Heidelburg and at the Oporto Coliseum, Oporto Cathedral and Viseu Cathedral. -

Catalonian Journal of Ethnology. Número 44. December 2019
148 Dossier Catalonian Journal of Ethnology December 2019 No. 44 Xerardo Pereiro Pedro Azevedo UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO Europeus Doctor in social and cultural DOURO anthropology from the University He holds a bachelor's degree in of Santiago de Compostela and in history and a master's degree Anthropology from the Instituto Superior in cultural heritage and cultural de Ciências do Trabalho e da Empresa tourism from the University of (ISCTE) - Instituto Universitário de Lisboa Minho, and is currently a researcher (IUL). He also holds a Doctorate in at CETRAD at UTAD and a doctoral International Tourism from the University scholarship holder in anthropology of La Laguna (Tenerife - Canary Islands - Spain). He is currently at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro, with a tenured professor of anthropology and cultural tourism at the support from the Fundação para a Ciência e a Tecnologia Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) (Vila Real - (FCT). His doctoral thesis project at UTAD is part of the Portugal). He is also a researcher at CETRAD (Centro de Estudos "Desenvolvimento, Sociedades e Territórios” programme, Transdisciplinares para o Desenvolvimento). A member of the and focuses on the effects of the heritagisation of the Economics, Sociology and Management Department at the UTAD Way of St James in Trás-os-Montes and Alto Douro. School of Human and Social Sciences, Xerardo Pereiro is currently Among other distinctions, he received the Almedina director of the tourism degree programme at UTAD and was Award for the best student at the "Instituto das Ciências coordinator of the degree in applied anthropology and director of Sociais - Universidade do Minho", for the academic year the master's degree in anthropology at UTAD-ISCTE. -

Travel Through Portuguese Culture While Studying in Unique Cities
Viseu TRAVEL THROUGH PORTUGUESE CULTURE WHILE STUDYING IN UNIQUE CITIES. Viseu Viseu is a city for the curious, the adventurous, the restless, for the urban art lovers, for those who would rather commune with nature and for those who would never forgo a show and a cultural outing on the weekend. The city possesses a rich historical center, but also breathtaking scenery just a hop, skip and a jump away. Either to wander it’s streets seeking fantastic public art to photograph or roaming the mountains, in Viseu there will always be plenty to do to occupy your time. Friendly people, an affordable cost of living, a huge range of cultural offerings and close contact with the countryside is what you may expect while living in a city such as Viseu. It’s no accident that it’s been voted (more than once!) as the best portuguese city to live in. PLAYLIST A collection of songs to keep you company while exploring the city. Get the playlist of artists from Viseu and surrounding areas by scanning the code. Mia Tome Daughter of a Viseense father and a mother originally from the Alto Douro, Mia Tomé lived part of her childhood in Viseu. Took her first theater classes at Companhia Paulo Ribeiro in Viseu, and thanks to that she had the opportunity to get to know Teatro Viriato better. In 2016, she won the awards for best actress with the film “Symptom of Absence” by Carlos Melim, at the Clap and Shortcutz Film Festival. In Viseu she highlights Mata do Fontelo as one of the most relaxing places in the city, the auditorium Mirita Casimiro, which holds one of the most beautiful memories of her childhood (her first ballet shows), Rua Direita where you can, and should, get inspiration, and Rossio for walks and endless conversations while crossing the city park. -
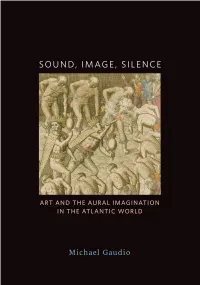
Sound, Image, Silence: Art and the Aural Imagination in the Atlantic World
Sound, Image, Silence Gaudio.indd 1 30/08/2019 10:48:14 AM Gaudio.indd 2 30/08/2019 10:48:16 AM Sound, Image, Silence Art and the Aural Imagination in the Atlantic World Michael Gaudio UNIVERSITY OF MINNESOTA PRESS MINNEAPOLIS • LONDON Gaudio.indd 3 30/08/2019 10:48:16 AM This book is freely available in an open access edition thanks to TOME (Toward an Open Monograph System)—a collaboration of the Association of American Universities, the Association of University Presses, and the Association of Research Libraries—and the generous support of the College of Liberal Arts at the University of Minnesota, Twin Cities. Learn more at openmonographs.org. The publication of this book was supported by an Imagine Fund grant for the Arts, Design, and Humanities, an annual award from the University of Minnesota’s Provost Office. A different version of chapter 3 was previously published as “Magical Pictures, or, Observations on Lightning and Thunder, Occasion’d by a Portrait of Dr. Franklin,” in Picturing, ed. Rachael Ziady DeLue, Terra Foundation Essays 1 (Paris and Chicago: Terra Foundation for American Art, 2016; distributed by the University of Chicago Press). A different version of chapter 4 was previously published as “At the Mouth of the Cave: Listening to Thomas Cole’s Kaaterskill Falls,” Art History 33, no. 3 (June 2010): 448– 65. Copyright 2019 by the Regents of the University of Minnesota Sound, Image, Silence: Art and the Aural Imagination in the Atlantic World is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. -

O Clero Secular Medieval E As Suas Catedrais
6 1 O CLERO SECULAR MEDIEVAL E AS SUAS CATEDRAIS NOVAS PERSPECTIVAS E ABORDAGENS Coordenação Anísio Miguel de Sousa Saraiva Maria do Rosário Barbosa Morujão CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA Ficha Técnica Título: O clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspectivas e abordagens Coordenação: Anísio Miguel de Sousa Saraiva; Maria do Rosário Barbosa Morujão ………………………………………………………………………………………………………………………. Concepção gráfica: Rita Gaspar Imagem de capa e contracapa: Santo Agostinho (pormenores). Piero della Francesca (1454- -1469). Museu Nacional de Arte Antiga © Luís Piorro. DGPC/Divisão de Documentação, Comunicação e Informática. Reproduzidos outros pormenores do rosto e da capa nas páginas 4, 7, 8, 516 e 532. Fotografias: A. Grace Christie; Anísio M. Sousa Saraiva; Archivio di Stato di Bolzano; Arquivo da Sé de Braga; Arquivo da Universidade de Coimbra; Arquivo do Cabido da Sé de Évora; Arquivo do Museu de Grão Vasco; Biblioteca Nacional de España; Biblioteca Nacional de Portugal; Bibliothèque Municipale d’Autun; Bibliothèque Municipale de Reims; Bibliothèque Nationale de France; Carlos Beloto; Caroline Vogt; Catedral de Burgo de Osma; Catedral de Burgos; Courtauld Institute of Art; Collection Gaignières Elne, cathédrale; Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas / Arquivo Nacional da Torre do Tombo; Direcção-Geral do Património Cultural / Divisão de Conservação e Restauro; Direcção-Geral do Património Cultural / Divisão de Documentação, Comunicação e Informática; Eduardo Carrero Santamaría; Enric Hollas, OSB; FAUP/Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura; Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P; Jean Michaud CIFM/CESCM; LABFOTO-Lamego; Maria Fernanda Barbosa; Maria Leonor Botelho; Mateo Mancini; Musée du Louvre; Museu Nacional de Machado de Castro; Rota das Catedrais; San Isidoro de León; Terceira Dimensão; Teresa Alarcão; The Metropolitan Museum of Art / The Cloisters Collection; Vincent Debiais. -

Redalyc.ECUMENISM in IMAGES and TRANS-CONTEXTUALITY IN
Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ISSN: 0874-8438 [email protected] Universidade Nova de Lisboa Portugal Serrão, Vítor ECUMENISM IN IMAGES AND TRANS-CONTEXTUALITY IN PORTUGUESE 16TH CENTURY ART: ASIAN REPRESENTATIONS IN PENTECOSTES BY THE PAINTER ANTÓNIO LEITÃO IN FREIXO DE ESPADA À CINTA Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, vol. 20, junio, 2010, pp. 125-165 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36129852006 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative BPJS, 2010, 20, 125-165 ECUMENISM IN IMAGES AND TRANS-CONTEXTUALITY IN PORTUGUESE 16TH CENTURY ART: ASIAN REPRESENTATIONS IN PENTECOSTES BY THE PAINTER ANTÓNIO LEITÃO IN FREIXO DE ESPADA À CINTA Vítor Serrão Institute of History of Art, Arts Faculty, Lisbon University * Abstract Following the identification of an unusual 16th century painting forgotten until recently in a chapel in Freixo de Espada à Cinta on the distant frontier of North-east Portugal and an attempt to prepare the biography and gather the pictorial corpus of António Leitão, the gentleman-painter, this article raises a series of issues about the representation of a Pentecostes which shows images of Asians. Some of the central aspects mentioned and analysed are the power assumed by the images, the categori- sation of Portuguese society itself at the end of the Renaissance and the creation of stereotypes by means of religious images. -

Cv/Cvma Newsletter Index
CV/CVMA NEWSLETTER INDEX Author Indexes Two author indexes appeared in the Newsletter, as follows. 25 (pp. 12Ŕ13): ‘Author Index to News Letters Nos 1Ŕ25’ 35/36 (pp. 27Ŕ30): ‘author index to news letters nos. 25-35/36’ These consisted in the main of the authors of the works abstracted in the numbered abstracts; these authors are now available and searchable in the separate concordance of abstracts. Although Roy Newton acted as Editor and compiler of the Newsletter up to and including issue 26, he often included material submitted by others. From issue 27 onwards however, articles with named authors appeared in the Newsletter, and there are separate entries in the index for references to individuals and articles by those individuals (see for example Ferrazzini, J. C.). General Indexes Five general indexes appeared in the Newsletter, as follows. 10 (pp. 5Ŕ6): ‘Cumulative Index to News Letters 1Ŕ10’ 15 (pp. 16Ŕ18): ‘Cumulative Index to News Letters 1Ŕ15’ 20 (pp. 12Ŕ15): ‘Index to News Letters 11Ŕ20’ 25 (pp. 14Ŕ18): ‘Index to News Letters Nos 16Ŕ25’ 35/36 (pp. 30Ŕ32): ‘subject index to news letters nos 25-35/36’ There are variations in the ways in which bibliographic items are presented throughout the Newsletter, which differ again from the methods used in the Occasional Papers. Some obvious errors in the citations have been corrected here, but the author and title listings given here should not be used as a guide to citation in future work. References in the Index Up to and including issue 39/40, references are made to sections of individual Newsletters, as with the older indexes of the Newsletter, so 15 (1.2) is section 1.2 in Newsletter 15; occasionally a page number is added for clarification, of a section is particularly long. -
DESTINATIONS Nick Redmayneheads to the Heart Of
DESTINATIONS CENTRO REGION | SPAIN & PORTUGAL Centre stage Nick Redmayne heads to the heart of Portugal with a guide to the Centro region outh of Porto, north of Lisbon and stretching 12th-century Monastery of Santa Cruz and the tombs of from the Atlantic coast to the Spanish border, the first Kings of Portugal, as well as a well-preserved Centro de Portugal is yet to be ‘discovered’ by medieval centre. UK tourists. Elsewhere, Coimbra’s 14th-century Unesco-listed sThat said, Julia Bradbury did her bit to get it on the university, the oldest in Portugal, maintains the city as a map last year, purchasing a property in the region’s centre of academic excellence and cultural focus, and north for ITV series My £10K Holiday Home. That homes the baroque Biblioteca Joanina is just one contribution are still inexpensive, even by Portuguese standards, reflects a static local economy. Centro’s vineyards now wow the However, things are changing. Tourism is growing and street-art trails are attracting visitors and bringing world with exceptional vintages, and new employment. Centro’s vineyards now wow the the region’s chefs serve up some of world with exceptional vintages from Dao and Bairrada, and the region’s chefs serve up some of Portugal’s most Portugal’s most exceptional cuisine exceptional cuisine. Throughout, the richness of Centro’s landscape has remained unchanged. The Serra da Estrela (‘mountains by Portugal’s dynamic 18th-century moderniser, the of stars’) offers hiking among mainland Portugal’s Marquis de Pombal. highest peaks. And there’s always Europe’s best surf, Towards the river, stroll across the Pedro e Inês including the record-breaking waves of Nazaré. -

Arcebispos De Braga
2019 EDITORIAL PROJECT Dados Técnicos / Technical Data Projeto Editorial ARCHBISHOPS OF BRAGA (2nd group) Arcebispos de Braga Emissão / issue - 2019 / 10 / 18 The “Archbishops of Braga” stamp issue had its philatelic beginnings Selos / stamps A emissão de selos «Arcebispos de Braga» teve a sua iniciação filatélica no ano in 2017, with the release of the first six stamps, on the commemoration 3 x G0,53 - 3 x 100 000 Bloco / souvenir sheet de 2017, com o lançamento dos primeiros seis selos, no dia da comemoração das day of the Sacerdotal Golden Jubilee of His Excellency the Most Com 1 selo / with 1 stamp G1,50 – 35 000 Bodas de Ouro Sacerdotais, de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Dom Reverend Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Archbishop of Braga and Design Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, que Primate of the Spains, who honoured us with his presence and seal. Atelier Design & etc / Túlio Coelho Assessor (Arte) / advisor (art) nos honrou com a sua presença e chancela. A apresentação oficial contou com o Raul Moreira, Director of Philately of the CTT – Correios de Portugal, Arquiteto António Gerardo Monteiro Esteves, provided historical and cultural context for the official presentation. Diretor da Comissão Arquidiocesana para os Bens Patrimoniais. enquadramento histórico e culto do Dr. Raul Moreira, Diretor de Filatelia dos CTT Consultor / consultant Correios de Portugal. As previously mentioned, the idea of the stamp collection originated Vigário-Geral Cónego José Paulo Abreu in the editorial project of a book, with the same title, developed in Créditos / credits Como já referido, a ideia da coleção filatélica nasceu do projeto editorial de um Selos / stamps parallel to the emission of an estimated eighteen stamps. -

O Clero Secular Medieval E As Suas Catedrais
6 1 O CLERO SECULAR MEDIEVAL E AS SUAS CATEDRAIS NOVAS PERSPECTIVAS E ABORDAGENS Coordenação Anísio Miguel de Sousa Saraiva Maria do Rosário Barbosa Morujão CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA Ficha Técnica Título: O clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspectivas e abordagens Coordenação: Anísio Miguel de Sousa Saraiva; Maria do Rosário Barbosa Morujão ………………………………………………………………………………………………………………………. Concepção gráfica: Rita Gaspar Imagem de capa e contracapa: Santo Agostinho (pormenores). Piero della Francesca (1454- -1469). Museu Nacional de Arte Antiga © Luís Piorro. DGPC/Divisão de Documentação, Comunicação e Informática. Reproduzidos outros pormenores do rosto e da capa nas páginas 4, 7, 8, 516 e 532. Fotografias: A. Grace Christie; Anísio M. Sousa Saraiva; Archivio di Stato di Bolzano; Arquivo da Sé de Braga; Arquivo da Universidade de Coimbra; Arquivo do Cabido da Sé de Évora; Arquivo do Museu de Grão Vasco; Biblioteca Nacional de España; Biblioteca Nacional de Portugal; Bibliothèque Municipale d’Autun; Bibliothèque Municipale de Reims; Bibliothèque Nationale de France; Carlos Beloto; Caroline Vogt; Catedral de Burgo de Osma; Catedral de Burgos; Courtauld Institute of Art; Collection Gaignières Elne, cathédrale; Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas / Arquivo Nacional da Torre do Tombo; Direcção-Geral do Património Cultural / Divisão de Conservação e Restauro; Direcção-Geral do Património Cultural / Divisão de Documentação, Comunicação e Informática; Eduardo Carrero Santamaría; Enric Hollas, OSB; FAUP/Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura; Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P; Jean Michaud CIFM/CESCM; LABFOTO-Lamego; Maria Fernanda Barbosa; Maria Leonor Botelho; Mateo Mancini; Musée du Louvre; Museu Nacional de Machado de Castro; Rota das Catedrais; San Isidoro de León; Terceira Dimensão; Teresa Alarcão; The Metropolitan Museum of Art / The Cloisters Collection; Vincent Debiais. -

Portuguese Vaulting Systems at the Dawn of the Early Modern Period
Proceedings of the Third International Congress on Construction History, Cottbus, May 2009 Portuguese Vaulting Systems at the Dawn of the Early Modern Period. Between Tradition and Innovation Soraya Genin Superior Institute for Work and Business Studies, Lisbon, Portugal Krista De Jonge Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium Jose Carlos Palacios Gonzalo Polytechnic University of Madrid, Madrid, Spain ABSTRACT: The Portuguese hall churches of the so-called Manueline Period (end of the fifteenth and begin ning of the sixteenth century) are generally seen as straddling two contradictory stylistic phenomena. While their formal repertory announces the Renaissance, their conception and execution follow the geometrical and technical principles used by the gothic builders. Nave and aisles are unified spatially, a common goal in all Europe at the time. In the transversal section unification of the vaults is achieved through a continuous curved profile from side wall to side wall. In Portuguese historiography this is seen as characteristic of Joao de Castilho with the so-called 'barrel vault' of the Hieronymile church at Belem as his masterpiece. The attribution is a polemic issue, but nonetheless relevant Our invesligafion has indeed revealed additional examples that certainly deserve a global presentation considering the pertinence of the author issue and of its broader Euro pean context INTRODUCTION Mario Tavares Chico was the first to stress the spatial qualities of Manueline church architecture in 1954. The author appreciated the spatial unify of the Hieronymite church at Belem {Jer6nimos) and of the churches at Freixo de Espada a Cinla and Arronches, comparing them favourably with olher hall churches in Europe. -

Sob O Mecenato De D. Miguel Da Silva, Vasco Fernandes Transformou a Catedral De Viseu Na “Secunda Roma” *
Fausto Sanches Martins Faculdade de Letras da Universidade do Porto Sob o mecenato de D. Miguel da Silva, Vasco Fernandes transformou a catedral de Viseu na “Secunda Roma” * Resumo Ao longo dos anos, cinco grandes pinturas realizadas por Vasco Fernandes para as capelas da Sé de Viseu têm sido estritamente objecto de serviços nos domínios do formato e da análise iconográfica. Contudo, faltava, na nossa opinião, uma inter- pretação iconológica, que constitui o tema da nossa proposta. Baseamos a nossa interpretação em situações e exemplos análogos, com o objectivo de descobrir um único fio condutor que relacione os cinco “Retábulos” pintados por Vasco Fernandes, sob o patrocínio de D. Miguel da Silva. Abstract Over the years, the five great paintings by Vasco Fernandes for the chapels of the Viseu Cathedral have been the object of services strictly in the field of format and iconographical analysis. However, in our opinion, what was lacking was an icono- logical interpretation, which is the aim of our proposal. We will base our interpreta- tion on analogous situations and examples, aiming to discover the single connecti- vity thread which links the five “Pale” painted by Vasco Fernandes, under the patronage of D. Miguel da Silva. 1. INTRODUÇÃO Sempre considerámos que qualquer comunicação, apresentada em Congresso, teria de assentar, forçosamente, na premissa de transmitir um avanço científico sobre o tema em análise. Daí a perplexidade de quem assina * Este trabalho corresponde ao desenvolvimento de uma comunicação, apresentada no III Congresso Histórico de Guimarães, cujas Actas não chegaram a ser publicadas. Com ele, pretendo homenagear o amigo que sempre estimei e o Mestre que sempre admirei: o Professor Doutor José Marques.