Laura Bittencourt Silva.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
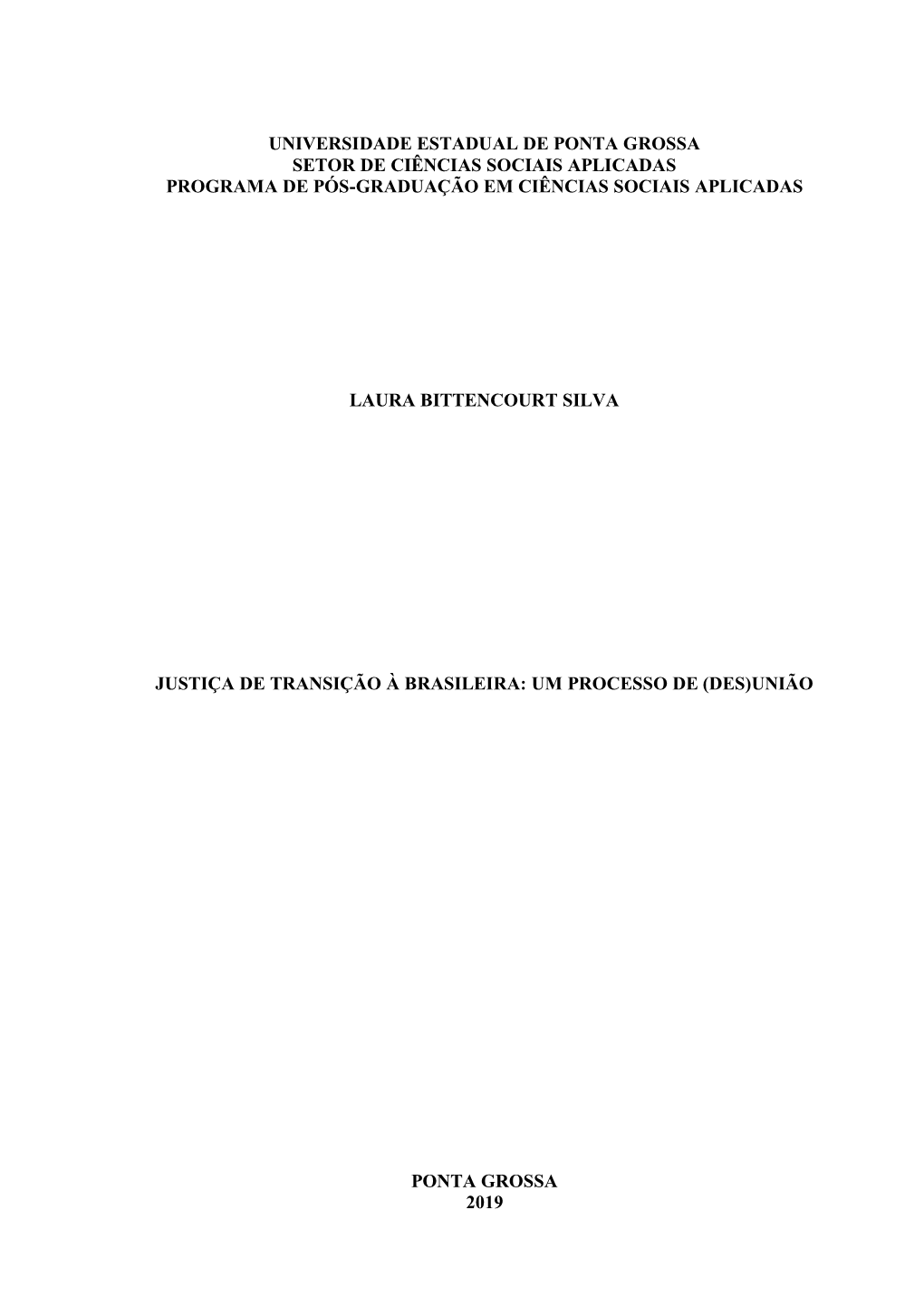
Load more
Recommended publications
-

Páginas Iniciais.Indd
Sumário 3.11.1930 - 29.10.1945 Os Presidentes e a República Os Presidentes e a República Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff Deodoro da Fonseca Os Presidentes e a República Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff Rio de Janeiro - 2012 5ª edição Sumário 3.11.1930 - 29.10.1945 Os Presidentes e a República Getúlio Dornelles Vargas 3.11.1930 - 29.10.1945 Copyright © 2012 by Arquivo Nacional 1ª edição, 2001 - 2ª edição revista e ampliada, 2003 - 3ª edição revista, 2006 4ª edição revista e ampliada, 2009 - 5ª edição revista e ampliada, 2012 Praça da República, 173, 20211-350, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 2179-1253 Fotos da Capa: Palácio do Catete e Palácio do Planalto, 20 de abril de 1960. Arquivo Nacional Presidenta da República Dilma Rousseff Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo Diretor-Geral do Arquivo Nacional Jaime Antunes da Silva Arquivo Nacional (Brasil) Os presidentes e a República: Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff / Arquivo Nacional. - 5ª ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: O Arquivo, 2012. 248p. : il.;21cm. Inclui bibliografi a ISBN: 978-85-60207-38-1 (broch.) 1. Presidentes - Brasil - Biografi as. 2. Brasil - História - República, 1889. 3. Brasil - Política e Governo, 1889-2011. I.Título. CDD 923.1981 Sumário 3.11.1930 - 29.10.1945 Equipe Técnica do Arquivo Nacional Coordenadora-Geral de Acesso e Difusão Documental Maria Aparecida Silveira Torres Coordenadora de Pesquisa e Difusão do Acervo Maria Elizabeth Brêa Monteiro Redação de Textos e Pesquisa de Imagens Alba Gisele Gouget, Claudia Heynemann, Dilma Cabral e Vivien Ishaq Edição de Texto Alba Gisele Gouget, José Cláudio Mattar e Vivien Ishaq Revisão Alba Gisele Gouget e José Cláudio Mattar Projeto Gráfi co Giselle Teixeira Diagramação Tânia Bittencourt Para a elaboração do livro Os presidentes e a República, contamos com o apoio da Radiobrás na cessão das imagens relativas aos governos de Ernesto Geisel a Fernando Henrique Cardoso. -

Estado De S. Paulo, O
ESTADO DE S. PAULO, O Jornal paulista diário e matutino fundado em 4 de janeiro de 1875 com o nome de A Província de São Paulo por um grupo liderado por Américo Brasiliense de Almeida Melo e Manuel Ferraz de Campos Sales. Em 1885, ingressou em sua redação Júlio César Ferreira de Mesquita, que em pouco tempo passou a diretor. Desde então, a direção do jornal permaneceu nas mãos da família Mesquita. A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO Organizado por uma comissão nomeada pelo Congresso Republicano de Itu, realizado em 1874, o jornal A Província de São Paulo teve como principais articuladores Américo Brasiliense, atuando na cidade de São Paulo, e Campos Sales, atuando em Campinas. A sociedade comanditária constituída para a fundação do jornal incluiu, além dos já citados, os fazendeiros de café do Oeste Novo paulista Américo Brasílio de Campos, Antônio Carlos de Sales, Antônio Pompeu de Camargo, Bento Augusto de Almeida Bicudo, Cândido Vale, o major Diogo de Barros, Francisco de Sales, Francisco Glicério de Cerqueira Leite, Francisco Rangel Pestana, João Francisco de Paula Sousa, João Manuel de Almeida Barbosa, João Tibiriçá Piratininga, João Tobias de Aguiar e Castro, José Alves de Cerqueira César, José de Vasconcelos de Almeida Prado, José Pedroso de Morais Sales, Manuel Elpídio Pereira de Queirós, Martinho Prado Júnior e Rafael Pais de Barros. A redação da folha foi confiada a Francisco Rangel Pestana e Américo Brasílio de Campos. Embora fosse em sua grande maioria favorável à República, esse grupo mostrava-se cauteloso diante da possibilidade real da queda da monarquia. Por essa razão, em lugar de se apresentar como porta-voz do Partido Republicano Paulista (PRP), o novo jornal preferiu adotar uma linha política independente, intervindo de maneira autônoma “na discussão dos assuntos políticos e sociais”. -

Redalyc.Ditadura Militar: Mais Do Que Algozes E Vítimas. a Perspectiva De Carlos Fico
Revista Tempo e Argumento E-ISSN: 2175-1803 [email protected] Universidade do Estado de Santa Catarina Brasil Fávero Arend, Silvia Maria; Hagemeyer, Rafael Rosa; Lohn, Reinaldo Lindolfo Ditadura Militar: mais do que algozes e vítimas. A perspectiva de Carlos Fico Revista Tempo e Argumento, vol. 5, núm. 10, julio-diciembre, 2013, pp. 464-483 Universidade do Estado de Santa Catarina Florianópolis, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338130381020 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto ISSN: 2175 - 1803 Ditadura Militar: mais do que algozes e vítimas. A perspectiva de Carlos Fico Carlos Fico é Professor do Departamento e do Programa de Pós- Silvia Maria Fávero Arend Graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro Doutora em História pela (UFRJ) e Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Universidade Federal do Rio Grande Científico e Tecnológico (CNPq). Sua formação acadêmica ocorreu do Sul. Professora da Universidade na própria UFRJ, na Universidade Federal Fluminense (Mestrado) do Estado de Santa Catarina. e na Universidade de São Paulo (Doutorado em História Social e [email protected] Pós-Doutorado). Atuou ainda na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Seu trabalho docente é voltado para ao ensino de Teoria e Metodologia da História e de História do Brasil Rafael Rosa Hagemeyer Republicano. É um profícuo autor de artigos e livros que Doutor em História pela apresentam o resultado de suas investigações em temas como a Universidade Federal do Rio Grande ditadura militar no Brasil e na Argentina, historiografia brasileira, do Sul. -

Space and Defense Issue
33SPAC E and DEFENSE Volume Eleven Number One Spring 2019 China’s Military Space Strategy Sam Rouleau Volume Five Number One Communicating Cyber Consequences Sum Timothy Goines mer 2011 Why Brazil Ventured a Nuclear Program Saint-Clair Lima da Silva Arms Control & Deterrence Coalitions in Space:Damon Coletta Where Networks are CadetPower Voice—Curious Trinity: War, Media, Public Opinion byLaura James Olson Clay Moltz The 2010 National Space Policy: Down to Earth? by Joan Johnson-Freese Space & Defense Journal of the United States Air Force Academy Eisenhower Center for Space and Defense Studies Publisher Col. Kris Bauman, [email protected] Director, Eisenhower Center for Space and Defense Studies Editors Dr. Damon Coletta Dr. Michelle Black U.S. Air Force Academy, USA University of Nebraska, Omaha Associate Editors Mr. Deron Jackson Dr. Peter Hays U.S. Air Force Academy, USA George Washington University, USA Dr. Schuyler Foerster Ms. Jonty Kasku-Jackson U.S. Air Force Academy, USA National Security Space Institute, USA Thank You to Our Reviewers Andrew Aldrin Christopher Dunlap United Launch Alliance, USA Naval Postgraduate School, USA James Armor Paul Eckart ATK, USA Boeing, USA William Barry Andrew Erickson NASA Headquarters, USA Naval War College, USA Daniel Blinder Joanne Gabrynowicz UNSAM-CONICET, Argentina University of Mississippi, USA Robert Callahan Jason Healey NORAD-NORTHCOM, USA Atlantic Council, USA James Cameron Stephen Herzog Fundação Getúlio Vargas, Brazil Yale University, USA Robert Carriedo Theresa Hitchens U.S. -

Ernani Do Amaral Peixoto
PEIXOTO, Ernani do Amaral *militar; interv. RJ 1937-1945; const. 1946; dep. fed. RJ 1946-1951; gov. RJ 1951- 1955; emb. Bras. EUA 1956-1959; min. Viação 1959-1961; min. TCU 1961-1962; min. Extraord. Ref. Admin. 1963; dep. fed. RJ 1963-1971; sen. RJ 1971-1987. Ernâni Amaral Peixoto nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 14 de julho de 1905, filho de Augusto Amaral Peixoto e de Alice Monteiro Amaral Peixoto. Seu pai combateu a Revolta da Armada — levante de oposição ao presidente Floriano Peixoto que envolveu a esquadra fundeada na baía de Guanabara de setembro de 1893 a março de 1894 sob a chefia do almirante Custódio de Melo e mais tarde do almirante Luís Filipe Saldanha da Gama —, atuando no serviço médico da Brigada Policial do Rio de Janeiro. Dedicando-se depois à clínica médica, empregou em seu consultório o então acadêmico Pedro Ernesto Batista, vindo mais tarde a trabalhar na casa de saúde construída por este. Quando Pedro Ernesto se tornou prefeito do Distrito Federal, foi seu chefe de gabinete, chegando a substituí-lo interinamente entre 1934 e 1935. Seu avô paterno, comerciante de café, foi presidente da Câmara Municipal de Parati (RJ). Seu avô do lado materno, comerciante e empreiteiro de obras públicas arruinado com a reforma econômica de Rui Barbosa — que desencadeou o chamado “encilhamento”, política caracterizada por grande especulação financeira e criação de inúmeras empresas fictícias —, alcançou o cargo de diretor de câmbio do Banco do Brasil na gestão de João Alfredo Correia de Oliveira (1911-1914). Seu irmão, Augusto Amaral Peixoto Júnior, foi revolucionário em 1924 e 1930, constituinte em 1934 e deputado federal pelo Distrito Federal de 1935 a 1937 e de 1953 a 1955. -

Foreign Policy Decision-Making Under the Geisel Government the President, the Military and the Foreign Ministry by Leticia De Ab
Foreign policy decision-making under the Geisel government the President, the military and the foreign ministry by Leticia de Abreu Pinheiro Thesis submitted for the Degree of Ph.D. of International Relations Department of International Relations/London School of Economics and Political Science 1994 UMI Number: U615787 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615787 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 I i-+£s f 7ZZZ f & O N O ^ * I ABSTRACT This thesis seeks to provide an explanation for the contents of three foreign policy decisions implemented under the government of general Ernesto Geisel (1974-79). It does so by analyzing the decision-making process which led Brazil l)to abstain in the Meetings of Consultation of American Foreign Ministers for voting the lifting of sanctions against Cuba; 2)to restore diplomatic relations with the People's Republic of China; and 3)to recognize Angola's MPLA government. The central hypothesis of the thesis is that, although the doctrine of the regime (National Security Doctrine/NSD) has shaped the general conduct of the government, it is not enough to explain the changes in the main lines of foreign policy. -

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História Do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014
NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. 370 p. Thiago FIDELIS • Com os 50 anos da movimentação civil/militar que culminou com a deposição do presidente João Goulart e com a instituição de grupos militares no poder, o ano de 2014 tem sido bastante profícuo em relação ao debate sobre o tema. Inúmeros eventos 1, publicações acadêmicas 2 e programas na mídia em geral têm levantado um longo debate sobre as origens e consolidação desse ato bem como discussões e ressentimentos, uma vez que o assunto ainda está muito presente na história política recente do país, marcando profundamente a memória de vários setores da sociedade. Nessas circunstâncias situa-se a obra 1964: História do Regime Militar Brasileiro . Lançado no início do ano, o livro traz a assinatura do pesquisador Marcos Napolitano, professor livre-docente da Universidade de São Paulo (USP) que tem dedicado praticamente toda sua carreira a temáticas ligadas ao regime militar, desde obras refletindo sobre as instituições políticas até os aspectos ligados aos mais variados setores da época, como grupos sociais e aspectos culturais, entre outros 3. Em suas mais de 350 páginas, a edição contempla inúmeros aspectos do regime militar, fazendo um grande apanhado dos vários objetos de pesquisa do autor situados em um só espaço. Mesclando a ordem linear dos fatos com temáticas distintas, Napolitano aborda desde o conturbado governo de João Goulart até o fim do regime e seus desdobramentos nos anos conseguintes, debatendo de maneira bastante intensa a questão da memória dessas ocorrências. É preciso refletir, no entanto, que essa ditadura pode ser compreendida tanto como ponto de partida como ponto de chegada. -

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA a Bola E O Chum
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA Aníbal Renan Martinot Chaim A Bola e o Chumbo: Futebol e Política nos anos de chumbo da Ditadura Militar Brasileira v.1 VERSÃO CORRIGIDA São Paulo 2014 1 Universidade de São Paulo Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Ciência Política A Bola e o Chumbo: Futebol e Política nos anos de chumbo da Ditadura Militar Brasileira Aníbal Renan Martinot Chaim Dissertação apresentada ao Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Ciência Política. Orientador: Prof. Dr. Adrian Gurza Lavalle v.1 VERSÃO CORRIGIDA São Paulo 2014 2 3 Agradecimentos: A toda minha família, especialmente a meus pais e meu irmão por terem me suportado – em todos os sentidos – até aqui. À minha namorada, pelas alegrias vividas nos últimos anos. A todos do Departamento de Ciência Política da USP, especialmente a Adrian Lavalle, meu orientador, pelo apoio e fomento dado a meu trabalho. À CAPES, pelo apoio financeiro. 4 Resumo: Este estudo se propõe a elucidar o processo por meio do qual a ditadura militar brasileira, em seus anos mais truculentos – também chamados de ‘os anos de chumbo’ – se aproximou do futebol nacional como forma de se promover politicamente e fazer do esporte um de seus pilares de sustentação popular. Mais do que demonstrar que o futebol foi utilizado para fins políticos, o intuito aqui é esclarecer os mecanismos institucionais utilizados pelo governo militar para se aproximar dos atores responsáveis pela gestão esportiva no âmbito nacional e fazer com que seu projeto esportivo fosse executado de forma a gerar os frutos desejados. -

Gen Ex DILERMANDO GOMES MONTEIRO
267 - General de Exército Dilermando Gomes Monteiro Dados Biográficos Nascimento - 23 de julho de 1913, Cuiabá – MT. Filiação – João Gomes Monteiro Sobrinho e de Almerinda Gomes Monteiro. Formação e atividades principais - Em abril de 1930 ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em janeiro de 1934, recebeu a patente de Segundo-Tenente em agosto seguinte. Integrava o 2º Regimento de Infantaria (2º RI), na Vila Militar, no Rio, quando eclodiu a revolta de novembro de 1935, deflagrada pelos comunistas em nome da Aliança Nacional Libertadora (ANL). Sob a direção do Partido Comunista Brasileiro, então Partido Comunista do Brasil (PCB), os rebeldes, apoiados por simpatizantes militares, tentaram tomar o poder em Natal, no dia 23, em Recife, no dia 24, e no Rio, no dia 27. Dilermando Gomes Monteiro participou do ataque ao quartel do 3º RI - na Praia Vermelha, no Rio - ocupado pelos insurgentes. O movimento, rapidamente debelado, resultou num considerável número de prisões e de mortes, inaugurando assim um período de repressão política que viria a culminar com o golpe do Estado Novo, desfechado por Getúlio Vargas em novembro de 1937. Foi promovido a Primeiro-Tenente em setembro de 1936 e a Capitão em dezembro de 1940. Nessa época serviu na 7ª Região Militar (7ª RM), sediada em Recife, como Instrutor do curso de alunos sargentos e como Ajudante do 30º Batalhão de Caçadores (30º BC). Dez anos depois, em junho de 1950, foi promovido a Major. Tenente-Coronel em março de 1954, em agosto de 1960, recebeu a patente de Coronel, passando a servir como Adjunto da 1ª Seção do Estado-Maior do Exército (EME). -

The Expanded National Security Doctrine of the Brazilian Military Its Implications for the Restoration of Democracy in Brazil 1964 - 1970
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1974 The expanded national security doctrine of the Brazilian military its implications for the restoration of democracy in Brazil 1964 - 1970 David Ellerton Wanzenried The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Wanzenried, David Ellerton, "The expanded national security doctrine of the Brazilian military its implications for the restoration of democracy in Brazil 1964 - 1970" (1974). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 8821. https://scholarworks.umt.edu/etd/8821 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. THE EXPANDED NATIONAL SECURITY DOCTRINE OF THE BRAZILIAN MILITARY: ITS IMPLICATIONS FOR THE RESTORATION OF DEMOCRACY IN BRAZIL, 1964-197U By David Ellerton Wanzenried B.A., University o£ Montana, 1971 Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts UNIVERSITY OF MONTANA 1974 Approved by: Chairman, Board of Examiners GradKafe School Date 7 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. UMI Number: EP39622 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. -

Desenvolvimento E Mudanças No Estado Brasileiro Alcides Domingues Leite Júnior PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Especialização em GESTÃO PÚBLICA Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro Alcides Domingues Leite Júnior PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS DIDÁTICOS Universidade Federal de Santa Catarina METODOLOGIA PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Universidade Federal de Mato Grosso AUTOR DO CONTEÚDO Alcides Domingues Leite Júnior EQUIPE TÉCNICA – UFSC Coordenação do Projeto Alexandre Marino Costa Coordenação de Produção de Recursos Didáticos Denise Aparecida Bunn Projeto Gráfico Adriano Schmidt Reibnitz Annye Cristiny Tessaro Editoração Annye Cristiny Tessaro Ilustração Igor Baranenko Revisão Textual Sergio Luiz Meira Capa Alexandre Noronha Créditos da imagem da capa: extraída do banco de imagens Stock.xchng sob direitos livres para uso de imagem. Ministério da Educação – MEC Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES Diretoria de Educação a Distância – DED Universidade Aberta do Brasil – UAB Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP Especialização em Gestão Pública Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro Alcides Domingues Leite Júnior 2014 3ª edição revisada e atualizada 2014. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Esta obra está licenciada nos termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil, podendo a OBRA ser remixada, adaptada e servir para criação de obras derivadas, desde que com fins não comerciais, que seja atribuído crédito ao autor e que as obras derivadas sejam licenciadas sob a mesma licença. 1ª edição – 2009 2ª edição – 2012 L533d Leite Júnior, Alcides Domingues Desenvlvimento e mudanças no estado brasileiro / Alcides Domingues Leite Júnior. – 3. ed. rev. atual. – Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2014. -

Milagre Ou Repressão
CONTRAPONTO 1 BRASIL, AME-O OU DEIXE-O: O GOVERNO MÉDICI EM VALENÇA Maria Carolina Figueira Neves dos Santos Graduada em História pelo Instituto Superior de Educação de Valença. RESUMO: O presente artigo propõe-se ABSTRACT: This article proposes to a analisar a visão da sociedade examine society's view about the valenciana acerca do mandato do Valencian third term of President terceiro general-presidente, Emílio General Emilio Medici Garrastazu, Garrastazu Médici, tomando por base a based on the opinions of teachers who opinião de professores que lecionavam taught at the time, to analyze which of na época, para analisar qual dos pólos the opposite poles of that period, the opostos do referido período, a repressão repression political or economic política ou a prosperidade econômica, prosperity, presented more forcefully in apresentaram-se de forma mais incisiva the city of Valencia. To this end, we na cidade de Valença. Para tanto, foram used oral histories of teachers and a utilizados relatos orais de professores e politician of the time, besides the de um político da época, além da literature on the period. After bibliografia referente ao período. Após introduction to the period of introdução ao período de governo government treaty, it follows an tratado, segue-se uma análise dos analysis of the effects of the "Brazilian efeitos do chamado “Milagre Miracle" in the Valencian economy, Brasileiro” na economia valenciana, na then dominated by the textile industry, época dominada pela indústria têxtil, e and quality of life for city residents. na qualidade de vida dos moradores da Then presents a discussion of the socio- cidade.