Aparições Da Textualidade: Dizer E Ver Um Virgílio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Jean Genet and Subaltern Socialities by Kadji Amin Department Of
Agencies of Abjection: Jean Genet and Subaltern Socialities by Kadji Amin Department of Romance Studies Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Marc Schachter, Co-Supervisor ___________________________ Michèle Longino, Co-Supervisor ___________________________ Robyn Wiegman ___________________________ Francisco-J. Hernández Adrián Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2009 ABSTRACT Agencies of Abjection: Jean Genet and Subaltern Socialities by Kadji Amin Department of Romance Studies Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Marc Schachter, Co-Supervisor ___________________________ Michèle Longino, Co-Supervisor ___________________________ Robyn Wiegman ___________________________ Francisco-J. Hernández Adrián An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2009 Copyright by Kadji Amin 2009 Abstract This dissertation explores the concept of agential abjection through Jean Genet’s involvement with and writings about the struggles of disenfranchised and pathologized peoples. Following Julia Kristeva, Judith Butler has argued that modern subjectivity requires the production of a domain of abjected beings denied subjecthood and forced to live "unlivable" lives. "Agencies of Abjection" brings these feminist theories of abjection to bear on multiple coordinates of social difference by exploring forms of abjection linked to sexuality, criminality, colonialism, and racialization. Situating Genet within an archive that includes the writings of former inmates of penal colonies, Francophone intellectuals, and Black Panther Party members, I analyze both the historical forces that produce abjection and the collective forms of agency that emerge from subaltern social forms. -

My Father and I ��������������������������������������������������������������
My Father and I My Father and I The Marais and the Queerness of Community David Caron Cornell University Press ithaca and london Copyright © 2009 by Cornell University All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850. First published 2009 by Cornell University Press Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Caron, David (David Henri) My father and I : the Marais and the queerness of community / David Caron. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8014-4773-0 (cloth : alk. paper) 1. Marais (Paris, France)—History. 2. Gay community—France—Paris—History. 3. Jewish neighborhoods—France—Paris—History. 4. Homosexuality—France—Paris— History. 5. Jews—France—Paris—History. 6. Gottlieb, Joseph, 1919–2004. 7. Caron, David (David Henri)—Family. I. Title. DC752.M37C37 2009 306.76'6092244361—dc22 2008043686 Cornell University Press strives to use environmentally responsible sup- pliers and materials to the fullest extent possible in the publishing of its books. Such materials include vegetable- based, low- VOC inks and acid- free papers that are recycled, totally chlorine- free, or partly composed of nonwood fibers. For further information, visit our website at www .cornellpress .cornell .edu . Cloth printing 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 In memory of Joseph Gottlieb, my father And for all my other friends Contents IOU ix Prologue. -

Jean Genet Ebook
JEAN GENET PDF, EPUB, EBOOK David Bradby | 214 pages | 17 Feb 2012 | Taylor & Francis Ltd | 9780415375061 | English | London, United Kingdom Jean Genet PDF Book Hayman, Ronald. His obituary ran in the New York Times, April 16, The word is recorded from… Ecological genetics , ecological genetics The study of genetics with particular reference to variation on a global and local geographic scale. To achieve harmony in bad taste is the height of elegance. His heart leaned from his "'religious nature" as he confessed in his autobiographical Thief's Journal , English Restrictions apply. They appear fleetingly and are downtrodden, when not hysterics or madams. He would be reborn as a witness for the Palestinians. Genet: A Collection of Critical Essays. In the longest section of the speech, Genet discusses the new forms of solidarity that he believes are possible between whites and Blacks in America, and the difficulties involved in convincing white people of their necessity. To be granted, from his pen, the status of a real mother, a woman had to be Arab or black. Driver, Jean Genet ; Richard N. But there was a more elusive figure, still admired today by artists like Patti Smith , who influenced and challenged their thinking: poet, playwright, novelist, film director, and pardoned convict Jean Genet. She loathes Madame and criticizes her gifts, including the fur, which she took back. But the carpenter's family that was entrusted with his care gave Genet ample attention and affection. With this play Genet was established as an outstanding figure in the Theatre of the Absurd. Solange promises never to abandon her. -

"A Study of Three Plays by Jean Genet: the Maids, the Balcony, the Blacks"
Shifting Paradigms in Culture: "A Study of Three Plays by Jean Genet: The Maids, The Balcony, The Blacks" Department of English and Modern European Languages Jamia Millia Islamia New Delhi 2005 Payal Khanna The purpose of this dissertation is two fold. Firstly, it looks at the ways in which Genet's plays question the accepted social positions and point towards the need for a radical social change. Secondly, this dissertation also looks at Genet's understanding of theatre to underline the social contradictions through this medium. The thesis studies through a carefully worked out methodology the dynamic relationship between theatre and its viewers. This dissertation analyses the works of Genet to locate what have been identified in the argument as points of subversion. In this world of growing multiculturalism where terms like globalization have become a part of our daily life Genet's works are a case in point. Genet's plays are placed in a matrix that is positioned outside the margins of society from where they question the normative standards that govern social function. They create an alternative construct to interpret critically the normalizing tendency of society that actually glosses over the social contradictions. The thesis studies the features of both the constructs-that of society and the space outside it, and the relation that Genet's plays evolves between them. The propensity of a society that is divided both on the basis of class and gender is towards privileging groups that are powerful. Therefore the entire social rubric is structured in a way that takes into consideration the needs of such groups only. -

Art's Complicity
Papers on Social Representations Volume 26, Issue 1, pages 6.1-6.15 (2017) Peer Reviewed Online Journal ISSN 1021-5573 © 2017 The Authors [http://www.psych.lse.ac.uk/psr/] Art’s Complicity JORGE COLI University of Campinas ABSTRACT In the course of its history, the artistic culture fashioned in Brazil has rebuffed direct observation. In the country’s domain of the visual arts and literature, artists, intellectuals and writers tend to cloister in an imaginary world, without seeing their own surroundings. Some of the significant works in the history of Brazilian art and culture have been taken into account in this paper. The works described here in a synthetic and simplified manner reiterated myths, arranged hierarchies, established preconceptions and concealed perceptions for the benefit of imaginaries that were not all that innocent. One can easily see that, in the course of its history, the artistic culture fashioned in Brazil has rebuffed direct observation. In the country’s domain of the visual arts and literature, artists, intellectuals and writers tend to cloister in an imaginary world, with no eyes for their own surroundings. Correspondence should be addressed to: Jorge Coli, Email: [email protected] 6.1 J. Coli Art’s Complicity Although rather generic and simplified, this initial comment sheds light on certain fundamental characteristics that historically have been associated with Brazil’s art history and production. These characteristics are linked to ideological tenets involving national identity and original roots. They comprise fictions, constructs and fantasies that definitively affect not only individual and group perceptions and expectations, but also ways of thinking and conceiving the world. -

Palácio Itamaraty Itamaraty Palace
Palácio Itamaraty Itamaraty Palace Palácio Itamaraty – Apresentação | 3 Itamaraty Palace – Presentation | 4 | Ministério das Relações Exteriores Ministry of External Relations | O Palácio Itamaraty e seu anexo em construção | | The Itamaraty Palace and its annex in construction | Palácio Itamaraty – Apresentação | 5 Itamaraty Palace – Presentation | É com prazer que apresento esta publi- It is with pleasure that I present this pub- cação, produzida para servir de guia e lication, compiled to serve as a guide and apoio aos visitantes e admiradores do support to the visitors and admirers of the Palácio Itamaraty, obra-prima de Oscar Itamaraty Palace - a masterpiece by Oscar Niemeyer. Niemeyer. Todos nós, diplomatas, sentimos orgulho ao falar All of us diplomats proudly to talk about Itamaraty. do Itamaraty. Esse verdadeiro palácio–museu en- This true palace-museum comprises the spirit cerra em sua arquitetura, em seus espaços e no which guides our diplomacy in its architecture, in seu acervo o próprio espírito que norteia a nossa its spaces, and in its assets – a diplomacy whose diplomacia, cujos alicerces estavam presentes na- foundations were present in that “certain idea of quela “certa idéia de Brasil”, pensada e realizada Brazil”, thought of and accomplished by our pa- por nosso patrono, o Barão do Rio Branco. tron, the Baron of Rio Branco. Último dos palácios de Brasília a ser construído, The last of the palaces of Brasilia to be built, the a Chancelaria brasileira foi o primeiro ministério Brazilian chancellery was the fi rst Ministry to be a transferir-se totalmente do Rio de Janeiro para completely transferred from Rio de Janeiro to a nova capital federal. -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE LETRAS E ARTES ESCOLA DE BELAS ARTES Paula Karoline De Carvalho ELISEU VISCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE LETRAS E ARTES ESCOLA DE BELAS ARTES Paula Karoline de Carvalho ELISEU VISCONTI E AS PINTURAS DE NU FEMININO NO FINAL DO SÉCULO XIX Rio de Janeiro 2019 Paula Karoline de Carvalho ELISEU VISCONTI E AS PINTURAS DE NU FEMININO NO FINAL DO SÉCULO XIX Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de bacharel em História da Arte. Orientadora: Ana Maria Tavares Cavalcanti. Rio de Janeiro 2019 REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO a Prof . Denise Pires de Carvalho COORDENADORA DO CURSO DE BACHARELADO EM HISTÓRIA DA ARTE a Prof . Ana de Gusmão Mannarino FOLHA DE APROVAÇÃO Paula Karoline de Carvalho. ELISEU VISCONTI E AS PINTURAS DE NU FEMININO NO FINAL DO SÉCULO XIX. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de bacharel em História da Arte. Área de concentração: História e Teoria da Arte. Situação: ( ) Aprovada / ( ) Reprovada Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____ BANCA EXAMINADORA _____________________________________ Prof. Dra. Ana Maria Tavares Cavalcanti Universidade Federal do Rio de Janeiro _____________________________________ Prof. Dra. Mirian Nogueira Seraphim Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) _____________________________________ Prof. Dra. Ana de Gusmão Mannarino Universidade Federal do Rio de Janeiro AGRADECIMENTOS Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram durante esse processo difícil mas recompensador de não desistir dos próprios sonhos. -

Warwick.Ac.Uk/Lib-Publications Women's Condition in D
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/130206 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications Women's Condition in D. H. Lawrence's Shorter Fiction: A Study of Representative Narrative Processes in Selected Texts Concepción Dfez-Medrano Submitted for PhD University of Warwick Department of English and Comparative Literary Studies June 1993 Table of Contents Acknowledgements Summary Introduction....................................................................................................................................... 1 Chapter 1: From Institutionalized Subordination to Gender Indoctrination: 'Hadrian' and 'Tickets, Please'..............................................................................................................................20 Chapter 2: The Haunting Ghost of Rape: 'Samson and Delilah', 'The Princess', and 'None of That' ............................................................................................................................................58 Chapter 3: Women Divided........................................................................................................ -

Brasileiros Do Século XIX MASP E MNBA
Brasileiros do século XIX MASP e MNBA Instituto de Artes da UNESP Prof. Dr. Percival Tirapeli Chegou ao Rio com 25 anos em 1849 vindo da Itália (Treviso). Pouco se sabe de sua formação, a não ser sobre o verismo da arte italiano dos oitocentos. Trabalha com o espaço grandioso produzindo pequenas paisagens de grandes amplidões. Sabe compor entre as tensões do infinitamente pequeno e infinitamente grande Praia do Botafogo Estudou em Roma, Milão e pintou A primeira missa em Paris, em 1861. No Rio pintou a Batalha de Guararapes em 1879, em contraposição à Batalha de Avaí de Pedro Américo. Faz um grande panorama do Rio de Janeiro para a exposição universal de Paris em 1889, ano em que D. Pedro II se exilou, e morreu em 1891. VÍTOR MEIRELES DE LIMA (Florianópolis, SC, 1832 - Rio de Janeiro, 1903) Dom Pedro II, 1864 óleo sobre tela, 252 x 165 cm D. Pedro II nasceu no Palácio de São Cristovão no Rio de Janeiro em 1825 e assumiu o trono em 1831 quando ocorreu a Regência, até sua posse em 1840. Casou-se com Dona Teresa Cristina, napolitana, em 1843 com a qual teve 4 filhos. Morreu no Porto, em Portugal, em 1889. Obra de corpo inteiro em traje de gala, chapéu bicórnio na mão esquerda e olhando para o espectador. O traje tem ombreira de marechal-de-campo, casaca rebordada de ouro, configurando uma armadura. A posição da mão direita dá-lhe altivez. O ambiente: gabinete com mesa de trabalho, livros, globo terrestre e obras de arte como Atena, deusa da sabedoria, busto de humanista e dois quadros. -

Camila Dazzi (Bolsista IC/Cnpq) 2 CAVALCANTI, Ana Maria."Os Prêmios De Viagem Da Academia Em Pintura"
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IFCH – UNICAMP Dazzi, Camila Carneiro D339r Relações Brasil-Itália na Arte do Segundo Oitocentos: estudo sobre Henrique Bernardelli (1880 a 1890) / Camila Carneiro Dazzi. - - Campinas, SP: [s.n.], 2006. Orientador: Luciano Migliaccio. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 1. Bernardelli, Henrique, 1858 - 1936. 2. Arte italiana - Brasil. 3. Arte – Brasil – Séc. XIX. 4. Crítica de arte. I. Migliaccio, Luciano. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. (msh/ifch) Palavras-chave em inglês (Keywords): Bernardelli, Henrique, 1858 - 1936 Italian art – Brazil Art – Brazil – 19th century Art criticism Área de concentração: História da Arte Titulação: Mestrado em História Banca examinadora: Prof. Dr. Luciano Migliaccio (orientador) Prof. Dr. Jorge Coli Prof. Dr. Luis Carlos da Silva Dantas Data da defesa: 31 de maio de 2006 ii A minhas duas paixões, Danillo Dazzi, pelo seu amor incondicional Arthur, por me enriquecer com suas críticas e me amparar nas dificuldades iii Agradecimentos O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa que teve início ainda durante a Graduação, como bolsista IC/CNPq. Por esse motivo, devo agradecer primeiramente aquela que, acreditando na minha capacidade, me possibilitou dar os primeiros passos da minha carreira acadêmica. A Profa. Dra. Sonia Gomes Pereira agradeço pelas inúmeras oportunidades que me concebeu. Ao meu orientador, prof. Dr. Luciano Migliaccio, através do qual travei meu primeiro contato com a obra de Henrique Bernardelli e com a arte italiana oitocentista. Agradeço pelo confiança e entusiasmo demonstrados, assim como pela constante participação durante a toda a elaboração deste trabalho. -

The Ecstasy of Rebellion in the Works of Jean Genet
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Dissertations and Theses City College of New York 2014 Dissidence is Bliss: The Ecstasy of Rebellion in the Works of Jean Genet Shane Fallon CUNY City College How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/cc_etds_theses/237 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Dissidence is Bliss: The Ecstasy of Rebellion in the Works of Jean Genet By Shane Fallon Mentored by Harold Aram Veeser August 2013 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts of the City College of the City University of New York “We must see our rituals for what they are: completely arbitrary things, tired of games and irony, it is good to be dirty and bearded, to have long hair, to look like a girl when one is a boy (and vice versa); one must put ‘in play,’ show up transform, and reverse the systems which quietly order us about. As far as I am concerned, that is what I try to do in my work.” -Michel Foucault “What is this story of Fantine about? It is about society buying a slave. From whom? From misery. From hunger, from cold, from loneliness, from desertion, from privation. Melancholy barter. A soul for a piece of bread. Misery makes the offer, society accepts.” -Victor Hugo, Les Miserables Table of Contents Introduction……. -
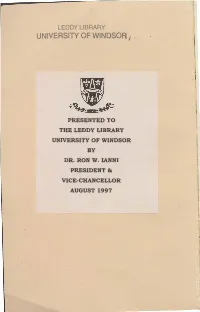
Constructing Sexualities
LEDDY LIBRARY UNIVERSITY OF WINDSOR, PRESENTED TO THE LEDDY LIBRARY UNIVERSITY OF WINDSOR BY DR. RON W. IANNI PRESIDENT& VICE-CHANCELLOR AUGUST 1997 CONSTRUCTING SEXUALITIES Edited by Jacqueline Murray Working Papers in the Humanities I Humanities Research Group University of Windsor Windsor, Ontario, Canada N9B 3P4 1993 © 1993 by the Humanities Research Group, University of Windsor, Windsor, Ontario, Canada, N98 3P4 L._E.D L C.,tRe HQ 1a ,CJo5 l CfCf 3 Data Canadian Cataloguing in Publication Main entry under title: Constructing sexualities (Working papers in the humanities 1) Lectures given 1 992-93 as part of the Distinguished Speaker Series II Constructing Sexualities II sponsored by the Humanities Research Group, University of Windsor. Includes bibliographical references. ISBN 0-9697776-0-4 1. Sex - History. L Murray, Jacqueline, 1953 II. University of Windsor. Humanities Research Group. Ill. Title. IV. Series. HO12.C65 1993 306.7 C93-095597-8 CONTENTS PREFACE V INTRODUCTION vii JANE ABRAY Holy Chastity: Sexual Morality in Sixteenth Century Western Europe 1 Colloquium Report 21 MARTHA VICINUS Turn of the Century Male Impersonation: Women as Sexual Actors 25 Colloquium Report 57 THOMAS WAUGH Knowledge and Desire: Dr. Kinsey as Arbiter· of the Homoerotic Imaginary 63 Colloquium Report 89 JEFFREY WEEKS Necessary Fictions 93 Living with Uncertainty 123 Colloquium Report 147 CONTRIBUTORS 151 SUGGESTED FURTHER READINGS 153 . ' I PREFACE This volume is the first of a series of Working Papers to be published by the Humanities Research Group at the University of Windsor. The HRG is dedicated to encouraging research in the humanities and especially to promoting dialogue between and across disciplines.