Fundamentos Da Ciências Da Computação.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

N.K. Jemisin in the City We Became, the Award-Winning Science Fiction Writer Keeps Breaking New Ground P
Featuring 407 Industry-First Reviews of Fiction, Nonfiction, Children'sand YA books KIRKUSVOL. LXXXVIII, NO. 6 | 15 MARCH 2020 REVIEWS N.K. Jemisin In The City We Became, the award-winning science fiction writer keeps breaking new ground p. 14 Also in the issue: Kevin Nguyen, Victoria James, Jessica Kim, and more from the editor’s desk: Great Escapes Through Reading Chairman BY TOM BEER HERBERT SIMON President & Publisher MARC WINKELMAN John Paraskevas # March is the dreariest month. We know that spring is around the cor- Chief Executive Officer ner, but…it can be a long time coming. If you’re fortunate, you might escape MEG LABORDE KUEHN [email protected] to a Florida beach or some other far-flung destination for rejuvenation. For Editor-in-Chief the rest of us, spring break may come in the form of a book that transports TOM BEER [email protected] us elsewhere, indelibly rendered through prose. Here are five titles, new or Vice President of Marketing coming soon, that the travel agent in me would like to recommend. But be SARAH KALINA [email protected] forewarned: There is frequently trouble in paradise. Managing/Nonfiction Editor ERIC LIEBETRAU Saint X by Alexis Schaitkin (Celadon Books, Feb. 18): The title refers [email protected] to the fictional Caribbean island where the Thomas family is on a vacation Fiction Editor LAURIE MUCHNICK at an evocatively described resort—“the long drive lined with perfectly ver- [email protected] Tom Beer tical palm trees,” “the beach where lounge chairs are arranged in a parab- Children’s Editor VICKY SMITH ola,” the scents of “frangipani and coconut sunscreen and the mild saline of [email protected] equatorial ocean.” Alas, this family vacation does not end well, forever altering the lives of Claire Young Adult Editor LAURA SIMEON Thomas, age 7 at the time, and Clive Richardson, an employee at the resort. -

RW-1970-10-31.Pdf
Dedi-rated To Serving The Needs Of The Musi- & Record Industry October 31, 1910 15c In the opinion of the editors, this week the following records are the WHO SLVG11t /'/('KS OF THE 11 "/: /: K VAN IN THE MORRISON WORLD Ringo Starr's C&W warb- Neil Diamond has never "Domino" (V a n Jan/WB, According to Clarence Car- lings will not go unnoticed been hotter. His waxing of ASCAP) is a fantastically ter "It's All in Your Mind" in either the country or "He Ain't Heavy . He's intense hit offering from (Fame, BMI) which, come pop fields as he laments My Brother" (Harrison, incredible Van Morrison. to think of it, is probably "Beaucoups of Blues" ASCAP), t h e Hollies' h i t He just keeps coming up true. "Patches" follow-up (Window, BMI). Same guy should keep him just that with amazing songs time is certainly more than a sang "Act Naturally" and way (Uni 55264). after time (Warner Bros. sure bet (Atantic 2774). "Honey Don't" (Apple 7434). 2969). .S'LF'F:/'ER /'/('K.S' OF THE 1I'FFK Betty Everett's debut for "Ah Feel She Really "Back Home" (Dayglow/ There's nothing strange the label has got what it Doesn't Wanna Do It" (Dou- Popdraw, ASCAP) is Hol- about "Right On" (Doraflo- takes to take off both R & ble Diamond, BMI) claims land for the group called Greyhound, BMI) by the B and pop. She sounds bet- Grover Mitchell. He does it Golden Earring. That's Strange Bros. Show. The ter than ever singing "I with lots of drive and grit where this one has been former Strangeloves (with Got to Tell Somebody" to give this one a head number one for over six a little help from their (Wally Raker, BMI) (Fan- start to success (Vanguard weeks and they could do friends) create a great tasy 652). -

Tesis Doctoral, Universidad De Extremadura, 2012, P
Alfonso Vázquez Atochero INCIDENCIA DE LA BRECHA DIGITAL EN GRUPOSDE IGUALES A PARTIR DE LA INTERACTIVIDAD ENTRE LA IDENTIDAD FíSICA Y LA IDENTIDAD DIGITAL A l f o n s o V á z q u e z A t o c h e r o INCIDENCIA DE LA BRECHA DIGITAL EN GRUPOSDE IGUALES A PARTIR DE LA INTERACTIVIDAD ENTRE LA IDENTIDAD FíSICA Y LA IDENTIDAD DIGITAL A l f o n s o V á z q u e z A t o c h e r o INCIDENCIA DE LA BRECHA DIGITAL EN GRUPOSDE IGUALES A PARTIR DE LA INTERACTIVIDAD ENTRE LA IDENTIDAD FíSICA Y LA IDENTIDAD DIGITAL EGALITE (EUROPEAN SCIENTIFIC INSTITUTE, Publishing) Impressum Bibliographic information published by the National and University Library "St. Kliment Ohridski" in Skopje; detailed bibliographic data are available in the internet at http://www.nubsk.edu.mk/; CIP - 316.47:004.7 COBISS.MK-ID 94334986 Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this works is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone. Publisher: European Scientific Institute Street: "203", number "1", 2300 Kocani, Republic of Macedonia Email: [email protected] Printed in Republic of Macedonia ISBN: 978-608-4642-08-4 Copyright © 2013 by the author, European Scientific Institute and licensors All rights reserved. -

PORTADA ELECTRONICA 660 NOV.Indd
Seguridad en redes Análisis en torno a las tecnologías de privacidad en redes. Anonimato en transmisión de datos Por el Dr. Javier Areitio Prof. Dr. Javier Areitio En el presente artículo se analizan diversas tecnologías de privacidad para redes. Es un hecho conocido que la inter- Bertolín – E.Mail: ceptación de sesiones de comunicación usuales proporciona una gran cantidad de datos privados de tráfico incluso [email protected] aunque se encuentre cifrada. Actualmente se observa un elevado crecimiento de aplicaciones del anonimato de las Catedrático de la comunicaciones electrónicas en ámbitos como los negocios, nivel corporativo, personal además de su uso tradicional Facultad de Ingeniería. a nivel gubernamental. Tecnologías de seguridad clásicas en entornos de negocio como VPN (Virtual Private Network) ESIDE. tanto basadas en SSL (sin cliente) como con cliente basada en IPSec no proporcionan privacidad ya que son suscepti- Director del Grupo de bles de ataques a la identidad y a la localización. Hoy en día existen muchos negocios que esperan construirse sobre Investigación Redes y redes de anonimato. Se observa un incremento de proveedores de servicios de anonimato gratuitos y de pago para Sistemas. hosting de Email y de servidores físicos y virtuales, servicios de proxy inverso Internet, proveedores de pagos (tarjetas Universidad de Deusto. visa prepago), etc. Introducción La privacidad es fundamental a la hora de poder protegerse contra todo tipo de usuarios maliciosos y activi- dades fraudulentas, en entornos de colaboración e interacción confiable. La privacidad es necesaria para prote- ger los siguientes elementos: (i) A la fuente de la información. (ii) Al destino de la información. -

Doulgeraki2010.Pdf
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Δουλγεράκη Καλλιόπη (AM: 1382) E-mail: [email protected] Κάππα Βιργινία (ΑΜ: 1389) E-mail: [email protected] Ηράκλειο – 27/1/2010 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος Ανωνυμία και εφαρμογές στο Internet Υπεύθυνη Δήλωση: Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαμε για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχουμε αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες κάναμε χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνουμε ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμάς προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ii Καλλιόπη Δουλγεράκη – Βιργινία Κάππα Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή καθηγητή Δρ. Μανιφάβα Χαράλαμπο , ο οποίος μας επόπτευε στην πτυχιακή εργασία μας, τις οικογένειές μας για τη συμπαράστασή τους, και έναν καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Δανιηλίδη Ιωάννη για την πολύτιμη βοήθειά του. iii Ανωνυμία και εφαρμογές στο Internet Πίνακας Περιεχομένων Ευχαριστίες..................................................................................................................iii Πίνακας Εικόνων .......................................................................................................vii -

Gangs of Nicaragua”
1 José Luis Rocha / Dennis Rodgers 2 José Luis Rocha / Dennis Rodgers José Luis Rocha, Dennis Rodgers “Gangs of Nicaragua” 1st Edition -- Managua, 2008 185 pp ISBN: © José Luis Rocha, Dennis Rodgers Cover photograph and photograph on page 69: Anneli Tolvanen All other photographs: José Luis Rocha Graphic design: Jamileth Treminio Printing: Impresiones Helios The texts collected in this volume were previously published in Envío, the Journal of the Central American University (UCA), Managua, Nicaragua. Tel: (505) 278-2557. Fax: (505) 278-1402. Email: [email protected]. Website: www.envio.org.ni A Spanish version of this book was previously published as Bróderes Descobijados y Vagos Alucinados: Una Década con las Pandillas Nicaragüenses 1997-2007, with the financial support of Norwegian Church Aid (NCA). This electronic English translation is published with the financial support of the Brooks World Poverty Institute (BWPI), University of Manchester, UK. 3 “When I was younger, my parents would beat me, to prevent me from becoming a gang member. But the issue is not whether or not they beat me, and it’s not a question of education either. These can be important, but not always. The issue is how you connect to the ‘feeling’ of being a gang member. You get led to the gang because of friendship, and you become a gang member to be with your brothers”. César, 17 years old, 1999 “I feel good in the gang. I don’t get backstabbed because I know who my brothers are.” Teresa, 20 years old, 1999 “I opened myself up to the gang little by little. -
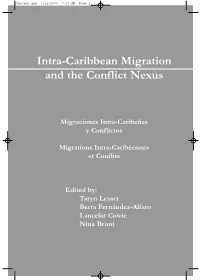
Intra-Caribbean Migration and the Conflict Nexus
Content.qxd 8/31/2006 7:37 AM Page i Intra-Caribbean Migration and the Conflict Nexus Migraciones Intra-Caribeñas y Conflictos Migrations Intra-Caribéennes et Conflits Edited by: Taryn Lesser Berta Fernández-Alfaro Lancelot Cowie Nina Bruni Content.qxd 8/31/2006 7:37 AM Page ii Intra-Caribbean Migration and the Conflict Nexus / Migraciones Intra-Caribeñas y Conflicto / Migrations Intra-Caribéennes et Conflits published in 2006 by Human Rights Internet, Ottawa, Canada, in collaboration with the International Organization for Migration, the Association of Caribbean States, and The University of the West Indies, Center for Latin America and the Caribbean. COPYRIGHT ©2006 by Human Right Internet Printed in Canada 1 2 3 4 5 09 08 07 06 For more information contact Human Right Internet, One Nicholas Street, Suite 301 Ottawa, Ontario, K1N 7B7, CANADA, telephone: 1-613-789-7407, fax: 1-613-789-7414, or find us on the Internet at http://www.hri.ca/ For comments or to request a copy of this publication, please contact Human Rights Internet or email: [email protected]. Printed in 2006 by Tri-Graphic Printing Ltd, Ottawa, Canada. Visit: http://www.tri-graphic.com/ ISBN 1-894253-62-0 While every effort has been made to ensure the accuracy of the facts and data contained in this publication, no responsibility can be accepted by the publisher for errors and omissions or their consequences. The opinions expressed in each article are those of the authors alone, and may not represent the opinions of the institutions with which they are affiliated or the opinions of the publication's principal collaborators. -

V~~LTU RALES DE MÉXICO
S RETOS v~~LTU RALES DE MÉXICO CULTURALES Lourdes Arizpe coordinadora La H. CAh4ARA DE DIPUTADOS,LD[ LEGISLATURA, participa en la coedición de esta obra al incorporarla a SU Serie CONOCER PARA DECIDIR Primera edición, septiembre del año 2004 O 2004 Por características tipográficas y de edición MIGUELANGEL PORRUA, librero-editor Derechos reservados conforme a la ley ISBN 970-701-502-0 IMPRESO EN MÉXICO a PRINTED lN MEXICO -- Amargura 4, San &gel, Álvaro Obregón, 01000 México, D.F. UESTRA historia milenaria nos dice que México, en el concierto N de naciones, es un país de alta densidad cultural. País recono- cido como megadiverso en flora y fauna, su temtorio también alber- ga una diversidad de culturas mesoamericanas que siguen avanzando y múltiples culturas que llegaron de otros continentes: andaluces, castellanos y vascos, asimilados en una época lejana bajo el vocablo genérico de "españoles" frente al de "indios" y que hoy se recono- cen autónomos; "esclavos africanos", hoy reconocidos como ban- túes, mandingas y tantos más, y "chinos", término que representaba a todos los asiáticos. Mucho más tarde llegaron los franceses, los estadounidenses y tantos refugiados recibidos con los brazos abier- tos: republicanos de España, brasileños, chilenos y argentinos, entre muchos otros. México es, por tanto, un país megacultural. Las fusiones y diversidades de esta generosa historia h& creado una vigorosa comente cultural de origen mexicano que hoy influye en toda América del Norte y Latinoamérica. Una herencia cultural tan profunda y diversa no puede dejarse empequeñecer y trivializar para convertirse en simple compra y ven- ta de objetos culturales o consumo de imágenes de entretenimiento a las que se les extirpa toda vida. -

International Study Program for Indoor Environmental Research
UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones 5-2011 International study program for indoor environmental research Stoil Pamoukov University of Nevada, Las Vegas Follow this and additional works at: https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations Part of the Biological Psychology Commons, Educational Psychology Commons, School Psychology Commons, and the Social Psychology and Interaction Commons Repository Citation Pamoukov, Stoil, "International study program for indoor environmental research" (2011). UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 1407. http://dx.doi.org/10.34917/3335730 This Thesis is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Scholarship@UNLV with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Thesis in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Thesis has been accepted for inclusion in UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones by an authorized administrator of Digital Scholarship@UNLV. For more information, please contact [email protected]. INTERNATIONAL STUDY PROGRAM FOR INDOOR ENVIRONMENTAL RESEARCH by Stoil Pamoukov Bachelor of Science in Mechanical Engineering University of Nevada, Las Vegas 2009 A thesis submitted in partial fulfillment -

Comunicacion 157 6.0.Qxd
Y EL CINE VA... CINE EL Y J-00138912-1 Índice general de artículos 2011 artículos de general Índice ■ cinematográfico venezolano cinematográfico Alfredo Roffé (1929-2011) y el pensamiento pensamiento el y (1929-2011) Roffé Alfredo ■ Cine en el aula internacional aula el en Cine ■ El revés de una mirada rota mirada una de revés El ■ y su crisis su y Estilos de crítica cinematográfica: el cine para leer leer para cine el cinematográfica: crítica de Estilos ■ ras la pista del chavismo pop chavismo del pista la ras T ■ NoMateria, el valor del diseño industrial diseño del valor el NoMateria, ■ El jesuita que (casi) inventó el cine el inventó (casi) que jesuita El ■ Pandemónium invertidos: géneros Los ■ El cine como sistema de significación de sistema como cine El ■ El cine que ya no tenemos no ya que cine El ■ Cifras sobre el mercado del cine en Venezuela en cine del mercado el sobre Cifras ■ El sueño de la razón produce cine produce razón la de sueño El ■ a las industrias creativas, la ciencia y la tecnología? la y ciencia la creativas, industrias las a comunicación 157 Rapsodia en Bit Mayor. ¿Cuánto le debe la música música la debe le ¿Cuánto Mayor. Bit en Rapsodia ■ y la furia la y El blog de Max, o lectura profunda contra el sonido sonido el contra profunda lectura o Max, de blog El ■ Pueblo, medios y libertad de expresión de libertad y medios Pueblo, ■ Derecho a la libertad de expresión e información e expresión de libertad la a Derecho ■ Estudios venezolanos de comunicación • Primer trimestre 2012 • • 2012 trimestre Primer • comunicación de venezolanos Estudios Nº 157 Nº CENTRO GUMILLA comunica ción Director Producción Editorial Marcelino Bisbal Bimedia 21 Diseño Editorial Editores adjuntos Impresión Humberto Valdivieso Ex Libris – Reinvento esos personajes dentro de un enfoque que toca el ab- Gabriela Arenas surdo, el humor negro y hasta la perversidad y el cinismo. -

Of Stolen Boats and Antialiasing Translating Rockstar’S Video Game Grand Theft Auto V
Of Stolen Boats and Antialiasing Translating Rockstar’s Video Game Grand Theft Auto V Cees Koelewijn 3849066 Master Thesis Master Vertalen Universiteit Utrecht Supervisor: Cees Koster Second Reader: Anniek Kool Table of contents Foreword 3 Introduction 4 Context 8 Translation of Video Games 16 Analysis 38 Translations 72 Concluding Remarks 127 Sources 128 Appendices 133 2 Foreword I would like to take this opportunity to thank my friends and family for their support during the process of writing this thesis. My thanks also goes out to my supervisor, Cees Koster, and to the other teachers I’ve had the opportunity to learn from. My thanks also goes to Inouchka Kreuning, who was kind enough to give me a bit of insight into the practical side of things. But most of all, I thank my dear Allette. I can honestly say that I would not have been able to do this without you. 3 0. Introduction Translation is about change. In the act of translation, the translator changes his source documents, so that when the act is completed, the translated document can be read in a different language. This process inevitably entails change, since, as Chesterman (1997) puts it, in its simplest form, the strategy of the translator could be to “change something (92).” Aside from the changes translators make, translation itself is also changing. Translation Studies has traditionally focused on words, sentences, paragraphs and texts (Bernal-Merino 2014, 61). However, in today’s society, in which multimedia has become a key figure, this traditional focus must be broadened in order to maintain its relevance. -

Descargas De Mayix.Net
Empezamos. 1. Índice. 2. Prólogo Las entrevistas. 3. Entrevista positylinux 4. Entrevista mayix Los howtos no pueden faltar. 5. Escaneos snort 6. Seguridad en lilo 7. Linux & ipod 8. Id dinámica como si fuera estática. Un reportaje. 9. Sobre lives. Un estudio de campo 10. Sobre la usabilidad de linux. El rincón de experiencias 11. Experiencias personales: archie live 12. Ubuntu por un novato 13. Servicios webs Unos apuntes 14. Porque debian es así... universo debian El rincón del traductor 15. Centos: Configuracion simple de un Servidor DHCP en WBEL 16. Centos: Instalación Mínima. En el taller 17. Sección día a día, trucos, scripts... El espacio amigo 18. Las webs de nuestros compañeros. Curso 19. Autotools Un manual imprescindible para cerrar. 20. Edición video Finalizando 20. Agradecimientos, autores y colaboradores, equipo de redacción y coordinación, es decir los créditos 2- Prologo. Y llegó el 2º número del magazine. Seis meses después del primero, con renovadas ilusiones y con el deseo de al menos poder publicar dos números anuales en este intervalo propuesto. El presente magazine presenta una más que interesante diversidad de contenidos, mayor colaboración que el anterior, aumento considerable de documentos y artículos, y por que no reconocerlo, una mayor calidad, o al menos eso se ha pretendido y esperemos que se haya conseguido, ustedes juzgarán si fue así o no. A la par de esta publicación da inicio la confección y elaboración del 3 número del magazine, que saldrá publicado en el próximo mes de abril, momento en el que cumpliremos dos años dando guerra. En él encontrarán entrevistas, artículos, manuales, reportajes inéditos, experiencias personales, apuntes, trucos y utilidades diarias, el espacio para los amigos, que bien merecido lo tienen, y sobre todo el intento de plasmar un gran trabajo, que se inicio tras la publicación del primer número.