Adolescer: Discursos De Uma Subjetivação
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
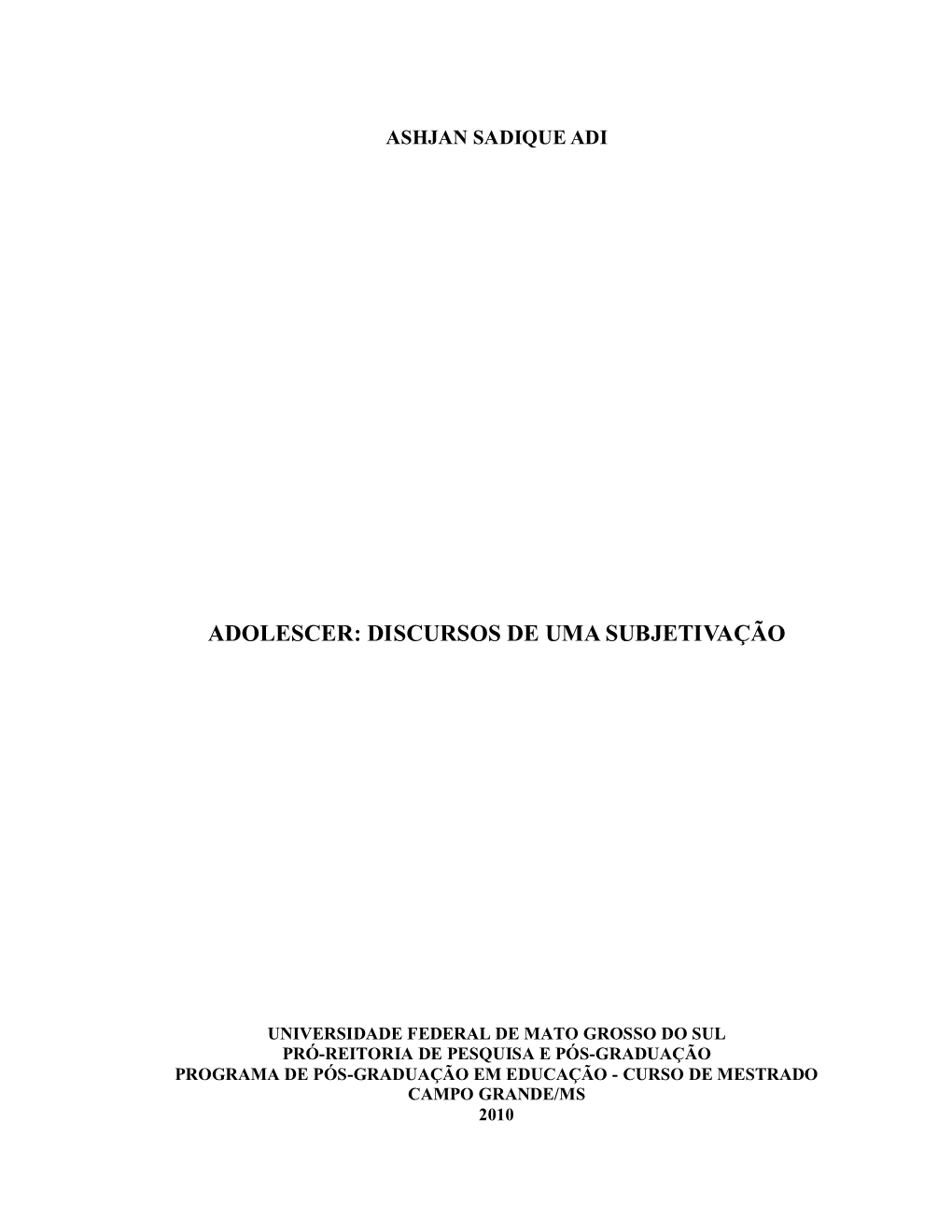
Load more
Recommended publications
-

Kevin O Chris, Parangolé, Banda Eva E Dennis Intense Na Programação Da Liga Dos Blocos De Carnaval De Ouro Preto
KEVIN O CHRIS, PARANGOLÉ, BANDA EVA E DENNIS INTENSE NA PROGRAMAÇÃO DA LIGA DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE OURO PRETO A seleção de atrações da Liga dos Blocos para o Carnaval de Ouro Preto contempla estilos musicais que são a cara do verão. Quem vier para a festa, no Espaço Folia, vai encontrar muita animação, ao som de axé, funk e música eletrônica. Kevin O Chris, MC Livinho, Jerry Smith, MC Don Juan e DJ Guuga animam o dia 22 de fevereiro, sábado, quando o Bloco do Caixão comanda a festa. Parangolé, Breaking Beatzz, Groove Delight, MC Rick e FP de Trem Bala fazem parte do line-up do Bloco Cabrobró, no dia 23 de fevereiro, domingo. Na segunda-feira, 24 de fevereiro, o Bloco da Praia é quem dá o tom, com Banda Eva, Liu, MC G15 e Pedro Sampaio. Para finalizar, no dia 25 de fevereiro, terça-feira, o Bloco Chapado traz Dennis Intense, Bruno Martini e Thiaguinho (Warm Up). Confira as atrações de cada bloco integrante da Liga: Bloco do Caixão – 22 de fevereiro de 2020 Atrações: Kevin O Chris, MC Livinho, Jerry Smith, MC Don Juan e DJ Guuga Kevin O Chris 2019 foi o ano de Kevin O Chris. O artista emplacou mais de 10 hits nas paradas nacionais. No ano anterior, Kevin o Chris começou a se destacar na vertente do funk carioca conhecida por "funk 150 BPM", que tem batidas mais aceleradas, e na festa "Baile da Gaiola", originária do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Sua primeira canção a alcançar o topo das paradas musicais brasileiras foi "Vamos Pra Gaiola". -

Universidade Feevale Giovani Pozzo Junior Construção
UNIVERSIDADE FEEVALE GIOVANI POZZO JUNIOR CONSTRUÇÃO DE UM DATASET DE INFORMAÇÕES MUSICAIS EXTRAÍDAS DE POSTS EM REDES SOCIAIS ONLINE Novo Hamburgo 2019 GIOVANI POZZO JUNIOR CONSTRUÇÃO DE UM DATASET DE INFORMAÇÕES MUSICAIS EXTRAÍDAS DE POSTS EM REDES SOCIAIS ONLINE Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Feevale. Orientador: Me. Roberto Scheid Novo Hamburgo 2019 Giovani Pozzo Junior Construção de um Dataset de Informações Musicais Extraídas de Posts em Redes Sociais Online Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Feevale, sendo submetido à Banca Examinadora e considerado aprovado em __/__/2019. ___________________________________________ Prof. Me. Roberto Scheid Professor Orientador ___________________________________________ Membro da Banca Examinadora ___________________________________________ Membro da Banca Examinadora AGRADECIMENTOS À minha avó, Delvair, por ter presenciado e se emocionado com todas as conquistas que tive na vida até aqui; por ter acompanhado de perto estes meus 5 anos de graduação; e pela certeza de que, mesmo tendo partido poucos meses antes deste término, está assistindo à minha gradução do camarote mais alto que existe. À minha mãe, Silviah, pelo incondicional suporte e companheirismo, desde o dia em que eu nasci; à minha mãe, por absolutamente tudo. Ao meu pai, Giovani, pelos valores e pelos tantos e sempre disponíveis abraços, festivos ou de consolo. À minha irmã Danielle, por ser uma referência intelectual para mim, e por todo o suporte ao longo do curso e deste trabalho. À minha irmã Rafaella, pela parceria irrestrita dos momentos difíceis aos mais prazerosos e divertidos. -

Título Do Artigo
Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação Universidade Federal de Juiz de Fora / UFJF ISSN 1981- 4070 Lumina O vídeoclipe na Web: consumo de massa? Daniela Zanetti1 Nathan Mello dos Santos2 Resumo: O artigo traz algumas considerações sobre a migração do videoclipe da TV para a Web e a apropriação de plataformas on line de disponibilização de vídeos por parte da indústria fonográfica e do mercado musical independente. O estudo se baseia na análise de alguns videoclipes mais visualizados no Youtube, buscando situar a música popular neste contexto. Considera-se d hipótese de que, mesmo estando associada a um forte discurso de segmentação de mercado, a Web também possibilita a efetivação do mercado dos chamados hits musicais. Tal fenômeno está em conformidade com o cenário da convergência midiática, que tem contribuído para modificar as formas de consumo musical na contemporaneirade. Palavras-Chave: Videoclipe, Internet, indústria fonográfica, cibercultura. Abstract: The paper reflects on the migration of music video from TV to the Web and the appropriation of platforms that provide online videos from the music industry and also from the independent music market. The study is based on analysis of some videoclips most viewed on Youtube, seeking to situate popular music in this context. The hypothesis considers that, even if based on market segmentation, the Web also enables the realization of the market called musical hits. This phenomenon is consistent with the scenario of media convergence, which has contributed to modify the form of music consumption. Keywords: Music Video, Internet, music industry, cyberculture. Introdução Em estudo anterior sobre videoclipe e ciberespaço (ZANETTI e BELO, 2012), foram identificadas algumas especificidades da migração do formato videoclipe para a Web 2.0, que se caracteriza hoje como uma das principais plataformas de consumo musical (CASTRO, 2005). -

Funk E Hip-Hop: Comunicação Sem Fronteiras
Comunicação e música contemporânea: as hibridações culturais do funk e do hip-hop no Brasil por Denis Weisz Kuck Orientador: Micael Herschmann Escola de Comunicação Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2003 ii COMUNICAÇÃO E MÚSICA CONTEMPORÂNEA: as hibridações culturais do funk e do hip-hop no Brasil por Denis Weisz Kuck Escola de Comunicação Universidade Federal do Rio de Janeiro Curso de Bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo Orientador: Micael Herschmann Rio de Janeiro 2003 2 iii COMUNICAÇÃO E MÚSICA CONTEMPORÂNEA: as hibridações culturais do funk e do hip-hop no Brasil Por Denis Weisz Kuck Projeto Experimental submetido ao corpo docente da Escola de Comunicação – ECO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, Jornalismo. Aprovado por: ____________________________________ Micael Herschmann, - Orientador ___________________________________ Prof. Paulo Roberto Pires ___________________________________ Prof. Fernando Mansur Rio de Janeiro 2003 3 iv Kuck, Denis W. Comunicação e música contemporânea: as hibridações culturais do funk e do hip-hop no Brasil Denis Kuck. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO, 2005 vii, 85 p. Monografia de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social Universidade Federal do Rio de Janeiro Escola de Comunicação 1. Funk. 2. Hip-hop. 3. Hibridação cultural. 4. Globalização. 5. Antropofagismo. 6. Consumo. 7. Monografia de conclusão de curso de graduação 4 v RESUMO KUCK, Denis Weisz. Comunicação -

A Experiência Estética Entra Em Cena Na História Uberlândia 2021
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA GABRIEL PASSOLD VIDEOCLIPE E MÚSICA: A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA ENTRA EM CENA NA HISTÓRIA UBERLÂNDIA 2021 GABRIEL PASSOLD VIDEOCLIPE E MÚSICA: A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA ENTRA EM CENA NA HISTÓRIA Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em História. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Paulo Morais. UBERLÂNDIA 2021 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da UFU, MG, Brasil. P289v Passold, Gabriel, 1985- 2021 Videoclipe e música [recurso eletrônico] : a experiência estética entra em cena na história / Gabriel Passold. - 2021. Orientador: Sérgio Paulo Morais. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em História. Modo de acesso: Internet. Disponível em: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.5524 Inclui bibliografia. Inclui ilustrações. 1. História. I. Morais, Sérgio Paulo, 1972-, (Orient.). II. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em História. III. Título. CDU:930 Glória Aparecida Bibliotecária - CRB-6/2047 09/08/2021 SEI/UFU - 2783531 - Ata de Defesa - Pós-Graduação UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1H, Sala 1H50 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 Telefone: (34) 3239-4395 - www.ppghis.inhis.ufu.br - [email protected] ATA DE DEFESA - PÓS-GRADUAÇÃO Programa de Pós-Graduação História em: Defesa de: TESE -

Dia/Mês/Ano: Fundação Cultural Do Municípal De Varginha-Pç.Matheus Tavares-Nº121
Fundação Cultural do Municípal de Varginha-Pç.Matheus Tavares-Nº121-Centro-CEP:37002-320 / Rádio FM Educativa Melodia-ZYC - 272E - 102,3 - MHZ / 18.987.735/0001-16 / Varginha / MG Descrição Intérprete Compositor Gravadora Vivo/Mec Programação Musical Diária Dia/Mês/Ano: 01/06/2017 Without Love I Have Nothing Tom Jones 000 / 001 While My Guitar Gentlly Weeps Zé Ramalho 000 / 001 What a Fool Believes The Doobie Brothers 000 / 001 Wasted Words Allman Brothers Band 000 / 001 Você Vai Gostar Casinha Branca Matogrosso e Mathias 000 / 001 Voce Não Sabe Amar Gustavo Lima 000 / 001 Voa Liberdade Jessé 000 / 001 Viva La Vida Coldplay 000 / 004 Violeiro Lucas Reis e Thácio Cândido (Ao Vivo) 000 / 001 Velvet Goldmine David Bowie 000 / 001 Universo Caipira Goiano e Paranaense 000 / 001 Uncoditional Love Suzanna Hoffs 000 / 001 Um Trem Pra As Estrelas Cazuza 000 / 001 Um Rio Sempre Beija O Mar Biquini Cavadão 000 / 001 Um Arraso De Mulher Leandro e Leonardo 000 / 001 U Cant Touch This MC Hammer 000 / 001 Tudo Que O Mestre Ensinou Zé Monteiro e Alcino Porto 000 / 001 Tu Stai Bobby Solo 000 / 001 Tu Nella Mia Vita Wess & Dori Ghezzi 000 / 001 Toque De Berrante Lorito e Loreto 000 / 001 Toada Na Direção Do Dia Boca Livre 000 / 001 Thriller Michael Jackson 000 / 001 Theres No Way Out of Here David Gilmor 000 / 001 Theres No More Corn On The Brasos The Walkers 000 / 001 Terral Belchior, Amelinha e Ednardo 000 / 001 Terra Roxa Tiaõ Carreiro e Pardinho 000 / 001 Stand Up Hindi Zahra 000 / 001 Sobrou Pra Mim Tunai 000 / 001 Só Hoje Jota Quest 000 / 001 So Beautiful -

Listagem De Artistas - Letra T
13/04/13 Listagem de artistas - letra T CIFRA CLUB PALCO MP3 FÓRUM NOTÍCIAS AUDIOWARE GUITAR BATTLE FORME SUA BANDA Entrar Músicas Artistas Estilos Musicais Playlists Promoções Destaques Mais O que você quer ouvir? buscar página inicial t artistas começados com a letra "T" Não encontrou o artista desejado? Oi Velox Internet 9.378 artistas Envie uma letra de música dele! Internet com Alta Velocidade. Planos de Até 15 Mega. Aproveite! oi.com.br/OiVelox ordem alfabética mais acessados adicionados recentemente busque por artistas na letra T Utilize o Gmail O Gmail é prático e divertido. Experimente! As Tall As Lions The Bride The Rednecks Tô de Boa É fácil e gratuito. Mail.Google.com As Tandinhas & Imagem.com The Bride Wore Black The Reds Tô De Tôka As Tchutchucas The Bridges The Redskins To Destination As Tequileiras The Briefs The Redwalls To Die For Curtir 4,1 milhões As Tequileiras do Funk The Briggs The Reepz To Dream of Autumn As The Blood Spills The Brighams The Reflection To Each His Own Seguir @letras As The Plot Thickens The Bright Light Social Hour The Refreshments To Elysium As the Sea Parts The Bright Road The Refugees To Fly As The Sky Falls The Bright Side The Regents To Have Heroes As The Sun Sets The Bright Star Alliance The Reign Of Kindo To Heart As The World Fades The Brightlife The Reindeer Section To Kill As They Burn The Brightwings The rej3ctz To Kill Achilles As They Sleep The Brilliant Green The Relationship Tó Leal As Tigresas The Brilliant Things The Relay Company To Leave A Trace As Tigresas do Funk The Brinners -
Projeto Monografia
FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ! ! ! ! ! ! ! Bruno Bernardo Silva da Rocha ! ! ! ! DIFUSÃO DO RAP NA MODERNIDADE: A INTERNET COMO VÁLVULA DE ESCAPE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIO DE JANEIRO 2015 Bruno Bernardo Silva da Rocha ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DIFUSÃO DO RAP NA MODERNIDADE: A INTERNET COMO VÁLVULA DE ESCAPE ! ! ! Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Comunicação Social das Faculdades Integradas Hélio Alonso, como requisito parcial para a obtenção do título em Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, sob a ! orientação do Prof. Gabriel Gutierrez ! ! ! ! ! ! ! RIO DE JANEIRO 2015 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rocha, Bruno Bernardo Silva da. ! Difusão do Rap na Modernidade: A internet como válvula de escape ! / Bruno Bernardo Silva da Rocha.– Rio de Janeiro: FACHA, 2015. ! ! 39 f. Orientador: Gabriel Gutierrez. ! Monografia (Graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda) FACHA, 2015. ! ! 1. Rap. 2. Meios de Comunicação. 3. Indústria Fonográfica. 4. Internet I. Gutierrez, Gabriel. II. FACHA. III. Título. ! ! ! ! ! ! ! ! DIFUSÃO DO RAP NA MODERNIDADE: A INTERNET COMO VÁLVULA DE ESCAPE ! ! ! ! Bruno Bernardo Silva da Rocha ! ! ! Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Comunicação Social das Faculdades Integradas Hélio Alonso, como requisito parcial para a obtenção do título em Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, submetida à aprovação da seguinte ! Banca Examinadora ! ________________________________ Prof. Orientador ! ________________________________ Membro da Banca ________________________________ Membro da Banca ! ! Data da Defesa: ____________ Nota da Defesa: ____________ ! ! RIO DE JANEIRO 2015 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Aos meus pais, Marlene e Orlando, minha irmã Raisa e minha mulher, Carla com gratidão e carinho… Dedico Agradecimentos ! ! Ao Prof. Gabriel Gutierrez, por ter acreditado na minha força de vontade para a conclusão desse trabalho. Aos artistas entrevistados, MC Marechal, André Ramiro e Mr. -

R Ap Nas Quebradas: a Palavra Como Esporro E Escarro
HOMENAGEM DOSSIÊ PALESTRA HISTÓRIA & ARTIGOS MÚSICA POPULAR DEPOIMENTO , 2015, capa (detalhe). nas quebradas: ap R a palavra como esporro e como escarro TRADUÇÃO DOCUMENTOS RESENHAS Adalberto Paranhos Rap e política: percepções da vida social brasileira Mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pro PALESTRA fessor do Instituto de Ciências Sociais e dos Programas de Pós-graduação em História e em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Pesquisador do CNPq. Autor, entre outros livros, de Novo”. São Paulo: Intermeios/CNPq/Fapemig, 2015. Os desafinados: sambas e bambas no “Estado - [email protected] Rap nas quebradas: a palavra como esporro e como escarro Rap in poor neighborhoods: word as ranting and spit Adalberto Paranhos resumo abstract Escrito com a tinta fresca da história Written with the fresh paint of immediate imediata, o premiado livro de Roberto history, the Roberto Camargos’ award- Camargos, aqui apresentado, interpela, winning book we present here challenges de forma dura, nua e crua, o presente quite harshly the Brazilian present and past e o passado recente do Brasil num in a time of a global escalation of neoliberal momento marcado, mundo afora, pela capitalism. The raw flesh on which he feeds escalada do capitalismo neoliberal. A it rap from different corners and poor nei- carne viva da qual ele se alimenta é o ghborhoods of this often sad tropics, with rap de diferentes cantos e quebradas all the suite of disgraces it holds in store destes muitas vezes tristes trópicos, for a significant portion of those living in com todo o seu cortejo de desgraças poor outskirts of our big cities. -

(Im)Previdência Com O Futuro Mesmo Com O Anúncio De Mudanças Na Previdência, Os Jovens Ainda Se Preocupam Pouco Com a Aposentadoria
#2 Revista da Disciplina Técnica de Reportagem II • ECO/UFRJ AGOSTO/2017 (Im)previdência com o futuro Mesmo com o anúncio de mudanças na Previdência, os jovens ainda se preocupam pouco com a aposentadoria A volta ao trabalho de quem, mesmo aposentado, não pode parar O desequilíbrio histórico na renda de mulheres e homens A onda do veganismo Preconceito e assédio A nova geração A sintonia do hip hop no Rio de Janeiro no mundo dos games endinheirada do funk nas rodas culturais ANÚNCIO 2 EDITORIAL ssa é a segunda edição da revista Zoom, rea- entrevistados e pesquisas extras para ampliar a contex- lizada pelos alunos da disciplina Técnica de tualização das questões. Reportagem II, da Escola de Comunicação Outro aspecto central a diferenciar a reportagem é o E(ECO) da UFRJ. As duas turmas da ma- texto. Aos alunos é pedida a aplicação de um estilo no téria de Jornalismo, oferecida no 5º período do curso, qual sejam observados diferentes elementos da literatu- são ministradas pelos professores Paulo César Castro ra e, para isso, eles são provocados a tomar como base e Fernando Ewerton. A revista resulta do trabalho de- o New Journalism. Evidentemente que a exploração de senvolvido no semestre letivo de 2017-1, durante o qual recursos literários no texto tem que ser antecedida de os discentes precisaram colocar em prática as diferentes um olhar mais atento durante a etapa da apuração. Não etapas da produção jornalística – pauta, apuração, re- é possível mais dar atenção apenas ao que os entrevis- dação, revisão, edição e diagramação – para uma versão tados dizem; é preciso ir além, aguçando os sentidos impressa e outra online. -

Rômulo Vieira Da Silva
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO RÔMULO VIEIRA DA SILVA FLOWS & VIEWS: BATALHAS DE RIMAS, BATALHAS DE YOUTUBE, CYPHERS E O RAP BRASILEIRO NA CULTURA DIGITAL NITERÓI, RJ 2019 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO RÔMULO VIEIRA DA SILVA FLOWS & VIEWS: BATALHAS DE RIMAS, BATALHAS DE YOUTUBE, CYPHERS E O RAP BRASILEIRO NA CULTURA DIGITAL Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Comunicação, na linha de Estéticas e Tecnologias de Comunicação, da Universidade Federal Fluminense, para a obtenção do grau de Mestre em Comunicação. Orientadora: Profª. Drª. Simone Pereira de Sá. NITERÓI, RJ 2019 RÔMULO VIEIRA DA SILVA FLOWS & VIEWS: BATALHAS DE RIMAS, BATALHAS DE YOUTUBE, CYPHERS E O RAP BRASILEIRO NA CULTURA DIGITAL Niterói, 19 de fevereiro de 2019. BANCA EXAMINADORA __________________________________________________ Profª. Drª. Simone Pereira de Sá – Orientadora Universidade Federal Fluminense __________________________________________________ Prof. Dr. Felipe Trotta Universidade Federal Fluminense __________________________________________________ Prof. Dr. Leonardo De Marchi Universidade Estadual do Rio de Janeiro __________________________________________________ Prof. Dr. Jeder Janotti Junior Universidade Federal de Pernambuco Ficha catalográfica automática - SDC/BCG Gerada com informações fornecidas pelo autor V657f Vieira da Silva, Rômulo Flows e views : batalhas de rimas, batalhas de YouTube, cyphers e o RAP brasileiro na cultura digital / Rômulo Vieira da Silva ; Simone Pereira de Sá, orientadora. Niterói, 2019. 138 f. : il. Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGCOM.2019.m.14214813758 1. Hip-hop (Cultura popular). 2. Rap (Música). 3. Cibercultura. 4. -

Urbana Glazba
Urbana glazba Bando, Marin Master's thesis / Diplomski rad 2019 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Academy of Arts and Culture in Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:251:401863 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-09-23 Repository / Repozitorij: Repository of the Academy of Arts and Culture in Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST STUDIJ GLAZBENA PEDAGOGIJA Marin Bando URBANA GLAZBA Diplomski rad MENTORICA: red. prof. art. Sanja Drakulić Osijek, 2019. SAŽETAK Urbana glazba je žanr iz 80-ih i 90-ih godina koji uključuje R&B, hip hop, soul i grime. Danas je, pod utjecajem globalizacije, tržišne ekonomije i slobodnog tržišta, zauzela svoje mjesto u mainstream popularnoj kulturi. Može se reći da ne postoji dio svijeta u kojemu ne postoje hibridni i mješoviti žanrovi i podvrste, posebice hip hopa koji je izdominirao na tržištu urbane glazbe. Postoji svjetska hip hop scena, ali i ona regionalna. Bez obzira na neke različitosti, neke karakteristike hip hopa su posvuda iste. Naime, to je pretežno „crnačka glazba“ koja je utjecala na brojne kulture, a koja je od svojih početaka do danas ostala vjerna svojim tradicionalnim načelima kao što su dance skupine, koreografije, video, festivali, grafiti, break dance, DJ-evi, beatboxing, MCing, sinkopirani ritmovi bubnja, upotreba gramofona itd. Urbana je glazba danas pod utjecajem moćne glazbene industrije i tehnološkog napretka, te je postala u velikoj mjeri komercijalna.