Revista Brasileira De Geografia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
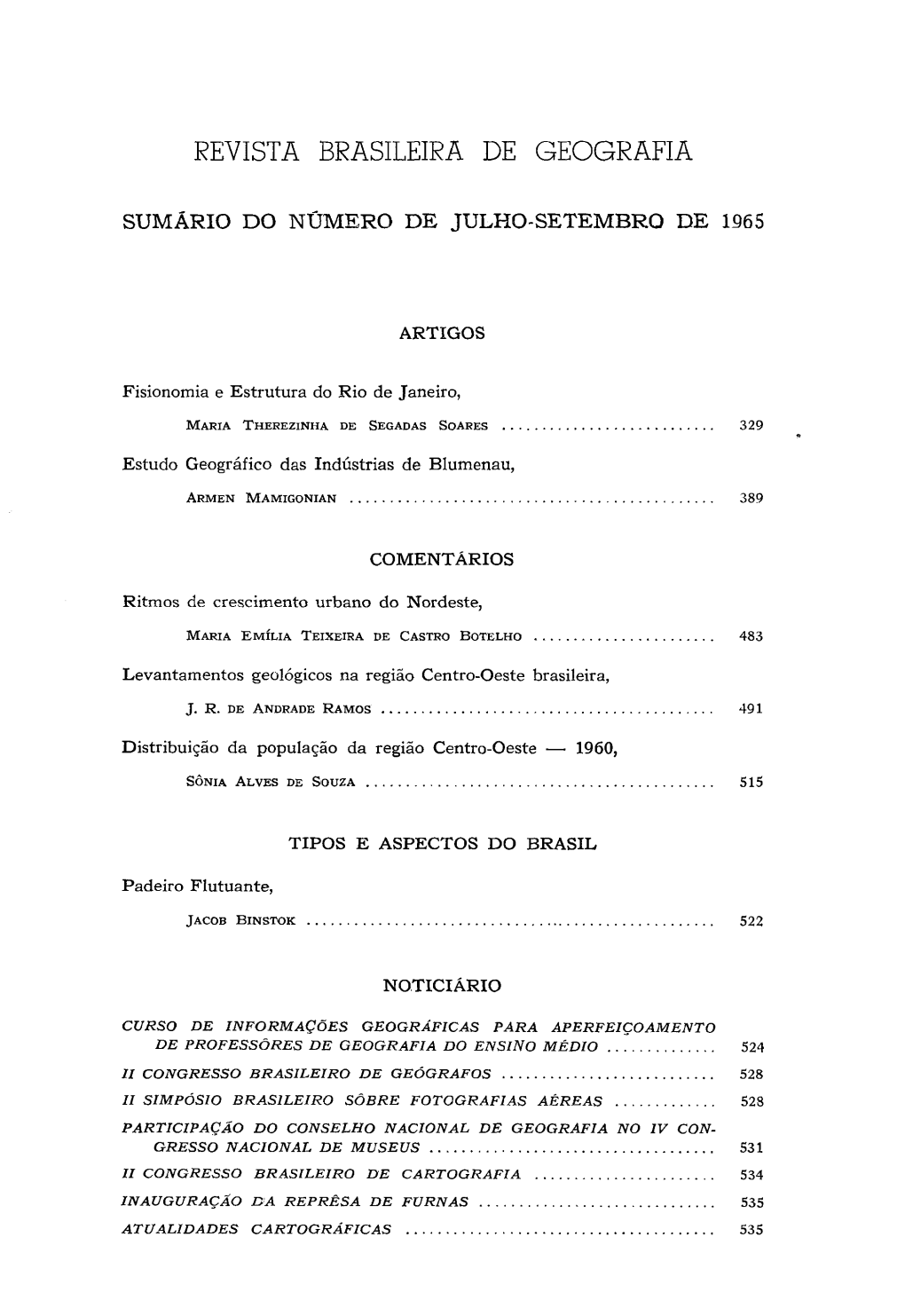
Load more
Recommended publications
-

Comissão Do Plano Da Cidade, Um Modelo De Gestão E Um Plano De Obras Para a Cidade Do Rio De Janeiro
A Comissão do Plano da Cidade, um modelo de gestão e um plano de obras para a cidade do Rio de Janeiro Vera F. Rezende1 A Comissão do Plano da Cidade do Rio de Janeiro é estabelecida no ano de 1937 pelo Prefeito Henrique Dodsworth como um órgão colegiado para a orientação urbanística da Prefeitura do Distrito Federal. A falta de um instrumento ordenador da cidade, objeto de críticas por parte de vários profissionais, é respondida pela Comissão com a definição de um Plano baseado na reunião de diversos projetos, viários e de urbanização, resultantes do desmonte de morros e do aterro de áreas, principalmente na Área Central da cidade. Este artigo resultado da pesquisa, que tem por objeto a produção urbanística da época, busca aprofundar a compreensão sobre o modelo de gestão adotado na administração do Prefeito Henrique Dodsworth, seus vínculos com modelos do exterior e as razões que deságuam na solução de planejamento adotada sob a forma de um plano de obras. Discute-se, também, na atuação da Comissão ao longo do tempo, seu apoio aos princípios do urbanismo de melhoramentos e ao urbanismo modernista. Finalmente, são apresentadas e analisadas as intervenções propostas pela Comissão do Plano da Cidade. 1 Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – ARQ URB/ UFF. E-mail: [email protected] ANTECEDENTES E RAZÕES PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DO PLANO DA CIDADE No início do século XX, o urbanismo fortalece-se como prática, expressando-se principalmente pela vertente melhoramentos. Uma série de obras são promovidas pelas administrações do prefeito Pereira Passos e do presidente Rodrigues Alves , numa forma de gestão coordenada, que se caracteriza pela centralização de poder de decisão sobre as intervenções e dos recursos para realizá-las. -

Carta Circular Nº 003/2011/SETUR-RIOTUR
LISTAGEM DOS BLOCOS AP 1 – CENTRO E CENTRO HISTÓRICO Nome do Bloco Bairro A Febre do Samba Saúde A Nega Endoidou Centro A Pedra é do Sal e o Pão é de Açucar Saúde Aconteceu Santa Teresa Afoxé Filhos de Gandhi Saúde AfroReggae Centro Alegria da Mangueira Mangueira Associação Carnavalesca Infiéis Centro Badalo de Santa Teresa Santa Teresa Balança Teresa Santa Teresa Bambas do Curuzu São Cristóvão Banda da Amizade Lapa Banda da Inválidos Lapa Banda da Rua do Mercado Centro Banda das Quengas Lapa Banda do Bairro de Fátima Bairro de Fátima Banda do Jorge Centro Batuke Nuclear Centro Berço do Samba Lapa Bloco Cru Centro Bloco da Preta Centro Bloco da Rádio Beat 98 Glória Bloco das Carmelitas Santa Teresa Bloco das Piranhas do São Roque São Cristóvão Bloco do Bairro de Fátima Bairro de Fátima Bloco dos Aposentados Centro Bloco dos Impussivi Centro Bloco Show do Antonio Carlos Glória Bloco Teatral Filhos da Martins Lapa Boca que Fala Centro Boêmios da Lapa Lapa Boi sem Chifre Estácio Bonde da Folia Santa Teresa Carioca da Gema Lapa Céu na Terra Santa Teresa Cheiro na Testa Santa Teresa Cinebloco Glória Coração das Meninas Saúde Cordão da Bola Preta Centro Cordão do Boitatá Centro Cordão do Prata Preta Saúde Dá Cá Tia Lapa Dinossauros Nacionais Centro Dragões da Riachuelo Lapa É Pequeno mas vai Crescer Santo Cristo Eles que Digam Santo Cristo Embaixadores da Folia Centro Enxota que eu vou Centro Escorrega mas não cai Saúde Escorrega na Baba do Quiabo Centro Escravos da Mauá Saúde Estratégia Centro Eu Amo a Lapa Lapa Eu Choro Curto, Mas Rio Comprido -

Guia Das Apacs Lido 04 Bairro Peixoto 01 02 03
INSTITUIÇÕES ÚTEIS PARA CONSULTA: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - para informações relativas à legislação de preservação e procedimentos Guia das APACs R. Gago Coutinho, 52, 3° andar. Laranjeiras. Tel.: 2976-6626 Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização Urbanística - AP 1 e 2 da Secretaria Municipal de Urbanismo Bairro Peixoto 3ª Gerência de Licenciamento e Fiscalização - Centro - Rua República do Líbano, 54, 2º andar - Lido para informações relativas à legislação edilícia e urbana vigentes Coordenação de licenciamento e fi scalização da Secretaria Municipal da Fazenda 01 1ª IRLF (S. Cristóvão) - Rua Fonseca Teles, 121 Térreo 02 INSTITUIÇÕES ÚTEIS PARA PESQUISA: Arquivo Geral da Cidade (construções até a década de 1920) - Rua Amoroso Lima, 15. Cidade Nova. 2273-3141 03 Arquivo Geral da Secretaria Municipal de Urbanismo (construções a partir da década de 1930) - Av. Monsenhor Félix, 512 – Irajá 04 Arquivo Nacional - Praça da República, 173. Tel.:2179-1228 Fundação Casa de Rui Barbosa - Rua São Clemente, 134 - Botafogo. Tel.:3289-4600 05 Biblioteca Nacional - Av. Rio Branco, 219 - Centro. Tel.: 2220-9484 e 3095-3879 Instituto Histórico e Geográfi co Brasileiro - Av. Augusto Severo, 8/10° andar 06 07 08 09 10 11 12 n. 12 13 14 15 16 IRPH – Instituto Rio Patrimônio da Humanidade Guia das APACs Rua Gago Coutinho, 52, 3º andar Bairro Peixoto CEP: 22.221-070 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ Lido 01 Tel: (21) 2976-6626 Fax: (21) 2976-6615 02 03 www.rio.rj.gov.br/patrimonio 04 05 06 07 Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 08 09 Eduardo Paes 10 11 12 n. -

Relatório Funcional Das Linhas De Ônibus Do Município Do Rio De Janeiro-RJ
Relatório funcional das linhas de ônibus do município do Rio de Janeiro-RJ Este relatório trata de um assunto pertinente ao transporte na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e como é de sapiência de todos, a retirada de linhas de ônibus que circulavam no município causou muita confusão entre a população carioca. O transporte rápido e seguro é um dever do estado e um direito do cidadão, e sendo assim nós do movimento transporte consciente, encaminhamos este relatório a prefeitura do rio de janeiro e a rio ônibus, para que as partes venham chegar num acordo, afim de solucionar de uma vez por todas esse problema que vem atrapalhando a vida do cidadão carioca. Neste relatório encontram-se as linhas de ônibus da cidade que foram extintas, encurtadas, e/ou tiveram seu número mudado e também tem aquelas que sem motivo aparente simplesmente sumiram, e aquela que ainda encontram-se funcionando, mas de forma precária, pois, as mesmas, estão fazendo muita falta para os municípios cariocas. Pedimos desculpas por quaisquer equivoco desse dossiê e agradecemos a atenção dos (as) senhores (as). 0 LINHAS QUE FORAM EXTINTAS, ENCURTADAS OU QUE SIMPLESMENTE SUMIRAM 1- 358 – COSMOS – PRAÇA XV 2- 881 – CAMPO GRANDE – VILAR CARIOCA 3- 684 – MEIER – CATIRI 4- 907 – BONSUCESSO – PAVUNA 5- 376 – PAVUNA – PRAÇA XV (VIA PARQUE COLUMBIA) 6- 870 – BANGU – SEPETIBA (VIA EST. DE SEPETIBA) 7- 875 – CAMPO GRANDE – CASCADURA 8- 750 – SEPETIBA – COELHO NETO 9- 391 – TIRADENTES – PADRE MIGUEL 10- 755 – REALENGO – COELHO NETO 11- 367 – REALENGO – PRAÇA XV (VIA PRAÇA MAUÁ) 12- 349 ROCHA MIRANDA – PRAÇA XV 13- 725 – CASCADURA – RICARDO DE ALBUQUERQUE 14- 742 – CASCADURA – PADRE MIGUEL 15- 952 – PENHA – PRAÇA SECA 16- 780 – BENFICA – MADUREIRA 17- 856 – MARECHAL HERMES – BASE AÉREA DE SANTA CRUZ 18- 738 – MARECHAL HERMES – URUCÂNIA 19- 676 – MEIER – PENHA (VIA CASCADURA) 20- 351 – PASSEIO – VAZ LOBO (RÁPIDO) 21- 824 – CAMPO GRANDE – VILA NOVA (CIRCULAR) 22- 872 CAMPO GRANDE – NOVA SEPETIBA (VIA AREIA BRANCA) 23- 873 – CAMPO GRANDE – SANTA CRUZ (VIA GOUVEIAS – JD. -

Lista Das Agências Dos Correios RIO DE JANEIRO AC AVENIDA DAS AMÉRICAS – Av. Das Américas, 15.531, Ljs A/B/C – Recreio Do
Lista das agências dos Correios RIO DE JANEIRO AC AVENIDA DAS AMÉRICAS – Av. das Américas, 15.531, ljs A/B/C – Recreio dos Bandeirantes AC AVENIDA NAÇÕES UNIDAS – Praia de Botafogo, 324, ljs C/D – Botafogo AC AEROPORTO SANTOS DUMONT – Praça Senador Salgado Filho, SN, 2º piso – Centro AC AFONSO CAVALCANTI – Rua Afonso Cavalcanti, 2º andar, 58 – Cidade Nova AC BANGU – Rua Fonseca, 240 – 2º Piso do Shopping Bangu – Bangu AC BARRA DA TIJUCA – Av. Armando Lombardi, 597, ljs A/B – Barra da Tijuca AC BARRA SHOPPING – Av. das Américas, 4666, lj 106, P 39 – Barra da Tijuca AC BONSUCESSO – Rua Dona Isabel, 158 – Bonsucesso AC BOTAFOGO – Rua Voluntários da Pátria, 254, lj A/B – Botafogo AC CAMPO DOS AFONSOS – Av. Marechal Fontenele, 805 – Campo dos Afonsos AC CAMPO GRANDE – Praça Dr. Raul Boaventura, 61 – Campo Grande AC CARIOCA – Rua da Carioca, 52 – Centro AC CASCADURA – Rua Sidonio Pais, 41, lj A – Cascadura AC CASTELO – Av.Almirante Barroso, 63 – ljs B/C – Centro AC CENTRAL DO BRASIL – Praça Cristiano Ottoni, SN – Estação Ferroviária Dom Pedro II, Subsolo do Poupatempo (Central do Brasil) – Centro AC CENTRAL DO RIO DE JANEIRO – Rua Primeiro de Marco, 64 – Centro AC CIDADE UNIVERSITÁRIA – Av Carlos Chagas Filho, 373, bloco K, sala 1 – Cidade Universitária AC COPACABANA – Av. de Nossa Sra. Copacabana, 540, lj A – Copacabana AC COSTA VERDE – Av.Padre do Guilherme Decaminada, 2385, lj 2 – Santa Cruz AC DIAS DA ROCHA – Rua Dias da Rocha, 55 – Copacabana AC ENGENHO DE DENTRO – Rua Adolfo Bergamini, 50 – Engenho de Dentro AC ESTACIO DE SÁ – Rua Haddock Lobo, 9 – Estácio AC FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – Av. -

Consumindo Moda Praia No Bairro De Copacabana
Alessandra de Figueredo Porto1 “Santa Clara 33”: consumindo moda praia no bairro de Copacabana “Santa Clara 33”: consuming beachwear in Copacabana neighborhood RESUMO Inaugurado em maio de 1958, o prédio situado no número 33 da Rua Santa Clara tornou-se, so- mente na década de 70, um importante centro comercial do bairro de Copacabana. A moda praia passou a ser o principal segmento a ser comercializado no endereço. A construção abriga doze andares de lojas. O prédio expandiu a oferta de produtos e serviços para outros segmentos, como calçados, acessórios e bijuterias, mas prossegue como um importante ponto de comércio varejis- ta de moda praia na cidade do Rio de Janeiro. O presente artigo busca descrever a dinâmica de consumo sob a ótica do varejo no “Santa Clara 33” ao completar 61 anos de existência, bem como compreender as imbricações que emergem dos estilos de vida do carioca - e a sua ligação com a praia e a vida à beira mar. Palavras chave: Rio de Janeiro; Copacabana; Rua Santa Clara; consumo; moda praia. ABSTRACT Established in 1958, the building located at 33 Santa Clara Street, in Copacabana, turned into an important commercial center in the 70s. Swimwear became the main segment sold at the place. The building has twelve floors of stores and has expanded its products and services to other segments (such as footwear, accessories and jewelry), but continues to be an important retailer of swimwear in the city of Rio de Janeiro. This article aims to describe consumption dynamics from the retail perspective in “Santa Clara 33” upon its 61st birthday, as well as to understand the implications that emerge from carioca’s lifestyles - and their connection with the beach and life by the sea. -

CIRCUITO CARIOCA DE FEIRAS ORGÂNICAS Renata Souto Outubro De 2020 Rio De Janeiro / RJ
CIRCUITO CARIOCA DE FEIRAS ORGÂNICAS Renata Souto Outubro de 2020 Rio de Janeiro / RJ O município do Rio de Janeiro possui 6.320.446 habitantes e ocupa uma extensão de 1.255 km2, sendo considerada área totalmente urbana. Na cidade, em especial na zona oeste, estão presentes diversas áreas de agricultura de base familiar e camponesa, e, por serem consideradas fora do eixo rural, não estão contempladas nas políticas federais e estaduais de segurança alimentar e produção agrícola. Na década de 1990, a cidade e o estado do Rio de Janeiro assumem importância estratégica no estudo e avanço da, então, agricultura alternativa no país, com grande estimulo à produção e consumo de alimentos sem agrotóxicos produzidos pela agricultura urbana e familiar. Isso se deveu, especialmente, à presença de grupos da sociedade civil envolvidos com o tema na região Serrana, assim como pela unidade Embrapa Agrobiologia e a Fazendinha Agroecológica estarem situadas no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além do importante papel do Grupo de Agricultura Ecológica (GAE), formado por estudantes nesta universidade, e ONG’s do campo da agroecologia terem sede na cidade do Rio de Janeiro. Neste contexto, e para instituir formalmente um canal de comercialização para agricultores da cidade do Rio de Janeiro e regiões metropolitana e serrana, nos anos 2000, a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (ABIO), responsável pela conformidade orgânica de unidades de produção familiar, inaugura a primeira feira orgânica da cidade, no bairro da Glória. A ABIO, na ocasião, também comercializava em balcão próprio, na Companhia Brasileira de Alimentação (COBAL), bairro de Botafogo. -

Diário Oficial Do Estado Do RJ
SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2012 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ATOS DO PROCURADOR-GERAL E DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO DE 03.02.2012 Designam a Promotora de Justiça DENISE BECKER ATHERINO para atuar na 208ª Promotoria Eleitoral – Pilares, Comarca da Capital, no período de 03 a 10 de fevereiro de 2012, em razão da licença por luto da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. Designam a Promotora de Justiça DEISE BARBOZA PASSOS RIBEIRO para atuar na 84ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Nova Iguaçu, no período de 04 a 11 de fevereiro de 2012, em razão da licença por luto do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. DE 06.02.2012 Designam o Promotor de Justiça BRUNO CORREA GANGONI para atuar na 139ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Japeri, no período de 06 a 13 de fevereiro de 2012, em razão da licença paternidade do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. DE 07.02.2012 Designam o Promotor de Justiça FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS para prestar auxílio à 31ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Resende, no dia 07 de fevereiro de 2012, com a concordância da Promotora de Justiça titular. ATOS DO PROCURADOR-GERAL DE 30.12.2011 Designa a Promotora de Justiça Substituta DANIELA PESSOA SANTOS para prestar auxílio à 12ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), no mês de janeiro de 2012, com a concordância da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. DE 17.02.2012 Designa a Promotora de Justiça Substituta RAQUEL ROSMANINHO BASTOS para cumprir o plantão do dia 18 de fevereiro de 2012, em substituição ao Promotor de Justiça Substituto RENATO LUIZ DA SILVA MOREIRA, na Comarca de Santo Antônio de Pádua. -
Bete Mendes 1
Bete Mendes 1 O Cão e a Rosa 12083018 BETE miolo.pmd 1 11/9/2008, 16:58 Governador Geraldo Alckmin Secretário Chefe da Casa Civil Arnaldo Madeira Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Diretor Vice-presidente Luiz Carlos Frigerio Diretor Industrial Teiji Tomioka Diretor Financeiro e Administrativo Alexandre Alves Schneider Núcleo de Projetos Institucionais Vera Lucia Wey 2 Fundação Padre Anchieta Presidente Marcos Mendonça Projetos Especiais Adélia Lombardi Diretor de Programação Rita Okamura Coleção Aplauso Perfil Coordenador Geral Rubens Ewald Filho Coordenador Operacional e Pesquisa Iconográfica Marcelo Pestana Revisão Andressa Veronesi Projeto Gráfico Revisão e Editoração Carlos Cirne 12083018 BETE miolo.pmd 2 11/9/2008, 16:58 Bete Mendes O Cão e a Rosa 3 por Rogério Menezes São Paulo, 2004 12083018 BETE miolo.pmd 3 11/9/2008, 16:58 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Menezes, Rogério Bete Mendes : o cão e a rosa / por Rogério Menezes. – São Paulo : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo : Cultura - Fundação Padre Anchieta, 2004. – – 272p.: il. - (Coleção aplauso. Série Perfil / coordenador geral Rubens Ewald Filho) ISBN 85-7060-233-2 (obra completa) (Imprensa Oficial) ISBN 85-7060-287-1 (Imprensa Oficial) 1. Atores e atrizes de teatro - Biografia 2. Atores e atrizes de televisão - Biografia 3. Mendes, Bete I. Ewald Filho, Rubens. II. Título. III. Série. 04-5572 CDD-791.092 4 Índices para catálogo sistemático: 1. Atores brasileiros : Biografia : Representações públicas : Artes 91.092 Foi feito o depósito legal na Biblioteca Nacional (Lei nº 1.825, de 20/12/1907). -
000037727 Td9.Pdf (5.624Mb)
00l-800-026~6 SÉRIE TESES D. o 9 /~ - [:/-<:.-- " "l ! I(IA (J) : 1/. C~ (j (:: 1 L_ C; j::.., ey-y"d JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE LUCENA."~ ,~~ . ~l5, (Jl)(/ I V 1,.1 Doutor em Economlll pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas O MERCADO HABIT ACIONAL NO BRASIL FGV - Instituto de Documentação Editora da Fundação Getulio Vargas Rio de Janeiro, RJ - 1985 Direitos reservados desta edição à Fundação Getulio Vargas Praia de Botafogo, 190 - 22253 CP 9.052 - 20.000 Rio de Janeiro - Brasil e vedada a reprodução total ou parcial desta obra Copyright © da Fundação Getulio Vargas 1~ edição - 1985 FGV - Instituto de Documentação Diretor: Benedicto Silva Editora da Fundação Getulio Vargas Chefia: Mauro Gama Coordenação geral da edição: Regina Mello Brandão Capa: Leon Algamis Composição: Paulo Alves Impressão: Soe. Grá!. Vida Doméstica anJ)2C Obra publicada com a asso'i~~·~e~:~~~~'~ colaboração da ANPEC e o p~~g::~~~~i~ apoio financeiro do PNPE. LUCENA, José Mário Pereira de O mercado habitacional no Brasil / José Mário Pereira de Lucena. - Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getulio Vargas, 1985. 185p. : il. (Teses / Instituto Brasileiro de Economia, Escola de Pós-Gra• duação em Economia; 9) Originalmente apresentado como tese à Escola de Pós-Graduação em Economia. Bibliografia: p. 177-179. _ 1. Mercado habitacional - Brasil. 2 - Política habitacional - Brasil. 3. Habitações - Aspectos econômicos - Brasil. I. Instituto Brasileiro de Economia. Escola de Pós-Graduação em Econo mia. Escola de Pós-Graduação em Economia. 11. Fundação Getulio Vargas. Ins tituto Brasileiro de Economia. Escola de Pós-Graduação em Economia. -

Academias Da Terceira Idade
Academias da Terceira Idade CENTRO Bairro de Fátima: Praça Presidente Aguirre Cerda - Avenida Nossa Senhora de Fátima Catumbi: Conjunto Ferro de Engomar - Rua Dr. Agra c/ Rua Gilda Centro: Praça Cruz Vermelha - Avenida Mem de Sá c/ Avenida Henrique Valadares Estácio: Praça Dr. Roberto Campos - Rua João Paulo I Gamboa: Praça da Harmonia - Rua Pedro Ernesto c/ Rua do Propósito Paquetá: Praia da Moreninha - Calçadão da Praia Moreninha Santa Teresa: Praça Odilo Costa - Rua Áurea ZONA SUL E TIJUCA Alto da Boa Vista: Matta Machado - Estrada de Furnas, 1467 Andaraí: Conjunto Tijolinho - Rua Barão de Mesquita, 850 Arpoador: Garota de Ipanema - Rua Francisco Otaviano s/n Botafogo: Praça Corumbá - Rua São Clemente, em frente à Casa Padre Veloso (Santa Marta) Botafogo: Praça Engenheiro Bernardo Saião - Alameda Embaixador Sanchez Gavito Botafogo: Praça Mauro Duarte - Rua General Polidoro c/ Rua São Manuel Botafogo: Praça Nelson Mandela - Rua Nelson Mandela (atrás da estação do metrô Botafogo) Copacabana: Praça do Lido - Av. Atlântica, Rua Ronald de Carvalho, Rua Belfort Roxo Copacabana: Praça Edmundo Bitencourt (Bairro Peixoto) - Rua Décio Vilares, Rua Mto. Francisco Braga Copacabana: Praça Serzedelo Correia - Rua Siqueira Campos, Av. Nossa Senhora de Copacabana, Rua Hilário Gouvêa Copacabana: Princesa Isabel - Avenida Princesa Isabel, 263 Flamengo: Praça Cuauhtémoque - Praia do Flamengo, Av. Rui Barbosa Glória: Parque do Flamengo - Avenida Infante Dom Henrique (Aterro) Glória: Praça Luis Camões - Rua do Russel Grajaú: Praça Edmundo Rego - Av. Júlio -

Download Da Edição
PERSPECTIVAS DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM BIOLOGIA, CONSIDERANDO O ENFOQUE CTS Prospects of experimental activities in biology, considering the STS focus Mônica de Castro Britto Vilardo1 Guilherme Inocêncio Matos2 Maicon Azevedo3 RESUMO: Nos últimos anos o ensino de Biologia vem sendo discutido e repensado, tanto pela comunidade acadêmica quanto pelos professores da educação básica. Neste sentido, aspectos que tomam como referência a disciplina escolar1 Biologia e a relacionam com a ciência de referência e com aspectos sócio-históricos que a estruturam, precisam ser considerados. No atual cenário de mudanças, em que o Ensino Médio está inserido, propostas de um ensino com eixos no trabalho, na ciência, na tecnologia e na cultura, representam aspectos que também se tornam relevantes. Desta forma, buscamos voltar nossa atenção para as atividades experimentais na disciplina Biologia, considerando algumas concepções do enfoque CTS, dado o crescente interesse por parte dos docentes em estudos que consideram esta abordagem. E, neste sentido, nos propomos a analisar um módulo de aulas experimentais abordando a microscopia ótica, elaborado na Coordenadoria de Biologia do CEFET/RJ, a partir de um projeto de iniciação tecnológica (PIBIT/CEFET/RJ). Palavras chaves: ensino de Biologia, Enfoque CTS, experimentação. ABSTRACT: In recent years the teaching of Biology are being discussed and rethought, both by the academic community and by the teachers of basic education. In this sense, aspects that take as reference the school disciplinary and related reference science and its socio-historical aspects, need to be considered. In the current scenario of change, in which the High School is inserted, proposals for a teaching with axes at work, science, technology and culture, represent aspects that also become relevant.