Cabo Verde, Da Árvore Da Vida À Árvore Das Palavras
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
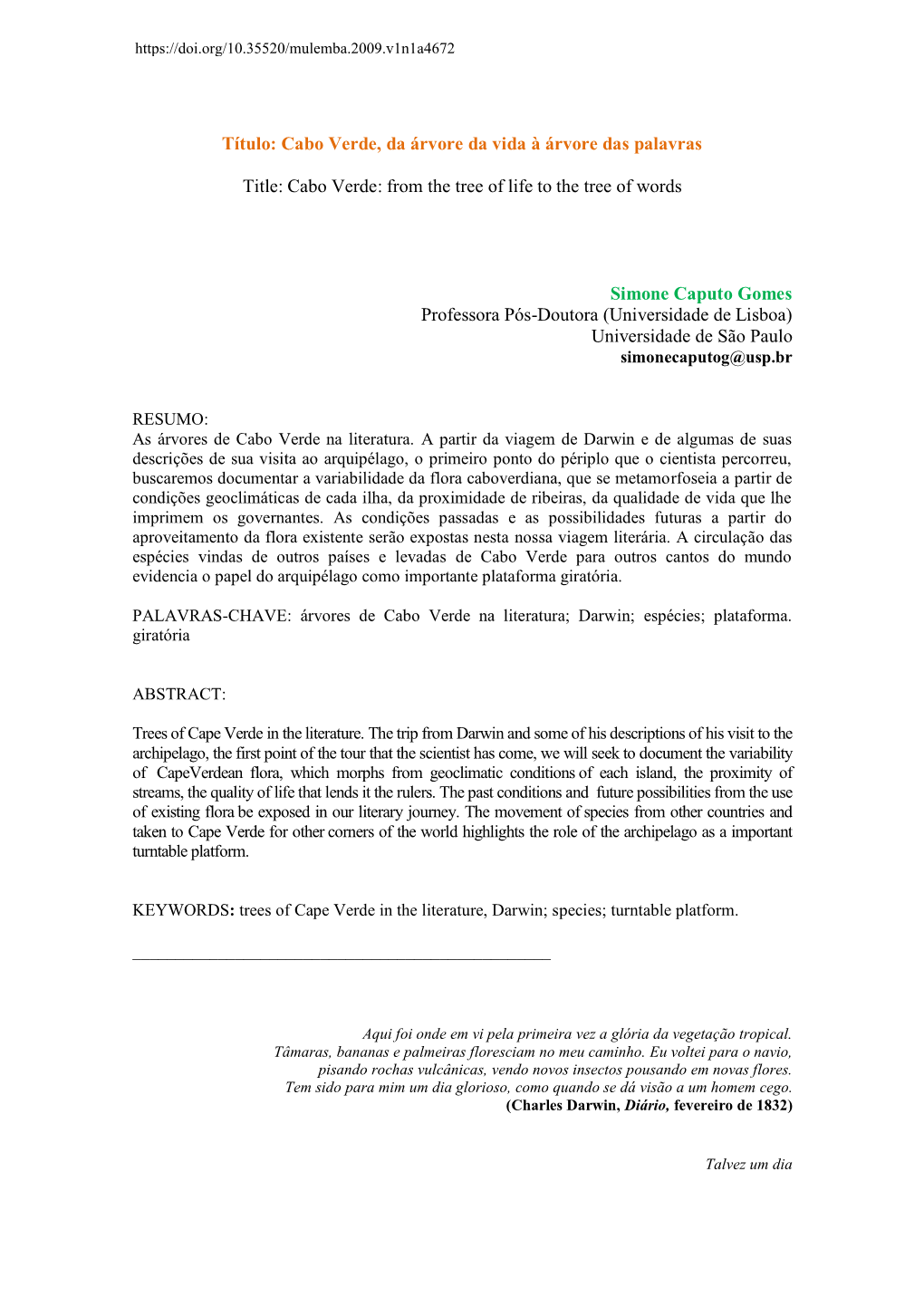
Load more
Recommended publications
-

O Planeamento Na Assomada: Proposta De Parâmetros
Sandra Maria Moniz Tavares O Planeamento na Assomada: Proposta de Parâmetros Urbanísticos Para a Construção da Qualidade no Ambiente do Território Urbano em Cabo Verde, Assomada – Santa Catarina como Caso de Estudo. Orientador: Professor Doutor José Diogo Da Silva Mateus Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Departamento de Urbanismo. Lisboa, Junho de 2012 Sandra Maria Moniz Tavares O Planeamento na Assomada: Proposta de Parâmetros Urbanísticos Para a Construção da Qualidade no Ambiente do Território Urbano em Cabo Verde, Assomada – Santa Catarina como Caso de Estudo. Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre, no curso de Mestrado em Urbanismo, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Orientador: Professor Doutor José Diogo Da Silva Mateus Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Lisboa, Junho de 2012 Dedicatória Dedico este trabalho aos meus familiares, em especial aos meus pais, avó, esposo, filhos e irmãos pela estima, pelo carinho e pelo amor souberam acolher e acompanhar a minha decisão em enfrentar aos novos desafios pela busca de conhecimentos e novas oportunidades que a vida me exigiu. Por isso não posso deixar de, com muito apreço manifestar a profunda gratidão. 3 AGRADECIMENTOS O Planeamento na Assomada: Propostas de Parâmetros Urbanísticos para a Construção da Qualidade no Ambiente do Território, é o resultado de uma investigação intensa, baseada: nos trabalhos de terreno, inquéritos, recolha bibliográfica, análises dos ortofotomapas existentes e de outros documentos em Assomada - Santa Catarina, ilha de Santiago Cabo Verde. A proposta de um quadro paramétrico e do esboço de cartogramas que protege, valorize e recupere o ambiente no território, não teria sido possível, sem a colaboração de um conjunto de entidades e pessoas que doutamente contribuíram para a sua concretização. -

Instituto Superior De Educação Departamento De Geociências Licenciatura Em Biologia
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS LICENCIATURA EM BIOLOGIA Aspectos da Biodiversidade no Parque Natural da Serra de Malagueta Linda Lopes Fevereiro de 2007 LINDA MARIA FERNANDES BARRETO LOPES ASPECTOS DA BIODIVERSIDADE NO PARQUE NATURAL DE SERRA DE MALAGUETA Projecto de pesquisa apresentado ao I.S.E – como requisito parcial para obtenção do título de licenciatura em Biologia Orientadora: Dra. Vera Gominho Praia 2007 DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS Trabalho científico apresentado ao I.S.E. para obtenção do grau de licenciatura em ensino de biologia. Elaborado por, Linda Fernandes Barreto Lopes, aprovado pelos membros do júri, foi homologado pelo concelho científico -pedagógico, como requisito parcial à obtenção do grau de licenciatura em ensino de biologia. O JURI ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ PRAIA ____/____/____ DEDICATÓRIA Dedico este trabalho aos meus queridos pais, que com toda a dedicação e carinho, sempre me incentivaram a prosseguir os estudos. Aos meus irmãos, em especial a Nilde, aos meus sobrinhos, enfim a todos os meus familiares, com os quais sempre eu pude contar. De uma forma muito especial ao meu esposo Aristides e minha filha Denise, pelo apoio em todos os sentidos, mas também pelo tempo subtraído ao convívio familiar. 3 AGRADECIMENTOS A realização deste dependeu muito do apoio e colaboração dada por diversas individualidades e instituições, que de uma forma calorosa, responderam as nossas solicitações, ao longo desse tempo. Assim sendo não poderíamos deixar de manifestar a nossa gratidão aos funcionários da Direcção geral do Ambiente (D.G.A), aos do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (I.N.I.D.A.), e do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (I.N.M.G.), pela tolerância e informações prestadas. -

REFLEXO DA CIDADE VELHA Arquitectura, Património E Turismo: O Caso Cidade Velha Em Cabo Verde
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Engenharia REFLEXO DA CIDADE VELHA Arquitectura, Património e Turismo: O caso Cidade Velha em Cabo Verde Tatiana Pavliuc Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura (ciclo de estudos integrado) Orientador: Prof. Doutor Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato Co-orientador: Prof. Susana Martins Covilhã, Outubro de 2013 ii Agradecimentos A minha mãe e irmã. A todos que de forma directa ou indirecta me auxiliaram ao longo deste percurso académico. iii iv Resumo A partir das últimas décadas do séc. XX, o turismo em Cabo Verde tem sido um dos sectores que mais cresceu, atraindo maior investimento directo estrangeiro. Contudo, este crescimento pode criar maior pressão sobre os recursos existentes, com impactos negativos a vários níveis. Há uma clara reflexão sobre a valorização, preservação e conservação do património nacional, em que se apostou no centro histórico de Ribeira Grande, Cidade Velha, portadora de uma história única no mundo inteiro, sendo o berço da nação crioula e o lugar onde nasceu o comércio dos escravos. Teve uma existência de tempos dourados quase efémera, mas soube tirar partido disso e ser eficiente na altura. O tema desta dissertação constitui um estudo que relaciona a história com o desenho urbano, a imagem da cidade a partir de vários pontos da mesma, a economia, a sociologia, e a arquitectura com o património e o turismo. Uma forma de demostração em como revitalizar o lugar histórico, quase rural da Cidade Velha de Ribeira Grande, é valorizando o meio ambiente, conservando o património cultural, natural, construído e subaquático. Alia-se dessa maneira um estudo de pesquisa sobre história, paisagem, dotações urbanas e equipamentos, para assim dar lugar a uma “reciclagem” ao espaço e ao Património Mundial, sem perturbar o meio ambiente, tornando-o atractivo, e desenvolvendo a sua economia no sector de Turismo Sustentável. -
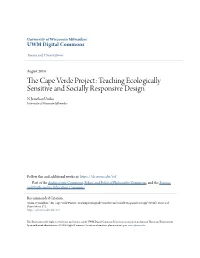
The Cape Verde Project: Teaching Ecologically Sensitive and Socially
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations August 2014 The aC pe Verde Project: Teaching Ecologically Sensitive and Socially Responsive Design N Jonathan Unaka University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Architecture Commons, Ethics and Political Philosophy Commons, and the Science and Mathematics Education Commons Recommended Citation Unaka, N Jonathan, "The aC pe Verde Project: Teaching Ecologically Sensitive and Socially Responsive Design" (2014). Theses and Dissertations. 572. https://dc.uwm.edu/etd/572 This Dissertation is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. TEACHING ECOLOGICALLY SENSITIVE AND SOCIALLY RESPONSIVE DESIGN THE CAPE VERDE PROJECT by N Jonathan Unaka A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Architecture at The University of Wisconsin-Milwaukee August, 2014 Abstract TEACHING ECOLOGICALLY SENSITIVE AND SOCIALLY RESPONSIVE DESIGN THE CAPE VERDE PROJECT by N Jonathan Unaka The University of Wisconsin-Milwaukee, August, 2014 Under the Supervision of Professor D Michael Utzinger This dissertation chronicles an evolving teaching philosophy. It was an attempt to develop a way to teach ecological design in architecture informed by ethical responses to ecological devastation and social injustice. The world faces numerous social and ecological challenges at global scales. Recent Industrialization has brought about improved life expectancies and human comforts, coinciding with expanded civic rights and personal freedom, and increased wealth and opportunities. -

In the Cape Verde Islands
ZOOLOGIA CABOVERDIANA REVISTA DA SOCIEDADE CABOVERDIANA DE ZOOLOGIA VOLUME 5 | NÚMERO 1 Abril de 2014 ZOOLOGIA CABOVERDIANA REVISTA DA SOCIEDADE CABOVERDIANA DE ZOOLOGIA Zoologia Caboverdiana is a peer-reviewed open-access journal that publishes original research articles as well as review articles and short notes in all areas of zoology and paleontology of the Cape Verde Islands. Articles may be written in English (with Portuguese summary) or Portuguese (with English summary). Zoologia Caboverdiana is published biannually, with issues in spring and autumn. For further information, contact the Editor. Instructions for authors can be downloaded at www.scvz.org Zoologia Caboverdiana é uma revista científica com arbitragem científica (peer-review) e de acesso livre. Nela são publicados artigos de investigação original, artigos de síntese e notas breves sobre zoologia e paleontologia das Ilhas de Cabo Verde. Os artigos podem ser submetidos em inglês (com um resumo em português) ou em português (com um resumo em inglês). Zoologia Caboverdiana tem periodicidade bianual, com edições na primavera e no outono. Para mais informações, deve contactar o Editor. Normas para os autores podem ser obtidas em www.scvz.org Chief Editor | Editor principal Dr Cornelis J. Hazevoet (Instituto de Investigação Científica Tropical, Portugal); [email protected] Editorial Board | Conselho editorial Dr Joana Alves (Instituto Nacional de Saúde Pública, Praia, Cape Verde) Prof. Dr G.J. Boekschoten (Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands) Dr Eduardo Ferreira (Universidade de Aveiro, Portugal) Rui M. Freitas (Universidade de Cabo Verde, Mindelo, Cape Verde) Dr Javier Juste (Estación Biológica de Doñana, Spain) Evandro Lopes (Universidade de Cabo Verde, Mindelo, Cape Verde) Dr Adolfo Marco (Estación Biológica de Doñana, Spain) Prof. -

9789025763756.Pdf
Inhoud 7 Kaarten & plattegronden 5 65 Sal 9 Woord vooraf 66 Geschiedenis 68 Oriëntatie 1 11 Een handvol grillige rotsen in de oceaan 6 79 Boa Vista en Maio 12 Geografie 80 Boa Vista 12 Landschap 86 De noord- en oostkust 13 Infrastructuur 88 Het binnenland en de zuidkust 14 Klimaat 91 Maio 15 Flora en fauna 17 Demografie, etniciteit en sociale 7 101 São Vicente, Santa Luzia en São structuur Nicolau 20 Taal en religie 102 São Vicente 21 Economie, bestuur en politiek 103 Oriëntatie 104 Mindelo en het westen 2 27 Van Atlantische handelspost tot 113 Santa Luzia vergeten archipel 113 Branco en Raso 28 Hesperias 114 São Nicolau 28 Portugezen 29 Nieuwe zeemachten 8 125 Santo Antão 30 Speelbal van Europa 126 Geschiedenis 30 Napoleon 127 Oriëntatie 31 Emigratie en honger 128 Het zuiden en het westen 31 Groeiend zelfbewustzijn 130 Het noorden en noordoosten 33 Fragiel middeninkomensland 9 141 Fogo en Brava 3 35 Morabeza, morna en cachupa 142 Fogo 36 Cultuur 144 São Felipe 39 De Kaapverdische keuken 146 Chã das Caldeiras en Pico de Fogo 4 45 Santiago 149 Rond het eiland 46 Geschiedenis 150 Brava 46 Oriëntatie 47 Praia i 160 Algemene informatie 53 Cidade Velha en het zuiden 58 Tarrafal en het noorden r 171 Register INHOUD 5 6 8 KAARTEN & PLATTEGRONDEN Woord vooraf Niet zo lang geleden was Kaapverdië nog een van de allerarmste landen van Afrika. Sinds enkele jaren is daar verandering in gekomen. Het land is flink gestegen op de economische ranglijsten en wordt nu als voorbeeld gezien voor andere Afrikaanse landen. -

PLATAFORMA DAS ONG's DE CABO VERDE ONG's E/OU
PLATAFORMA DAS ONG’S DE CABO VERDE ONG’s E/OU ASSOCIAÇÕES CABOVERDIANAS MEMBROS DA PLATAFORMA Praia, Novembro / 2011 ILHA DE SANTIAGO – CONCELHO DA PRAIA ZONA NOME LOCALIZAÇÃO DA SEDE DOMÍNIO DE ACTIVIDADE GEOGRÁFICA 1- PLURAL - Associação para a Promoção da Família, Praia - Tel: 2611506 / Fax: 2614503 Promoção da Família, da Mulher e da Cabo Verde da Mulher e da Criança C.P. 174 – A Criança 2- ADAD - Associação para a Defesa do Ambiente e Praia - Tel: 2612650 / Telm: 9918555 Meio Ambiente Cabo Verde Desenvolvimento Fax: 2622705 3- Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde Praia - Tel: 2622010 / 2647378 Apoio aos Deficientes Visuais Cabo Verde C.P. 6 4- AECV - Associação dos Escuteiros de Cabo Verde Praia - Tel: 2614417 / 9939243 Escutismo Cabo Verde Fax: 615654 - C.P. 817 5- MORABI - Associação de Apoio à Auto-Promoção da Praia - Tel: 2621775 / Fax: 2621722 Promoção da Mulher Cabo Verde Mulher no Desenvolvimento C.P. 568 6- LAB - Liga dos Amigos do Brasil Praia - Brasil - Tel: 2623434 Desenvolvimento Comunitário Brasil - Achada de Stº C.P. 568 António 7- Associação para o Desenvolvimento de S. Francisco S. Francisco - Tel: 2611668 / 2631104 Desenvolvimento Comunitário S. Francisco C.P. 351-C 8- Liga Nazarena de Solidariedade Praia - Tel: 2614556 / 2612587 Formação profissional / criação de centros Cabo Verde Fax: 2611824 – C.P. 5 infantis e juvenis 9- CITI-HABITAT - Centro de Investigação de Praia - Tel: 2644008 / Fax: 2643968 Desenvolvimento sócio-económico de Cabo Verde Tecnologias Intermédias para o Habitat C.P. 132-C grupos desfavorecidos 10- ACD - Associação Cabo-verdiana de Deficientes Praia - Tel: 2628682 / Fax: 2628684 Apoio aos Deficientes Cabo Verde [email protected] 11- Associação para o Desenvolvimento de Achada Praia - Tel: 2631280 Desenvolvimento Comunitário de Achada Achada Eugénio Lima Eugénio Lima C.P. -

An Integrative Taxonomic Revision of the Cape Verdean Skinks (Squamata, Scincidae)
Zoologica Scripta An integrative taxonomic revision of the Cape Verdean skinks (Squamata, Scincidae) AURE´ LIEN MIRALLES*, RAQUEL VASCONCELOS*, ANA PERERA,DAVID J. HARRIS &SALVADOR CARRANZA Submitted: 12 March 2010 Miralles, A., Vasconcelos, R., Perera, A., Harris, D. J. & Carranza, S. (2010). An integra- Accepted: 15 September 2010 tive taxonomic revision of the Cape Verdean skinks (Squamata, Scincidae). — Zoologica doi:10.1111/j.1463-6409.2010.00453.x Scripta, 00, 000–000. A comprehensive taxonomic revision of the Cape Verdean skinks is proposed based on an integrative approach combining (i) a phylogenetic study pooling all the previously pub- lished molecular data, (ii) new population genetic analyses using mitochondrial and nuclear data resulting from additional sampling, together with (iii) a morphological study based on an extensive examination of the scalation and colour patterns of 516 live and museum spec- imens, including most of the types. All Cape Verdean species of skinks presently recogni- sed, formerly regarded as members of the genera Mabuya Fitzinger, 1826 and Macroscincus Bocage, 1873 are considered as members of the Cape Verdean endemic genus Chioninia Gray, 1845. The new phylogeny and networks obtained are congruent with the previously published phylogenetic studies, although suggesting older colonization events (between 11.6 and 0.8 Myr old), and indicate the need for taxonomic changes. Intraspecific diversity has been analysed and points to a very recent expansion of Chioninia delalandii on the southern islands and its introduction on Maio, to a close connection between Chioninia stangeri island populations due to Pleistocene sea-level falls and to a generally low haplo- typic diversity due to the ecological and geological characteristics of the archipelago. -

Universidade De Cabo Verde Université Catholique De Louvain- La-Neuve
Universidade de Cabo Verde Université Catholique de Louvain- la-Neuve Departamento de Ciências Sociais e Faculté des Sciences Économiques, Humanas Sociales et Politiques Département Sciences Politiques et Sociales AS ELITES POLÍTICAS LOCAIS CABO-VERDIANAS: RECRUTAMENTO, REPRODUÇÃO E IDENTIDADE – ESTUDO DE CASO DOS MUNICÍPIOS DA PRAIA, DE SANTA CATARINA E DE SANTO ANTÃO: 1991-2008 José António Vaz Semedo Tese apresentada para obtenção do Título de Doutor em Ciências Políticas e Sociais Orientadores: Prof. Doutor: Cláudio Alves Furtado Prof. Doutor: Olivier Servais ___________________________________________________ SETEMBRO DE 2012 AS ELITES POLÍTICAS LOCAIS CABO-VERDIANAS: RECRUTAMENTO, REPRODUÇÃO E IDENTIDADE – ESTUDO DE CASO DOS MUNICÍPIOS DA PRAIA, DE SANTA CATARINA E DE SANTO ANTÃO: 1991-2008 José António Vaz Semedo Membros do Júri: Profª. Doutora Ana Cristina Pires FERREIRA (Presidente) _____________________________________________ Prof. Doutor Cláudio Alves FURTADO (Co-orientador) _____________________________________________ Prof. Doutor Olivier SERVAIS (Co-orientador) _____________________________________________ Prof. Doutor José Carlos dos ANJOS (Arguente) _____________________________________________ Prof. Doutor Tangui DE WILDE (Arguente) _____________________________________________ Profª. Doutora Nathalie BURNAY (Arguente) _____________________________________________ Praia, 13 de Setembro de 2012 AGRADECIMENTOS A realização desta tese só se tornou possível, devido ao contributo, ao longo destes quatro anos, de inúmeras -

Nº 10 «Bo» Da República De Cabo Verde — 6 De Março De 2006
I SÉRIE — Nº 10 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 6 DE MARÇO DE 2006 291 Decreto-Lei nº 25/2006 conservação de estradas bem como actualizar a classificação das estradas e definir os níveis de serviço das de 6 de Março vias públicas rodoviárias; Não obstante ter sido o Decreto-Lei nº54/2004, de 27 de Após consulta aos Municípios de Cabo Verde através da Dezembro sobre a comercialização, a informação e o controle Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde; da qualidade dos produtos destinados a alimentação de lactentes, objecto de regulamentação através do Decreto No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do Regulamentar nº1/2005, de 17 de Janeiro, em consequência artigo 203 da Constituição, o Governo decreta o seguinte: da não implementação na prática dos preceitos definidos neste último diploma, corre-se o risco de um ruptura de Artigo 1º stocks dos produtos lácteos, destinados a crianças menores Objecto de vinte e quatro meses. O presente diploma tem por objecto, fundamental, a Tornando-se necessário reafirmar, por um lado, a valia classificação administrativa e gestão das vias rodoviárias e o dever da observância rigorosa dos preceituados, de Cabo Verde, bem como a definição dos níveis de serviço naqueles dois mencionados diplomas e, por outro lado, a das mesmas. conveniência em se estar ciente das reais dificuldades sentidas pelos operadores em dar cabal cumprimento ao CAPÍTULO I que neles se preceitua, importa que se encontre uma solução normativa satisfatória para a situação em apreço. Classificação Administrativa das Estradas O que terá que passar, inevitavelmente, pela prorrogação Artigo 2º do prazo para o inicio da vigência do mencionado Decreto- Lei n.º 54/2004. -

Distritos Recenseamento N° De ZONA N° DR
Distritos Recenseamento DISTRITOS DE RECENSEAMENTO A INQUIRIR DISTRITO DE RECENSEAMENTO N° de Familias N° de ZONA N° DR (DR) 1990 1997 Pessoas selecc. CONCELHO DE TARRAFAL Freguesia de Santo Amaro Abade 7 1 1 101 242 Centro de Tarrafal + parte de Ponta Gato 1 7 1 1 102 129 Ponta Lagoa 2 7 1 1 103 238 parte de Ponta Gato + Montearia 3 7 1 1 104 139 Codje Bicho 4 7 1 1 201 191 Achada Longueira 5 7 1 1 202 74 Achada Meio + Figueira Muita 6 7 1 1 204 76 Ribeira das pratas + Milho Branco 7 7 1 1 205 151 Mato Mendes + Curral Velho 8 7 1 1 207 157 Achada Montes+Fazenda+Ponta Furna+Ponta Lobräo 9 7 1 1 208 113 Biscainhos 10 7 1 1 210 119 parte de Achada Moiräo 11 7 1 1 212 115 Lagoa + Achada Lagoa 12 7 1 1 214 138 parte de Chäo Bom 13 7 1 1 215 130 parte de Chäo Bom 14 Freguesia de São Miguel Arcanjo 7 1 2 102 114 Calheta 15 7 1 2 103 109 Calheta 16 7 1 2 104 172 Veneza 17 7 1 2 201 181 Ribeiräo Milho + Chä de ponta 18 7 1 2 202 162 Achada Monte 19 7 1 2 204 133 parte de Principal 20 7 1 2 205 127 parte de Principal 21 7 1 2 207 153 parte de Espinho Branco 22 7 1 2 208 112 Gon-Gon + Xaxa 23 7 1 2 209 145 Piläo Cäo 24 7 1 2 211 125 Casa Branca+Igreja+Varanda+Achada Baril+C.Gomes 25 7 1 2 212 153 Varanda + Fundo Ribeiro 26 7 1 2 213 110 Cutelo Gomes 27 7 1 2 215 107 Pedra Barro+ Tagarra 28 7 1 2 217 102 Ponta Verde 29 7 1 2 218 98 Pedra Serrada 30 Fonte : RGPH/90 Distritos Recenseamento DISTRITOS DE RECENSEAMENTO A INQUIRIR DISTRITO DE RECENSEAMENTO N° de Familias N° de ZONA N° DR (DR) 1990 1997 Pessoas selecc. -

No 34 «Bo» Da República De Cabo Verde — 21 De Maio De 2014
1126 I SÉRIE — NO 34 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE MAIO DE 2014 ASSEMBLEIA NACIONAL envolvimento activo dos principais agentes e actores, directa ou indirectamente, implicados nas principais –––––– questões ambientais, (instituições sectoriais e nacionais a nível central e municipal, bem como as Organizações Resolução nº 104/VIII/2014 Não Governamentais (ONG) nacionais). de 21 de Maio Durante os encontros com as Câmaras Municipais A Assembleia Nacional, vota, nos termos da alínea m) foram abordadas questões, directa ou indirectamente do artigo 175.° da Constituição a seguinte Resolução: relacionadas com o Ambiente, nomeadamente, os instru- Artigo 1.° mentos de gestão municipal, abastecimento de água e saneamento básico, electrifi cação do Município, espaços Aprovação verdes, relacionamento com os Serviços desconcentrados É aprovado o Livro Branco sobre o Estado do Am- do Estado, entre outras. biente em Cabo Verde, elaborado ao abrigo do número Nos encontros com os Serviços Desconcentrados do 2 do artigo 50.° da Lei n° 86/IV/93, de 26 de Junho, que Estado nas ilhas visitadas, foram tratadas questões se publica em anexo à presente Resolução, que dela faz relacionadas com o funcionamento, os projectos parte integrante. directos ou indirectamente relacionados com o ambiente. Artigo 2.° Foram assim realizados encontros com os Sectores co- ordenadores dos Planos Ambientais Inter-Sectoriais Entrada em vigor (PAIS), elaborados no âmbito do processo de elaboração A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte do segundo Plano de Acção Nacional para o Ambiente ao da sua publicação. (PANA II), e outros Sectores detentores de dados rela- cionados com a problemática ambiental, entre os quais Aprovada em 27 de Março de 2014.