JOCILENE GUIMARÃES SILVA.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Indagine Sulla Presenza Di Helicobacter Pullorum in Allevamenti Avicoli Italiani
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN “EPIDEMIOLOGIA E CONTROLLO DELLE ZOONOSI” Ciclo XX Settore scientifico disciplinare di afferenza: VET-05 TITOLO TESI Indagine sulla presenza di Helicobacter pullorum in allevamenti avicoli italiani Presentata da: Dr. Mirko Rossi Coordinatore Dottorato Relatore Prof.Luigi Morganti Prof. Renato Giulio Zanoni Esame finale anno 2008 1 2 Para a Joana Hà-de haver uma cor por descobrir Um juntar de palava escondido Hà-de haver uma chave para abrir A porta deste muro desmedido (Josè Saramago, Hà-de aver…) 3 4 INDICE PARTE GENERALE 7 Capitolo 1 Genere Helicobacter 9 Capitolo 2 Helicobacter pullorum 21 PARTE SPERIMENTALE 31 Presentazione 33 Capitolo 1 Ottimizzazione dei metodi di isolamento di Helicobacter pullorum da matrice policontaminata 35 Capitolo 2 Isolamento di Helicobacter pullorum da contenuto ciecale di broiler, galline ovaiole, tacchini e struzzo, caratterizzazione fenotipica e tipizzazione genotipica degli isolati 55 Capitolo 3 Indagine sulla presenza di Helicobacter pullorum da feci di pazienti umani affetti da patologia gastroenterica 85 Capitolo 4. Antibiotico resistenza in Helicobacter pullorum 93 Conclusioni 119 RINGRAZIAMENTI 123 BIBLIOGRAFIA 125 5 6 PARTE GENERALE 7 8 CAPITOLO 1 Genere Helicobacter 1.1 Tassonomia del genere Helicobacter Il genere Helicobacter è stato originariamente descritto nel 1989 da Goodwin et al . i quali, sulla base di caratteristiche fenotipiche e genotipiche quali la composizione in acidi grassi della membrana cellulare, la sensibilità ad alcuni antibiotici e la sequenza del rRNA, classificarono in questo nuovo genere le specie [Campylobacter pylori ] e [Campylobacter mustelae ], isolate rispettivamente dallo stomaco di uomo (Marshall et al. , 1985) e di furetto (Fox et al ., 1988). -

Helicobacter Pylori: Comparative Genomics and Structure-Function Analysis of the Flagellum Biogenesis Protein HP0958
UCC Library and UCC researchers have made this item openly available. Please let us know how this has helped you. Thanks! Title Helicobacter pylori: comparative genomics and structure-function analysis of the flagellum biogenesis protein HP0958 Author(s) de Lacy Clancy, Ceara A. Publication date 2014 Original citation de Lacy Clancy, C. A. 2014. Helicobacter pylori: comparative genomics and structure-function analysis of the flagellum biogenesis protein HP0958. PhD Thesis, University College Cork. Type of publication Doctoral thesis Rights © 2014, Ceara A. De Lacy Clancy. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/1684 from Downloaded on 2021-10-10T14:33:51Z Helicobacter pylori: Comparative genomics and structure-function analysis of the flagellum biogenesis protein HP0958 A Thesis Presented in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Ceara de Lacy Clancy, B.Sc. School of Microbiology National University of Ireland, Cork Supervisor: Prof. Paul W. O’Toole Head of School of Microbiology: Prof. Gerald Fitzgerald February 2014 Table of Contents Table of Contents Abstract ........................................................................................................................ i Chapter 1 Literature Review....................................................................................................... 1 1 Helicobacter pylori .................................................................................................. 2 1.1 Discovery -

Diversity of Mat-Forming Sulfide-Oxidizing Bacteria at Continental Margins
Diversity of Mat-forming Sulfide-oxidizing Bacteria at Continental Margins Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften - Dr. rer. nat. - dem Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Bremen vorgelegt von Stefanie Grünke Bremen, April 2010 Die vorliegende Doktorarbeit wurde in der Zeit von Juni 2006 bis April 2010 am Max- Planck-Institut für Marine Mikrobiologie und am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung angefertigt. 1. Gutachterin: Prof. Dr. Antje Boetius 2. Gutachter: Prof. Dr. Rudolf Amann Tag des Promotionskolloquiums: 4. Juni 2010 Diese Arbeit ist all denjenigen gewidmet, die ihre Segel setzen, um neue Welten gu erkunden. Seien sie sich gewiss, dass auf Sturm immer ruhiges Wasserfolgt. Wertrauen sie auf ihr größtes Gut — ihre Freunde und Familie. Nutgen sie ihre Schwächen, um neue Stärken gu finden. Soll Zuversicht ihr Kompass sein! Summary In the oceans, microbial mats formed by chemosynthetic sulfide-oxidizing bacteria are mostly found in so-called ‘reduced habitats’ that are characterized by chemoclines where energy-rich, reduced substances, like hydrogen sulfide, are transported into oxic or suboxic zones. There, these organisms often thrive in narrow zones or gradients of their electron donor (sulfide) and their electron acceptor (mostly oxygen or nitrate). Through the build up of large biomasses, mat-forming sulfide oxidizers may significantly contribute to primary production in their habitats and dense mats represent efficient benthic filters against the toxic gas hydrogen sulfide. As gradient organisms, these mat-forming sulfide oxidizers seem to be adapted to very defined ecological niches with respect to oxygen (or nitrate) and sulfide gradients. However, many aspects regarding their diversity as well as their geological drivers in marine sulfidic habitats required further investigation. -

Bacterial Communities in Manganese Nodules in Rice Field Subsoils: Estimation Using PCR-DGGE and Sequencing Analyses
Soil Science and Plant Nutrition (2007) 53, 575–584 doi: 10.1111/j.1747-0765.2007.00176.x ORIGINALBlackwell Publishing Ltd ARTICLE BacterialORIGINAL communities ARTICLE in manganese nodules Bacterial communities in manganese nodules in rice field subsoils: Estimation using PCR-DGGE and sequencing analyses Vita Ratri CAHYANI1,3, Jun MURASE1, Eiji ISHIBASHI2, Susumu ASAKAWA1 and Makoto KIMURA1 1Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya 464-8601, 2Agricultural Experiment Station, Okayama Prefectural General Agricultural Center, Okayama 709-0801, Japan; and 3Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta 57126, Indonesia Abstract The phylogenetic positions of bacterial communities in manganese (Mn) nodules from subsoils of two Japanese rice fields were estimated using polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR- DGGE) analysis followed by sequencing of 16S rDNA. The DGGE band patterns and sequencing analysis of characteristic DGGE bands revealed that the bacterial communities in Mn nodules were markedly different from those in the plow layer and subsoils. Three out of four common bands found in Mn nodules from two sites corresponded to Deltaproteobacteria and were characterized as sulfate-reducing and iron-reducing bacteria. The other DGGE bands of Mn nodules corresponded to sulfate and iron reducers (Deltaproteo- bacteria), methane-oxidizing bacteria (Gamma and Alphaproteobacteria), nitrite-oxidizing bacteria (Nitrospirae) and Actinobacteria. In addition, some DGGE bands of Mn nodules showed no clear affiliation to any known bacteria. The present study indicates that members involved in the reduction of Mn nodules dominate the bacterial communities in Mn nodules in rice field subsoils. Key words: bacteria, manganese nodule, manganese reduction, phylogeny, rice field. INTRODUCTION The sites of Fe and Mn accumulation in the subsoil layer are termed Fe and Mn illuvial horizons, and the Rice is a staple crop in Asian countries. -

Tese Adelina Margarida Parente
Defences of Helicobacter species against host antimicrobials Adelina Margarida Lima Pereira Rodrigues Parente Dissertation presented to obtain the Ph.D degree in Biochemistry Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier | Universidade Nova de Lisboa Oeiras, June, 2016 Defences of Helicobacter species against host antimicrobials Adelina Margarida Lima Pereira Rodrigues Parente Dissertation presented to obtain the Ph.D degree in Biochemistry Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier | Universidade Nova de Lisboa Oeiras, June 2016 From left to right: Mónica Oleastro (4th oponente), Gabriel Martins (3 rd opponent), Marta Justino (Co-supervisor) , Miguel Viveiros (2 nd opponent), Adelina Margarida Parente , Lígia Saraiva (supervisor) , Cecília Arraiano (president of the jury), and Maria do Céu Figueiredo (1 st opponent). nd 22 June 2016 Second edition, June 2016 Molecular Mechanisms of Pathogen Resistance Laboratory Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier Universidade Nova de Lisboa 2780-157 Portugal ii “Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, and is the torch which illuminates the world” Louis Pasteur iii iv Acknowledgments Firstly, I would like to express my gratitude to the person that allowed me the opportunity to perform a PhD and who also contributed the most for my accomplishment of this thesis by constantly supporting me during these last years. I thus thank my supervisor, Dr. Lígia Saraiva , for her permanent availability whenever I needed guidance, for all the excellent ideas and advices related to my practical work and lastly for all the patience and enthusiasm! I also thank Dr. Lígia for her rigour and enormous help in the writing of this thesis. -

Helicobacter Species
Comparative genomics analysis to differentiate metabolic and virulence gene potential in gastric versus enterohepatic Helicobacter species The MIT Faculty has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation Mannion, Anthony et al. "Comparative genomics analysis to differentiate metabolic and virulence gene potential in gastric versus enterohepatic Helicobacter species." BMC Genomics 19 (November 2018): 830 © 2018 The Author(s) As Published https://doi.org/10.1186/s12864-018-5171-2 Publisher Biomed Central Ltd Version Final published version Citable link http://hdl.handle.net/1721.1/119470 Terms of Use Creative Commons Attribution Detailed Terms http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Mannion et al. BMC Genomics (2018) 19:830 https://doi.org/10.1186/s12864-018-5171-2 RESEARCHARTICLE Open Access Comparative genomics analysis to differentiate metabolic and virulence gene potential in gastric versus enterohepatic Helicobacter species Anthony Mannion*, Zeli Shen and James G. Fox Abstract Background: The genus Helicobacter are gram-negative, microaerobic, flagellated, mucus-inhabiting bacteria associated with gastrointestinal inflammation and classified as gastric or enterohepatic Helicobacter species (EHS) according to host species and colonization niche. While there are over 30 official species, little is known about the physiology and pathogenic mechanisms of EHS, which account for most in the genus, as well as what genetic factors differentiate gastric versus EHS, given they inhabit different hosts and colonization niches. The objective of this study was to perform a whole-genus comparative analysis of over 100 gastric versus EHS genomes in order to identify genetic determinants that distinguish these Helicobacter species and provide insights about their evolution/ adaptation to different hosts, colonization niches, and mechanisms of virulence. -
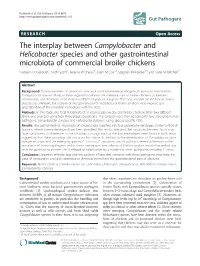
The Interplay Between Campylobacter and Helicobacter Species And
Kaakoush et al. Gut Pathogens 2014, 6:18 http://www.gutpathogens.com/content/6/1/18 RESEARCH Open Access The interplay between Campylobacter and Helicobacter species and other gastrointestinal microbiota of commercial broiler chickens Nadeem O Kaakoush1, Nidhi Sodhi1, Jeremy W Chenu2, Julian M Cox1,3,StephenMRiordan4,5 and Hazel M Mitchell1* Abstract Background: Poultry represent an important source of foodborne enteropathogens, in particular thermophilic Campylobacter species. Many of these organisms colonize the intestinal tract of broiler chickens as harmless commensals, and therefore, often remain undetected prior to slaughter. The exact reasons for the lack of clinical disease are unknown, but analysis of the gastrointestinal microbiota of broiler chickens may improve our understanding of the microbial interactions with the host. Methods: In this study, the fecal microbiota of 31 market-age (56-day old) broiler chickens, from two different farms, was analyzed using high throughput sequencing. The samples were then screened for two emerging human pathogens, Campylobacter concisus and Helicobacter pullorum, using species-specific PCR. Results: The gastrointestinal microbiota of chickens was classified into four potential enterotypes, similar to that of humans, where three enterotypes have been identified. The results indicated that variations between farms may have contributed to differences in the microbiota, though each of the four enterotypes were found in both farms suggesting that these groupings did not occur by chance. In addition to the identification of Campylobacter jejuni subspecies doylei and the emerging species, C. concisus, C. upsaliensis and H. pullorum, several differences in the prevalence of human pathogens within these enterotypes were observed. Further analysis revealed microbial taxa with the potential to increase the likelihood of colonization by a number of these pathogens, including C. -

Seasonal Variability in the Microbial Community and Pathogens in Wastewater Final Effluents
water Article Seasonal Variability in the Microbial Community and Pathogens in Wastewater Final Effluents Xiang Chen 1,2 , Xiu Lu Lang 1, Ai-Ling Xu 1,*, Zhi-Wen Song 1,*, Juan Yang 3 and Ming-Yue Guo 1 1 School of Environmental and Municipal Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China; [email protected] (X.C.); [email protected] (X.L.L.); [email protected] (M.-Y.G.) 2 College of Resources and Environment, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China 3 State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; [email protected] * Correspondence: [email protected] (A.-L.X.); [email protected] (Z.-W.S.) Received: 6 November 2019; Accepted: 6 December 2019; Published: 8 December 2019 Abstract: Numerous bacteria, especially pathogens, exist in wastewater final effluents, which can lead to possible human health and ecological security risks when effluents are reused or discharged. However, the diversity, composition, and spatiotemporal dynamics of bacteria in wastewater final effluents remain poorly understood. In this study, a comprehensive analysis of the microbial community and pathogens in wastewater final effluents was performed using high-throughput sequencing. The results revealed that wastewater final effluents in autumn exhibited the highest bacterial community richness and diversity, while those in winter exhibited the lowest. Bacteria in wastewater final effluents predominantly belonged to five phyla, in the order of Proteobacteria, Actinobacteria, Planctomycetes, Bacteroidetes, and Firmicutes. At the species level, there were 8~15 dominant species in the wastewater final effluent in each season, and Dokdonella immobilis, Rhizobium gallicum, Candidatus Flaviluna lacus, and Planctomyces limnophilus were the most dominant species in spring, summer, autumn, and winter, respectively. -

Minimal Standards for Describing New Species Belonging To
TAXONOMIC NOTE On et al., Int J Syst Evol Microbiol 2017;67:5296–5311 DOI 10.1099/ijsem.0.002255 Minimal standards for describing new species belonging to the families Campylobacteraceae and Helicobacteraceae: Campylobacter, Arcobacter, Helicobacter and Wolinella spp. Stephen L. W. On,1,* William G. Miller,2 Kurt Houf,3,4 James G. Fox5 and Peter Vandamme4 Abstract Ongoing changes in taxonomic methods, and in the rapid development of the taxonomic structure of species assigned to the Epsilonproteobacteria have lead the International Committee of Systematic Bacteriology Subcommittee on the Taxonomy of Campylobacter and Related Bacteria to discuss significant updates to previous minimal standards for describing new species of Campylobacteraceae and Helicobacteraceae. This paper is the result of these discussions and proposes minimum requirements for the description of new species belonging to the families Campylobacteraceae and Helicobacteraceae, thus including species in Campylobacter, Arcobacter, Helicobacter, and Wolinella. The core underlying principle remains the use of appropriate phenotypic and genotypic methods to characterise strains sufficiently so as to effectively and unambiguously determine their taxonomic position in these families, and provide adequate means by which the new taxon can be distinguished from extant species and subspecies. This polyphasic taxonomic approach demands the use of appropriate reference data for comparison to ensure the novelty of proposed new taxa, and the recommended study of at least five strains -

Detection of Helicobacter DNA in Different Water Sources and Penguin Feces from Greenwich, Dee and Barrientos Islands, Antarctica
Detection of Helicobacter DNA in different water sources and penguin feces from Greenwich, Dee and Barrientos Islands, Antarctica Ana María Cunachi, Milagro Fernández- Delgado, Paula Suárez, Mónica Contreras, Fabian Michelangeli & M. Alexandra García-Amado Polar Biology ISSN 0722-4060 Polar Biol DOI 10.1007/s00300-015-1879-5 1 23 Your article is protected by copyright and all rights are held exclusively by Springer- Verlag Berlin Heidelberg. This e-offprint is for personal use only and shall not be self- archived in electronic repositories. If you wish to self-archive your article, please use the accepted manuscript version for posting on your own website. You may further deposit the accepted manuscript version in any repository, provided it is only made publicly available 12 months after official publication or later and provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on Springer's website. The link must be accompanied by the following text: "The final publication is available at link.springer.com”. 1 23 Author's personal copy Polar Biol DOI 10.1007/s00300-015-1879-5 ORIGINAL PAPER Detection of Helicobacter DNA in different water sources and penguin feces from Greenwich, Dee and Barrientos Islands, Antarctica 1,3 2 4 Ana Marı´a Cunachi • Milagro Ferna´ndez-Delgado • Paula Sua´rez • 2 2 1,2 Mo´nica Contreras • Fabian Michelangeli • M. Alexandra Garcı´a-Amado Received: 29 April 2015 / Revised: 8 December 2015 / Accepted: 17 December 2015 Ó Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 Abstract Helicobacter spp. colonize the gastrointestinal sequences, but the 23S rRNA sequences matched with tract of humans and animals and have been associated with Campylobacter and Arcobacter. -

Title: Bartonella Dynamics in Indigenous
Molecular diversity and prevalence of Helicobacter, Bartonella and Streptococcus in Mus musculus from sub-Antarctic Marion Island in relation to host diversity By Candice Eadie Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Zoology) Faculty of Natural and Agricultural Sciences Department of Zoology and Entomology University of Pretoria Pretoria South Africa Supervisors: Prof A.D.S. Bastos, Prof M.N. Bester and Prof S.N. Venter December 2011 1 © University of Pretoria Declaration I, Candice Eadie hereby declare that the dissertation, which I hereby submit for the degree Master of Science (Zoology) at the University of Pretoria, is my own work and has not previously been submitted by me for a degree at this or any other tertiary institution. Signature: Date : 9/12/2011 2 Disclaimer This thesis consists of a series of chapters that have been prepared as stand-alone manuscripts for subsequent submission for publication purposes. Consequently, unavoidable overlaps and/or repetitions may occur between chapters. 3 Molecular diversity and prevalence of Helicobacter, Bartonella and Streptococcus in Mus musculus from sub-Antarctic Marion Island in relation to host diversity by Candice Eadie Mammal Research Institute (MRI), Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria, Private Bag X20, Hatfield, 0028 South Africa SUPERVISORS: Prof. A.D.S. Bastos Mammal Research Institute (MRI), Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria, Private Bag X20, Hatfield, 0028 South Africa Prof. M.N. Bester Mammal Research Institute (MRI), Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria, Private Bag X20, Hatfield, 0028 South Africa. Prof. S.N. Venter Department of Microbiology and Plant pathology, University of Pretoria, Private Bag X20, Hatfield, 0028 South Africa. -

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLLO DELLE ZOONOSI Survey on The
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN EPIDEMIOLOGIA E CONTROLLO DELLE ZOONOSI Ciclo XXII Settore/i scientifico disciplinari di afferenza: VET/05 TITOLO TESI Survey on the spirilar flora of Lagomorphs Presentata da: Dott.ssa Joana Marreiros Cabrita Revez Coordinatore Dottorato Relatore Prof. Giovanni Poglayen Prof. Renato Giulio Zanoni Esame finale anno 2010 To Mirko: “As armas e os barões assinalados, Que da ocidental praia Lusitana, Por mares nunca de antes navegados, Passaram ainda além da Taprobana, Em perigos e guerras esforçados, Mais do que prometia a força humana, E entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram;” Luís Vaz de Camões (“Os Lusíadas” – Canto I) “Não me queiram converter a convicção: sou lúcido!” Álvaro de Campos (Fernando Pessoa, “Sou lúcido”) “A scientist in his laboratory is not a mere technician: he is also a child confronting natural phenomena that impress him as though they were fairy tales.” Marie Currie Ad astra per aspera Table of contents Background and objectives 1 Overview of the thesis 5 Part 1: General Introduction – literature review 9 I. Bacterial taxonomy 12 II. Taxonomy of Epsiloproteobacteria 17 Taxonomic history 19 The genus Campylobacter 20 The genus Helicobacter 24 III. Lagomorphs 27 Lagomorpha 27 Production 28 Rabbit intestinal microbiota 30 Epsilonproteobacteria in leporids 30 Zoonoses 31 References 32 Part 2: Experimental work 49 Chapter 1 Campyobacter cuniculorum sp. nov. 51 Isolates 52 DNA extraction and PCR identification 52 16S ribosomal RNA 52 Housekeeping genes rpoB and groEL 54 Whole-cell protein electrophoresis 55 DNA-DNA hybridization 56 Phenotypic characteristics 56 Transmission Electron Microscopy 58 G+C content 58 Conclusion 58 Description of Campylobacter cuniculorum sp.