Anais Estudos Insetos Sociais.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Digging Deeper Into the Ecology of Subterranean Ants: Diversity and Niche Partitioning Across Two Continents
diversity Article Digging Deeper into the Ecology of Subterranean Ants: Diversity and Niche Partitioning across Two Continents Mickal Houadria * and Florian Menzel Institute of Organismic and Molecular Evolution, Johannes-Gutenberg-University Mainz, Hanns-Dieter-Hüsch-Weg 15, 55128 Mainz, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected] Abstract: Soil fauna is generally understudied compared to above-ground arthropods, and ants are no exception. Here, we compared a primary and a secondary forest each on two continents using four different sampling methods. Winkler sampling, pitfalls, and four types of above- and below-ground baits (dead, crushed insects; melezitose; living termites; living mealworms/grasshoppers) were applied on four plots (4 × 4 grid points) on each site. Although less diverse than Winkler samples and pitfalls, subterranean baits provided a remarkable ant community. Our baiting system provided a large dataset to systematically quantify strata and dietary specialisation in tropical rainforest ants. Compared to above-ground baits, 10–28% of the species at subterranean baits were overall more common (or unique to) below ground, indicating a fauna that was truly specialised to this stratum. Species turnover was particularly high in the primary forests, both concerning above-ground and subterranean baits and between grid points within a site. This suggests that secondary forests are more impoverished, especially concerning their subterranean fauna. Although subterranean ants rarely displayed specific preferences for a bait type, they were in general more specialised than above-ground ants; this was true for entire communities, but also for the same species if they foraged in both strata. Citation: Houadria, M.; Menzel, F. -

Poneromorfas Do Brasil Miolo.Indd
10 - Citogenética e evolução do cariótipo em formigas poneromorfas Cléa S. F. Mariano Igor S. Santos Janisete Gomes da Silva Marco Antonio Costa Silvia das Graças Pompolo SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros MARIANO, CSF., et al. Citogenética e evolução do cariótipo em formigas poneromorfas. In: DELABIE, JHC., et al., orgs. As formigas poneromorfas do Brasil [online]. Ilhéus, BA: Editus, 2015, pp. 103-125. ISBN 978-85-7455-441-9. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0. Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 10 Citogenética e evolução do cariótipo em formigas poneromorfas Cléa S.F. Mariano, Igor S. Santos, Janisete Gomes da Silva, Marco Antonio Costa, Silvia das Graças Pompolo Resumo A expansão dos estudos citogenéticos a cromossomos de todas as subfamílias e aquela partir do século XIX permitiu que informações que apresenta mais informações a respeito de ca- acerca do número e composição dos cromosso- riótipos é também a mais diversa em número de mos fossem aplicadas em estudos evolutivos, ta- espécies: Ponerinae Lepeletier de Saint Fargeau, xonômicos e na medicina humana. Em insetos, 1835. Apenas nessa subfamília observamos carió- são conhecidos os cariótipos em diversas ordens tipos com número cromossômico variando entre onde diversos padrões cariotípicos podem ser ob- 2n=8 a 120, gêneros com cariótipos estáveis, pa- servados. -

Longino & Branstetter (2020)
Copyedited by: OUP Insect Systematics and Diversity, (2020) 4(2): 1; 1–33 doi: 10.1093/isd/ixaa004 Molecular Phylogenetics, Phylogenomics, and Phylogeography Research Phylogenomic Species Delimitation, Taxonomy, and ‘Bird Guide’ Identification for the Neotropical Ant Genus Rasopone (Hymenoptera: Formicidae) John T. Longino1,3, and Michael G. Branstetter2 1Department of Biology, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, 2USDA-ARS Pollinating Insects Research Unit, Utah State University, Logan, UT 84322, and 3Corresponding author, e-mail: [email protected] Subject Editor: Eduardo Almeida Received 18 January, 2020; Editorial decision 9 March, 2020 Abstract Rasopone Schmidt and Shattuck is a poorly known lineage of ants that live in Neotropical forests. Informed by phylogenetic results from thousands of ultraconserved elements (UCEs) and mitochondrial DNA barcodes, we revise the genus, providing a new morphological diagnosis and a species-level treatment. Analysis of UCE data from many Rasopone samples and select outgroups revealed non-monophyly of the genus. Monophyly of Rasopone was restored by transferring several species to the unrelated genus Mayaponera Schmidt and Shattuck. Within Rasopone, species are morphologically very similar, and we provide a ‘bird guide’ approach to identification rather than the traditional dichotomous key. Species are arranged by size in a table, along with geographic range and standard images. Additional diagnostic information is then provided in individual species accounts. We recognize a total of 15 named species, of which the following are described as new species: R. costaricensis, R. cryptergates, R. cubitalis, R. guatemalensis, R. mesoamericana, R. pluviselva, R. politognatha, R. subcubitalis, and R. titanis. An additional 12 morphospecies are described but not for- mally named due to insufficient material. -

Universidade Federal Do Paraná Frederico Rottgers
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ FREDERICO ROTTGERS MARCINEIRO REVIEW OF THE ANT GENUS PACHYCONDYLA SMITH, 1858 IN BRAZIL (HYMENOPTERA: FORMICIDAE). CURITIBA 2020 FREDERICO ROTTGERS MARCINEIRO REVIEW OF THE ANT GENUS PACHYCONDYLA SMITH, 1858 IN BRAZIL (HYMENOPTERA: FORMICIDAE). Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação em Entomologia, setor de Ciências Biológicas, Universidade Federial do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Entomologia. Orientador: John Edwin Lattke Bravo CURITIBA 2020 AGRADECIMENTOS Primeiramente julgo necessário agradecer à minha família. Meu pai, minha mãe, meus dois irmãos que em momento algum falharam comigo durante essa caminhada. Obrigado por sempre me demonstrarem suporte, quer seja emocional, intelectualmente ou até mesmo financeiramente quando precisei viajar a trabalho ou participar de congresso. Tenho certeza que sem esse apoio essa caminhada seria imensamente mais difícil, por esse privilégio eu agradeço imensamente. Obrigado aos meus irmãos que sempre foram parceiros, quer seja para conversas de desabafo ou para curtir um bom momento dando risadas juntos, obrigado por sempre estarem a disposição e pelas horas perdidas em trânsito indo me buscar na rodoviária todas as vezes que fui a Florianópolis, amo vocês. Agradeço também aos meus outros familiares, às minhas duas avós que sempre demonstraram amor incondicional e muito orgulho de mim. Aos tios, tias, primos e primas muito obrigado pelo calor e alegria que a convivência com vocês sempre me trouxe. Desejo que todas as pessoas possam desfrutar de pessoas tão boas e amáveis como vocês são para mim. Aos meus amigos que sempre estavam lá para me apoiar e animar quando os tempos foram sombrios, meu eterno agradecimento. -

Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae)
Molecular Phylogenetics and Taxonomic Revision of Ponerine Ants (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) Item Type text; Electronic Dissertation Authors Schmidt, Chris Alan Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 23:29:52 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/194663 1 MOLECULAR PHYLOGENETICS AND TAXONOMIC REVISION OF PONERINE ANTS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE: PONERINAE) by Chris A. Schmidt _____________________ A Dissertation Submitted to the Faculty of the GRADUATE INTERDISCIPLINARY PROGRAM IN INSECT SCIENCE In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2009 2 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by Chris A. Schmidt entitled Molecular Phylogenetics and Taxonomic Revision of Ponerine Ants (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy _______________________________________________________________________ Date: 4/3/09 David Maddison _______________________________________________________________________ Date: 4/3/09 Judie Bronstein -
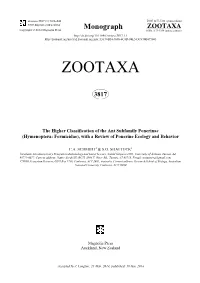
The Higher Classification of the Ant Subfamily Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae), with a Review of Ponerine Ecology and Behavior
Zootaxa 3817 (1): 001–242 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Monograph ZOOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3817.1.1 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:A3C10B34-7698-4C4D-94E5-DCF70B475603 ZOOTAXA 3817 The Higher Classification of the Ant Subfamily Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae), with a Review of Ponerine Ecology and Behavior C.A. SCHMIDT1 & S.O. SHATTUCK2 1Graduate Interdisciplinary Program in Entomology and Insect Science, Gould-Simpson 1005, University of Arizona, Tucson, AZ 85721-0077. Current address: Native Seeds/SEARCH, 3584 E. River Rd., Tucson, AZ 85718. E-mail: [email protected] 2CSIRO Ecosystem Sciences, GPO Box 1700, Canberra, ACT 2601, Australia. Current address: Research School of Biology, Australian National University, Canberra, ACT, 0200 Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by J. Longino: 21 Mar. 2014; published: 18 Jun. 2014 C.A. SCHMIDT & S.O. SHATTUCK The Higher Classification of the Ant Subfamily Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae), with a Review of Ponerine Ecology and Behavior (Zootaxa 3817) 242 pp.; 30 cm. 18 Jun. 2014 ISBN 978-1-77557-419-4 (paperback) ISBN 978-1-77557-420-0 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2014 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2014 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. -

Instituto Nacional De Pesquisas Da Amazônia - INPA
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA Divisão do Curso de Pós–Graduação em Entomologia - DIENT Espécies mais frequentes de formigas (Hymenoptera: Formicidae) como indicadoras da composição de espécies no tempo em uma floresta ombrófila densa na Amazônia Central Ana Cristina da Silva Utta Manaus, AM Março, 2017 Ana Cristina da Silva Utta Espécies mais frequentes de formigas (Hymenoptera: Formicidae) como indicadoras da composição de espécies no tempo em uma floresta ombrófila densa na Amazônia Central Orientador: Dr. Jorge Luiz Pereira de Souza Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências Biológicas (Entomologia) Manaus, AM Março, 2017 U89 Utta , Ana Cristina da Silva Espécies mais frequentes de formigas (Hymenoptera: Formicidae) como indicadoras da composição de espécies no tempo em uma floresta ombrófila densa na Amazônia Central / Ana Cristina da Silva Utta. --- Manaus: [s.n.], 2017. 55 f.: il. Dissertação (Mestrado) --- INPA, Manaus, 2017. Orientador: Jorge Luiz Pereira de Souza Área de concentração: Entomologia 1. Formigas. 2.Táxon substituto . 3. Variáveis Ambientais . I. Título. CDD 595.796 Sinopse: Foi avaliado o uso das espécies mais frequentes de formigas como indicador da composição de espécies e a relação destas com as variáveis ambientais (porcentagem de argila, declividade do terreno e volume de serapilheira) ao longo do tempo. Foi verificado que as espécies mais frequentes são boas preditoras da assembleia total de formigas, além de reagir de forma semelhante a composição total frente as variáveis ambientais. Palavras-chave: Táxon substituto, Formicidae, Variáveis Ambientais, Padrão de distribuição, Espécies representativas. iii Dedicatória Aos meus familiares e amigos. -

V. 15 N. 1 Janeiro/Abril De 2020
v. 15 n. 1 janeiro/abril de 2020 Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Naturais v. 15, n. 1 janeiro-abril 2020 BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. CIÊNCIAS NATURAIS (ISSN 2317-6237) O Boletim do Museu Paraense de História Natural e Ethnographia foi criado por Emílio Goeldi e o primeiro fascículo surgiu em 1894. O atual Boletim é sucedâneo daquele. IMAGEM DA CAPA Elaborada por Rony Peterson The Boletim do Museu Paraense de História Natural e Ethnographia was created by Santos Almeida e Lívia Pires Emilio Goeldi, and the first number was issued in 1894. The present one is the do Prado. successor to this publication. EDITOR CIENTÍFICO Fernando da Silva Carvalho Filho EDITORES DO NÚMERO ESPECIAL Lívia Pires do Prado Rony Peterson Santos Almeida EDITORES ASSOCIADOS Adriano Oliveira Maciel Alexandra Maria Ramos Bezerra Aluísio José Fernandes Júnior Débora Rodrigues de Souza Campana José Nazareno Araújo dos Santos Junior Valéria Juliete da Silva William Leslie Overal CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO Ana Maria Giulietti - Universidade Estadual de Feira de Santana - Feira de Santana - Brasil Augusto Shinya Abe - Universidade Estadual Paulista - Rio Claro - Brasil Carlos Afonso Nobre - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - São José dos Campos - Brasil Douglas C. Daly - New York Botanical Garden - New York - USA Hans ter Steege - Utrecht University - Utrecht - Netherlands Ima Célia Guimarães Vieira - Museu Paraense Emílio Goeldi - Belém - Brasil John Bates - Field Museum of Natural History - Chicago - USA José Maria Cardoso da -
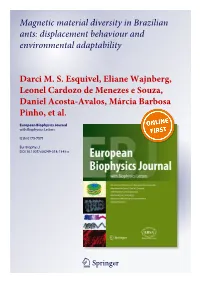
Magnetic Material Diversity in Brazilian Ants: Displacement Behaviour and Environmental Adaptability
Magnetic material diversity in Brazilian ants: displacement behaviour and environmental adaptability Darci M. S. Esquivel, Eliane Wajnberg, Leonel Cardozo de Menezes e Souza, Daniel Acosta-Avalos, Márcia Barbosa Pinho, et al. European Biophysics Journal with Biophysics Letters ISSN 0175-7571 Eur Biophys J DOI 10.1007/s00249-018-1343-x 1 23 Your article is protected by copyright and all rights are held exclusively by European Biophysical Societies' Association. This e- offprint is for personal use only and shall not be self-archived in electronic repositories. If you wish to self-archive your article, please use the accepted manuscript version for posting on your own website. You may further deposit the accepted manuscript version in any repository, provided it is only made publicly available 12 months after official publication or later and provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on Springer's website. The link must be accompanied by the following text: "The final publication is available at link.springer.com”. 1 23 Author's personal copy European Biophysics Journal https://doi.org/10.1007/s00249-018-1343-x ORIGINAL ARTICLE Magnetic material diversity in Brazilian ants: displacement behaviour and environmental adaptability Darci M. S. Esquivel1 · Eliane Wajnberg1 · Leonel Cardozo de Menezes e Souza1 · Daniel Acosta‑Avalos1 · Márcia Barbosa Pinho1 · Ana Yoshi Harada2 Received: 16 October 2018 / Accepted: 10 December 2018 © European Biophysical Societies’ Association 2019 Abstract How geomagnetic feld information is collected and processed by insects for orientation and navigation remains elusive. In social insects, magnetic particles are well accepted as magnetic sensors. -

Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) from the African Continent Abdulmeneem Joma University of Texas at El Paso, [email protected]
University of Texas at El Paso DigitalCommons@UTEP Open Access Theses & Dissertations 2014-01-01 Revision of the Ant Genus Bothroponera (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) From the African Continent Abdulmeneem Joma University of Texas at El Paso, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.utep.edu/open_etd Part of the Biology Commons, Ecology and Evolutionary Biology Commons, and the Entomology Commons Recommended Citation Joma, Abdulmeneem, "Revision of the Ant Genus Bothroponera (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) From the African Continent" (2014). Open Access Theses & Dissertations. 1267. https://digitalcommons.utep.edu/open_etd/1267 This is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UTEP. It has been accepted for inclusion in Open Access Theses & Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@UTEP. For more information, please contact [email protected]. REVISION OF THE ANT GENUS BOTHROPONERA (HYMENOPTERA: FORMICIDAE: PONERINAE) FROM THE AFRICAN CONTINENT Abdulmeneem M. Alnour Joma Department of Biological Sciences APPROVED: William P. Mackay, Ph.D., Chair Carl S. Lieb, Ph.D. Eli Greenbaum, Ph.D. Michael Moody, Ph.D. Richard Langford, Ph.D. Charles Ambler, Ph.D. Dean of the Graduate School Copyright © by Abdulmeneem M. Alnour Joma 2014 Dedication I dedicate this dissertation to my family, to my parents Mohamed Alnour and Khadija Mohamed Ali, who raised me and encouraged me thoroughout my life to be able to achieve the highest level of education. To my wife Hawa Algatroni and children Rawan and Mustafa, who always supported me wherever my study took me, filling my life with love and patience. To my brothers: Abdalrahman, Mahmoud, Abdalnour, Ali, Ibrahim and my sisters: Aisha, Fatima, Zainab, Zohra, Imbarka, Mouna, who did not neglect any opportunity to encourage me to continue my scientific journey at all times. -

Research Article the Hindwings of Ants: a Phylogenetic Analysis
Hindawi Psyche Volume 2019, Article ID 7929717, 11 pages https://doi.org/10.1155/2019/7929717 Research Article The Hindwings of Ants: A Phylogenetic Analysis Stefano Cantone and Claudio José Von Zuben Department of Zoology, Sao˜ Paulo State University, Rio Claro, SP, Brazil Correspondence should be addressed to Stefano Cantone; [email protected] Received 11 February 2019; Accepted 27 March 2019; Published 14 April 2019 Academic Editor: Jan Klimaszewski Copyright © 2019 Stefano Cantone and Claudio Jos´e Von Zuben. Tis is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In this study, we compare and analyze diferent ant taxa hindwing morphologies with phylogenetic hypotheses of the Family Formicidae (Hymenoptera). Te hindwings are classifed into three Typologies based on progressive veins reduction. Tis analysis follows a revision of the hindwing morphology in 291 extant and eight fossil genera. Te distribution of diferent Typologies was analyzed in the two Clades: Formicoid and Poneroid. Te results show a diferent distribution of Typologies, with a higher genera percentage of hindwings of Typology I in the Clade Poneroid. A further analysis, based on genetic afnities, was performed by dividing the Clades into Subclades, showing a constant presence of hindwings of Typology I in almost all the Subclades, albeit with a diferent percentage. Te presence of hindwings of Typology I (hypothesized as more ancestral) in the Subclades, indicates the genera that could be morphologically more similar to their ancestral ones. Tis study represents the frst revision of the ants’ hindwings, showing an overview of the distribution of diferent Typologies. -

Download Special Issue
Psyche Advances in Neotropical Myrmecology Guest Editors: Jacques Hubert Charles Delabie, Fernando Fernández, and Jonathan Majer Advances in Neotropical Myrmecology Psyche Advances in Neotropical Myrmecology Guest Editors: Jacques Hubert Charles Delabie, Fernando Fernandez,´ and Jonathan Majer Copyright © 2012 Hindawi Publishing Corporation. All rights reserved. This is a special issue published in “Psyche.” All articles are open access articles distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Editorial Board Arthur G. Appel, USA John Heraty, USA Mary Rankin, USA Guy Bloch, Israel DavidG.James,USA David Roubik, USA D. Bruce Conn, USA Russell Jurenka, USA Coby Schal, USA G. B. Dunphy, Canada Bethia King, USA James Traniello, USA JayD.Evans,USA Ai-Ping Liang, China Martin H. Villet, South Africa Brian Forschler, USA Robert Matthews, USA William T. Wcislo, Panama Howard S. Ginsberg, USA Donald Mullins, USA DianaE.Wheeler,USA Abraham Hefetz, Israel Subba Reddy Palli, USA Contents Advances in Neotropical Myrmecology, Jacques Hubert Charles Delabie, Fernando Fernandez,´ and Jonathan Majer Volume 2012, Article ID 286273, 3 pages Tatuidris kapasi sp. nov.: A New Armadillo Ant from French Guiana (Formicidae: Agroecomyrmecinae), Sebastien´ Lacau, Sarah Groc, Alain Dejean, Muriel L. de Oliveira, and Jacques H. C. Delabie Volume 2012, Article ID 926089, 6 pages Ants as Indicators in Brazil: A Review with Suggestions