Do Jogo Que Se Quer Jogar, Ao Saber Treinar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beckford Já Saiu Da Costa Rica
QUINTA-FEIRA 7 MAIO 2015 Diretor José Manuel Ribeiro Ano 31, n.º 75 f facebook.com/diariodesportivo.ojogo www.ojogo.pt 30 ANOS Diretor adjuntoadjunto JorgeJoJorgrge Maia 0,90€0,9 IVA Inc. t twitter.com/ojogo TreinadorTrein do médio pretendido pelo Sporting garante que elee já está no estrangeiro “a fazer exames médicos” Beckford já saiu da OJOGO Costa Rica “É“ muito forte tecnicamente,tecnicaam veloz, e “ podep fazer a diferençaça na meia-distância” Sarr e Sacko vão EMPRESÁRIO ser emprestados JÁ COMUNICOU CasoC Cardinal: AO BARCELONA ttestemunha-chave ttrama Cristóvão QUE O EXTREMO P11-13 NÃO DESEJA REGRESSAR A CAMP NOU Espanhol já treina BENFICA a 100% TELLO P4-6 JOVIC PODE DE VOLTA ASSINAR E FICAR EM BELGRADO Prioridade das águias é amarrar o jogador já, mesmo emprestando-o um ano P8-10 BARCELONA-BAYERN 3-0 Messi deixou PARA FICAR Guardiola KO Dois golões em três minutos derrubaram os alemães P2-3 José Maria Orobitg: “Disse-mo mais do que uma vez: quer jogar no FC Porto” ENTREVISTA Extremo do Braga passou a ser o futebolista em atividade com mais jogos na liga portuguesa P14-15 Alan: “Falta-me ganhar a Taça” f facebook.com/diariodesportivo.ojogo Quinta-feira, 7 maio 2015 2 GÉNIO DEt twitter.com/ojogoMESSIwww.ojogo.pt RESO BARCELONA 3 BAYERN 0 Estádio Camp Nou, em Barcelona FABULOSO O Barça tardava em Árbitro: Nicola Rizzoli (Itália) BARCELONA Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano (Bartra 89’) e Jordi marcar, até que a Pulga abriu o Alba; Rakitic (Xavi 82’), Busquets e Iniesta (Rafinha 87’); Messi, Suárez e Neymar livro: marcou -

(Re)Construção De Uma Identidade Coletiva
Da Conceptualização à Operacionalização. A (Re)Construção de uma Identidade Coletiva. Relatório de Estágio Profissionalizante apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com vista à obtenção do 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Treino de Alto Rendimento Desportivo, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de Março. Orientador: Professor Doutor José Guilherme Oliveira Tutor no Clube: Miguel Alexandre Areias Lopes Pedro Rodrigues Marques Mané, 200902840 Porto, Setembro de 2018 Ficha de catalogação Mané, P (2018). Da Conceptualização à Operacionalização. A (Re)Construção de uma Identidade Coletiva. Porto: P. Mané. Relatório de Estágio Profissionalizante para a obtenção do grau de Mestre em Treino de Alto Rendimento Desportivo, apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; FUTEBOL; IDEIA DE JOGO; MODELO DE JOGO; PERIODIZAÇÃO TÁTICA. 2 AGRADECIMENTOS O presente documento espelha o empenho e a dedicação ao longo dos últimos dois anos. Contudo, este caminho foi trilhado na companhia de um conjunto de pessoas que me ampararam, questionaram e contribuíram decisivamente para o meu desenvolvimento, pessoal e profissional. - Ao Professor Doutor José Guilherme, pelos momentos de partilha e pela orientação ao longo do período de elaboração deste documento. - Ao Mister José Tavares, na qualidade de Coordenador Técnico do FC Porto, pela confiança demonstrada ao longo deste período e por todas as aprendizagens inerentes. Por me questionar e por me desafiar constantemente. - Ao Gui e ao Paulinho, pela Amizade e pelo Profissionalismo que revelaram ao longo do ano. O trabalho “invisível” foi de enorme importância e vocês estiveram sempre na linha da frente comigo. -
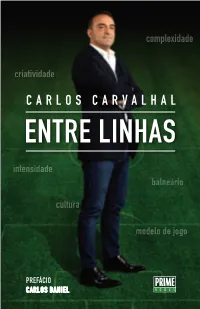
150331111345.Pdf
Título Entre Linhas Autor Carlos Carvalhal Design e paginação Jusko® Impressão Cafilesa 1ª edição Novembro 2014 ISBN 978‑989 ‑655 ‑247 ‑3 Depósito legal www.primebooks.pt clientes. [email protected] Índice Prefácio 9 Zé António 13 Paulo Futre 15 Recuperação entre jogos 20 A harmonia de uma orquestra e o futebol 24 Noção de jogar à zona 28 Ter a bola 33 Testes físicos 37 Espaços, linhas e momentos no jogo 41 Amizade e solidariedade... na tarefa 46 Pré‑época 50 Paragens no Campeonato 54 Parar para subir e... descer 58 As lesões e o paradigma do futebol italiano 62 Fadiga mental 65 Mourinho, Lampard e o intervalo de tempo entre dois jogos 69 Como se formatou uma ideia 73 Modelo de jogo 77 A natureza do jogo... do caos à ordem 83 Da teoria à prática e da prática à teoria 87 Intensidade. Um conceito abstrato? 92 Jogadores ou processo? 96 A especificidade ou Especificidade99 “He understands the game...” 105 Os erros vistos pela natureza “sistémica” do jogo 109 Transições ofensivas 113 Momento de transição defensiva 117 As análises de jogo... ou o perigo de fragmentar sem entender 120 A fluidez do jogo124 Pressionar ou bascular 128 Jogador de qualidade ou jogador com qualidades 130 Defesas centrais 133 Trinco ou pivot defensivo, um olhar por dentro do campo 138 Espaços “cegos” 141 Será possível haver pressão numa panela sem testo? 144 Rotatividade 148 A estratégia... 152 Criatividade: reflexão sobre uma palestra de Sir Ken Robinson 155 Quando tudo se começa a... perder 160 Partir do que conheço melhor para o que conheço pior.. -

Frederico Emanuel Portocarrero Baganha Cardoso
Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão Frederico Emanuel Portocarrero Baganha Cardoso rês Maiores tugueses or Estratégia e Cultura nos Três Maiores Clubes de Futebol Portugueses utebol P tratégia e Cultura nos T Es Clubes de F doso o Baganha Car er ocarr t or ederico Emanuel P r F 4 1 UMinho|20 abril de 2014 Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão Frederico Emanuel Portocarrero Baganha Cardoso Estratégia e Cultura nos Três Maiores Clubes de Futebol Portugueses Dissertação de Mestrado Mestrado em Marketing e Estratégia Trabalho efetuado sob a orientação do Professor Doutor Vasco Eiriz abril de 2014 Agradecimentos Agradeço em especial ao Professor Doutor Vasco Eiriz pelo apoio incondicional e por, através da partilha do seu saber e conhecimento, me ter guiado e aconselhado durante a realização desta dissertação. Uma palavra de apreço também a todos aqueles que participaram nos grupos de foco e que assim contribuíram significativamente para o desfecho bem-sucedido desta dissertação. Expresso ainda a minha gratidão a todos os familiares e amigos que me apoiaram e acompanharam ao longo deste percurso. A todos o meu sincero obrigado. iii iv Resumo Título: Estratégia e Cultura nos Três Maiores Clubes de Futebol Portugueses Esta dissertação analisa a relação entre cultura organizacional e estratégia de clubes de futebol. Faz uma análise comparativa da forma como os três maiores clubes de futebol portugueses gerem a sua estratégia no que respeita às seguintes áreas de estudo: mudança; liderança e controlo; e rivalidade, concorrência e capacidades dinâmicas. No que respeita à cultura organizacional são consideradas as seguintes áreas: análise histórica e cultural; cultura e socialização organizacional; e recursos idiossincráticos. -

Uefa Europa League
UEFA EUROPA LEAGUE - 2019/20 SEASON MATCH PRESS KITS OSK Metalist Stadion - Kharkiv Thursday 20 February 2020 18.55CET (19.55 local time) FC Shakhtar Donetsk Round of 32, First leg SL Benfica Last updated 19/02/2020 03:19CET Match background 2 Legend 4 1 FC Shakhtar Donetsk - SL Benfica Thursday 20 February 2020 - 18.55CET (19.55 local time) Match press kit OSK Metalist Stadion, Kharkiv Match background Shakhtar Donetsk host Benfica in the first leg of the only UEFA Europa League round of 32 tie between teams that competed in this season's UEFA Champions League group stage. Both clubs are participating in this round for the sixth time. • Shakhtar's hopes of prolonging their UEFA Champions League campaign into the spring were dashed on Matchday 6 when, needing a win against Atalanta in Kharkiv to guarantee qualification from Group C, they lost 0-3 – their joint heaviest home European defeat. The Ukrainian side ended up with six points, one fewer than Benfica, whose chances of further UEFA Champions League progress ended with a 2-2 draw at RB Leipzig on Matchday 5 but who subsequently sealed third spot in Group G by defeating Zenit 3-0 in Lisbon. Previous meetings • The clubs' only previous pairing was in the 2007/08 UEFA Champions League group stage, when both claimed away wins, Shakhtar 1-0 in Lisbon and Benfica 2-1 in Donetsk, with current Shakhtar goalkeeper Andriy Pyatov playing in both games. Neither club made it through to the knockout phase, Benfica finishing third and Shakhtar fourth behind AC Milan and Celtic. -

E:\Volume2.CD-Rom\6.Conjunto Global Dos Textos Em Formato .Txt
txt2/textos_dos_jornais_portugueses-Correio-10_janeiro-opinião2.10_jan.doc.txt O valor das palavras No último Mundial de Futebol ficámos a conhecer a vuvuzela, uma espécie de corneta com um som entre a sirene e o elefante que é capaz de despertar no monge o espírito de um taliban. Em 2010, 'vuvuzela' foi a nossa palavra do ano, e se dúvidas existiam, confirmámos então que é mais fácil recordar o que pior nos faz. No ano anterior, 2009, graças a Ricardo Araújo Pereira & Cia, é certo, mas, particularmente, às eleições e aos políticos que tínhamos (e ainda temos), ganhou 'esmiuçar', "vocábulo utilizado quando se pretende examinar algo minuciosamente, reduzir a fragmentos, a pó, a esmigalhar ou a esfarelar", segundo o dicionário. Em 25 minutos, na TV, com 'Gato Fedorento esmiuça os sufrágios', este país de poetas passou a saber o valor da palavra referida. Passada a vontade de esmiuçá-los e de esmiuçarmo-nos, e pontapeados pela semântica da economia, elegemos 'austeridade' para 2011. Bateu 'esperança' e até 'troika' e nem a certeza de que já estão a vir 'charters' vingou. Austeridade é "a qualidade de quem é austero"; é "severidade e rigor"; "cuidado escrupuloso em não se deixar dominar pelo que agrada aos sentidos ou deleita a concupiscência". E está tudo dito. Fernanda Cachão * Editora de CORREIO DOMINGO txt2/textos_dos_jornais_portugueses-Correio-10_janeiro-Entrevista.10jan.doc.txt Sandra Cóias confessa não ser mulher de fazer planos para o futuro. A actriz, que diz preferir fazer séries ou cinema, está a aproveitar o fim das gravações de 'Pai à Força' (RTP 1) para participar em castings "Ritmo das novelas não me agrada" – Que projectos tem em mãos neste momento? – Fui a um casting para televisão mas não posso falar sobre o assunto. -

Publicação De Pauta Judicial 9/2021 - Sessão Virtual
PUBLICAÇÃO DE PAUTA JUDICIAL 9/2021 - SESSÃO VIRTUAL Início: 26/05/2021 Término: 02/06/2021 Sustentação oral por videoconferência: 02/06/2021 Serão julgados pela 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça em sua 9ª sessão judicial virtual, os processos abaixo relacionados, POR VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos da Resolução nº. 13, de 22 de junho de 2020– PRESIDENCIA/ASPRE, com início no dia 26 de maio de 2021 às 14:00h e término no dia 02 de junho de 2021 às 18:00h, podendo, entretanto, nessa sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados, retirados de julgamento com vista, ou constantes de pautas já publicadas. Será admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência em 02/06/2021 a partir das 14:00h. Ficam os senhores: Procurador de Justiça representante do Ministério Público nesta sessão e os respectivos advogados e partes intimados da presente sessão virtual, para peticionarem nos respectivos autos, em até 24 horas antes do início da sessão, o número do telefone com Whatsapp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão. O interessado poderá optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital e enviá-la à secretaria da câmara, aos advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O prazo de sustentação oral virtual, na plataforma eletrônica ou gravada em mídia, será de oito minutos, podendo ser ampliada até quinze minutos nos casos de maior complexidade, a critério do relator, desde que requerido pelo interessado no prazo de até 24 horas antes do início da sessão. -

Administração - Bacharelado - Matutino
Ministério da Educação FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Secretaria de Tecnologia da Informação SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU 2021 - UFMT Lista de Espera Campus Cuiabá ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO - MATUTINO Candidato Tipo Vaga Nota SABRINA CRISTINA VIEIRA ALENCAR A0 621.3 CRISTTYAN GABRYEL SANTOS MENDES A0 621.06 JULIA DE ARRUDA FERREIRA A0 620.66 LUIZ EDUARDO LEMES CRUZ A0 618.02 MARCOS VINICIUS BUENO DE OLIVEIRA ARRUDA A0 614.26 RAIRA DE OLIVEIRA REZENDE A0 612.98 GABRIELA ZANETTI AYRES MARTINS A0 610.58 ERIVELTON ALVES CAMPOS A0 609.66 EDUARDA CAROLINE BARBOSA DE ARAGAO A0 604.72 DANIELY NAVARRO FERREIRA A0 604.2 LETICIA MORAES DOS SANTOS A0 602.8 LUIZ FRANCISCO MARQUES LANDIM A0 599.78 JEFFERSON KHRISHYNA NESNIK JERONYMO CRUZ A0 594.8 LUIZ AUGUSTO GONCALVES SIQUEIRA A0 592.74 KAROLYNE APARECIDA DA SILVA A0 592.42 BRUNO EMMANUEL BILINSKI NARDEZ A0 592.02 VITOR VENICIUS FERREIRA CRUZ A0 585.96 ERIKA APARECIDA DE AMORIM A0 584.34 MARIA CLARA DE BARROS QUEIROZ A0 582.8 MARIA EDUARDA ESTERIS SANTOS A0 582.62 FELIPE ALMEIDA SOUZA A0 582.46 ANDRE LUIS REIS RIBEIRO A0 581.02 DAVI PAULINO ROCHA RODRIGUES DIAS A0 572.9 FELIPE DIAS BELLO FREIRE A0 572.78 GUSTAVO DINIZ MONTEIRO A0 572.62 JENIFFER SILVA ARRUDA A0 571.64 EDUARDA VERSALI DA SILVA A0 570.52 THAYNARA DANIEL ARRAIS SILVA A0 568.68 AUGUSTO FREITAS BRENNER A0 565.66 VICTORIA LUIZA SZIMAINSKI A0 565.16 VINICIUS BASTOS FRAGA A0 560.42 ANNA BEATRIZ DE JESUS A0 556.42 NICOLLE RODRIGUES FERREIRA LEITE A0 550.7 JOAO VICTOR MARQUES BRANDAO A0 550.32 MARIA EDUARDA SEMLER A0 -

CARLOS CARVALHAL CARLOS CARVALHAL BRUNO LAGE • JOÃO MÁRIO OLIVEIRA Possui a Quali Cação UEFA - PRO Licence Atribuida Pela FPF (4Th Grade PRO Coaching Award)
CARLOS CARVALHAL CARLOS CARVALHAL BRUNO LAGE • JOÃO MÁRIO OLIVEIRA Possui a qualicação UEFA - PRO Licence atribuida pela FPF (4th grade PRO Coaching Award). Preletor em vários cursos UEFA - PRO decorridos em Portugal. Treinador de futebol em diversas equipas em Portugal, Grécia e Turquia, entre outras, Sporting Clube de Portugal, Sporting Clube de Braga, Asteras Tripolis, Besiktas. Em Portugal foi vencedor da 1ª edição da Taça da Liga (Vitória de Setúbal) e nalista da Taça de Portugal e Supertaça (Leixões, então na 3ª divisão). Apurou diversas equipas e disputou vários jogos nas competições da UEFA. Galardoado com os prémios “José Maria Pedroto”, em 2008; “Cândido de Oliveira”, em 2007; e “Fernando Vaz”, em 2004, pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Licenciado em Ciências do Desporto e de Educação Física com especialização em Alto Rendimento - Futebol. Autor do livro “Recuperação... é muito mais do que recuperar”. BRUNO LAGE FILOSOFIA • MODELO DE JOGO • EXERCÍCIOS ESPECÍFICOS • MORFOCICLO DO BESIKTAS Licenciado em Educação Física, Saúde e Desporto, com especialização em Futebol, iniciou a carreira como treinador adjunto nas camadas jovens do Vitória de Setúbal em 1997/98. Treinou o UF Comércio e Indústria (1ª Divisão Distrital) como treinador principal, e como adjunto nos AD Fazendense (3ª Divisão), Est. Vendas Novas (3ª Divisão e 2ª Divisão B) e SU Sintrense (3ª Divisão). Paralelamente colaborou na Escolinha de Futebol Quinito, tendo desempenhado as funções de treinador e coordenador técnico. Em 2004/05 ingressou nas camadas jovens do Sport Lisboa e Benca, onde treinou os escalões de Escolas, Iniciados, Juvenis e Juniores tendo conquistado dois campeonatos nacionais e dois distritais. -

Geral Faixa Etária Masculino 10KM
50ª CORRIDA DE REIS - 25/01/2020 Relatório por Faixas Etárias (Corrida 10KM) 10K - FAIXA ETARIA - MASCULINO - Classificação por TEMPO LÍQUIDO M0015 Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe 1 17953 JOAO RICARDO XAVIER DA CRUZ XAVIER M 0 00:46:26 00:46:15 Lorã 2 17970 PAULO FERNANDO M 0 00:53:46 00:49:06 3 17954 WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA PEREIRA M 0 00:51:47 00:51:00 Pai E Filho 4 17905 JÚLIO MACHADO M 15 00:54:15 00:51:41 5 17902 FELIPE CAVALCANTE MOTA M 15 00:58:19 00:55:36 6 17907 ENZO GABRIEL SUPERTI M 14 01:02:32 01:00:00 Equipe Apabb 7 17971 PAULO CÉSAR MACHADO SILVEIRA M 0 01:05:31 01:01:00 8 17952 JOAZ ALVES BARBOSA M 0 01:07:40 01:06:59 Jhoy 9 17950 MANOEL MALHEIRO ROSARIO M 0 01:14:03 01:13:51 Crg Runner 10 17925 ALINE DA SILVA BORGES M 13 01:19:04 01:16:19 M1619 Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe 1 17893 NICOLAS AUGUSTO L PEREIRA M 16 00:35:03 00:35:03 2 17827 RUBENS CLEITON BARBOSA FILHO M 17 00:41:13 00:41:05 Top Run Ases do Asfalto 3 17796 GUILHERME CARDOSO BARBOSA M 18 00:42:22 00:42:05 4 17734 CRISTHIAN ROBERT CALDEIRA DA SILVA M 19 00:45:05 00:44:41 5 17779 RODRIGO JUAN M 18 00:45:46 00:45:17 Quero-quero 6 17870 ANDRÉ PEREIRA M 16 00:46:32 00:46:24 7 17769 ALEX VINICIUS ALVES DA SILVA M 18 00:47:39 00:47:21 Amigos do Portela 8 17725 RICARDO CÉSAR COSTA LEÃO M 19 00:48:38 00:48:10 Quero-quero 9 18047 CLEIDSON FERREIRA GHEDES M 19 00:48:36 00:48:29 10 17764 VICTOR SILVA PESSOA M 19 00:49:20 00:49:10 11 17756 PEDRO MELO M 19 00:50:35 00:50:33 12 17757 RIZONALDO SILVA SOUZA M 19 00:51:39 00:51:23 13 -

A “Intervenção Específica” Como Aspecto Fundamental Na Interacção Treinador – Exercício – Jogador
UNIVERSIDADE DO PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO E DE EDUCAÇÃO FÍSICA A “INTERVENÇÃO ESPECÍFICA” COMO ASPECTO FUNDAMENTAL NA INTERACÇÃO TREINADOR – EXERCÍCIO – JOGADOR UM ESTUDO DE CASO COM NELO VINGADA RICARDO MANUEL PIRES FERRAZ Porto, Dezembro de 2005 UNIVERSIDADE DO PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO E DE EDUCAÇÃO FÍSICA A “INTERVENÇÃO ESPECÍFICA” COMO ASPECTO FUNDAMENTAL NA INTERACÇÃO TREINADOR – EXERCÍCIO – JOGADOR UM ESTUDO DE CASO COM NELO VINGADA Trabalho monográfico realizado no âmbito da Disciplina de Seminário, Opção de Futebol, ministrada no 5ºano da Licenciatura em De sporto e Educação Física da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. Trabalho realizado por: Ricardo Manuel Pires Ferraz Trabalho orientado por: Prof. José Guilherme Oliveira Porto, Dezembro de 2005 DEDICATÓRIA Aos meus Pais, ao meu Irmão e à minha Avó Maria do Carmo. Pelo orgulho que sentem . Por tudo aquilo que eu sou. Por tudo… Agradecimentos ________________________________________________________________________________ AGRADECIMENTOS Com a realização de um trabalho monográfico é importante a contribuição de algumas pessoas. Por outro lado, a ele está inerente o final de um percurso de alguns anos e também a continuação da caminhada. Neste sentido, será pertinente referenciar e agradecer àqueles que de determinada forma nos deixaram a sua marca, e aos que connosco contribuíram de uma forma mais acesa para que esta hora fosse possível. - Agradeço ao Prof. Guilherme Oliveira. Foi nosso professor em todos os anos do curso com grande competência e revelando elevado grau de conhecimento. Foi primordial para o no nosso “aprender e “despertar” relativamente à forma de olhar o treino e o jogo. -

Rendas De Jogo Dt Hora Do Jogo, O Camjw Ficou Vazio, a Grama Iluminada Artificial, E Nada Do América, E Nada Do Vos- Football Escolhem Números Redondos
^^Bflf tftf^^k ¦ rrip%^B ¦'¦ 1'útfina 2 Sexta-feira, 29 de agosto de 1947 O ti LOBO SPORTIVO R E N D A S Fraco foi o movimento do bilheterias em S. Pau- Io na rodada que passou. Sem ter um jogo de maior relevo u rodada ofereceu unia arrecadação total de apenas Cr$ 103.830,10, is-so mesmo porque o Pstlt.iei- ras no sábado arrostou .. Cr$ 62.648,80 de lorcedo- res, Os outros três jogos não chegaram, cadu um àwSm* ?®a_¦*ÃuSÊram.JBam ãaaamMmÂrnSEÍMmÊf&BJaam, __»fll,_/*_r deles, â cifra de 20 mil- Cruzeiros. A ronda geral giíi^jp, * Mar*i&M. flt -»twkW^^^^ VM c .V *. »_>_>JP^^í»B»j»5»J»^^^H »^^^^^ ¦!B_n_»l^'^H »V^ aami ma^r^ \\aamÊkr^ amLiaw^^Waa\__>jr do certame passou assim a .ser de Cr$ 4.560.483,40. A renda maior continua u ser a cio Jogo Corintians u Palmeiras, com Ot$ 082.533.00 e u menor r, do prelio Comercial y. nfPFfiMÂTÍi Nacional oom 3r$ 8 045,00. PAULISTA Com os resultados da última rodada ficou sendo esta a situação 9 do campeonato paulista : l." PALMEIRAS — 8 jogos c 8 vitoria» — 16 pontoc ganhos e 0 per- dido24 goals pxó e 5 contra. Saldo : 19 ; PASTA 9\ 2." CORINTIANS — 8 jogos — 6 vitorias — 1 empate e 1 derrota — P|NTÍF}MClA 13 pontos ganhos e 3 perdidos — 27 goals pró e 9 contra. Saldo: 18; rui* (?>ipc.i To.fsej 3." PORTUGUESA DE DESPORTOS — S jogor. — S vitorias — 2 «m- pales e 2 derrotas — 12 pontos ganhos c 6 perdidos — 23 goals pró e 17 contra.