Thales Henrique Nunes Pimenta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Informe De Acompanhamento Do Mercado
INFORME DE ACOMPANHAMENTO DO MERCADO TV Paga Monitoramento de Programação em 2012 Elaboração Técnica: Thiago Carvalho Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Roberto Walter Ferreira Júnior Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Coordenação de Mídias Eletrônicas – CMI Superintendência de Acompanhamento de Mercado – SAM A ANCINE – Agência Nacional do Cinema é uma agência Superintendente de Acompanhamento de Mercado reguladora que tem como atribuições o fomento, a Alex Patez Galvão regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial, vinculada Coordenador de Mídias Eletrônicas desde 2003 ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Roberto Perez Distrito Federal e Escritório Central no Rio de Janeiro. A missão institucional da ANCINE é induzir condições Elaboração Técnica isonômicas de competição nas relações dos agentes Thiago Carvalho econômicos da atividade cinematográfica e videofonográfica Roberto Walter Ferreira Júnior no Brasil, proporcionando o desenvolvimento de uma indústria competitiva e auto-sustentada. Colaboraram para a elaboração desse informe: Diretoria Colegiada João Carlos Santiago Filho Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Manoel Rangel - Diretor-Presidente Audiovisual Rosana Alcântara Vera Zaverucha Taianny Rodrigues Oliveira Técnica em Regulação da Atividade Cinematográfica e http://www.ancine.gov.br/ Audiovisual Beatriz Araújo dos Santos Costa Estagiária Diogo Cruz Pinto Estagiário Fontes: Sistema ANCINE Digital (SAD), ANATEL, IBGE, Converge Comunicações, Teleco e grades de programação publicadas nos sítios das emissoras, em sítios especializados e em jornais de grande circulação nacional. Publicado no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA em 27/06/2013. Revisado em 15/07/2013 com alterações nas tabelas 2 e 3 e figuras 7 e 9. -

Canal Institucional *Hq Co | Canal Trece *Hd Co
CO | CABLE NOTICIAS *HD CL | CANAL 13 *FHD | Directo AR | AMERICA TV *HD | op2 AR | SENADO *HD CO | CANAL CAPITAL *HD CL | CANAL 13 CABLE *HD AR | C5N *HD AR | TELEFE *FHD CO | CANAL INSTITUCIONAL *HQ CL | CANAL 13 AR | C5N *HD | op2 AR | TELEFE *HD CO | CANAL TRECE *HD INTERNACIONACIONAL *HD AR | CANAL 21 *HD AR | TELEFE *HD CO | CANAL UNO *HD CL | CHV *HQ AR | CANAL 26 *HD AR | TELEMAX *HD CO | CANTINAZO *HD CL | CHV *HD AR | CANAL 26 NOTICIAS *HD AR | TELESUR *HD CO | CARACOL *HQ CL | CHV *FHD AR | CANAL 26 NOTICIAS *HD AR | TN *HD CO | CARACOL *HD CL | CHV *FHD | Directo AR | CANAL DE LA CIUDAD *HD AR | TV PUBLICA *FHD CO | CARACOL *FHD CL | LA RED *HQ AR | CANAL DE LA MUSICA AR | TV PUBLICA *HD CO | CARACOL 2 *FHD CL | LA RED *HD *HD AR | CINE AR *HD AR | AR | TV PUBLICA *HD | op2 CO | CARACOL INTERNACIONAL *HD CL | LA RED *FHD CINE AR *HD AR | TV5 *HD CO | CITY TV *HD CL | LA RED *FHD | Directo AR | CIUDAD MAGAZINE *HD AR | TVE *HD CO | COSMOVISION *HD CL | MEGA *HQ AR | CN23 *HD AR | VOLVER *HD CO | EL TIEMPO *HD CL | MEGA *HD AR | CN23 *HD AR | TELEFE INTERNACIONAL CO | LA KALLE *HD CL | MEGA *FHD AR | CONEXION *HD *HD A&E *FHD CO | NTN24 *HD CL | MEGA *HD | Op2 AR | CONSTRUIR *HD A3 SERIES *FHD CO | RCN *HQ CL | MEGA *FHD | Directo AR | CRONICA *HD AMC *FHD CO | RCN *HD CL | MEGA PLUS *FHD AR | CRONICA *HD ANTENA 3 *FHD CO | RCN *FHD CL | TVN *HQ AR | DEPORTV *HD AXN *FHD CO | RCN 2 *FHD CL | TVN *HD AR | EL NUEVE *HD CINECANAL *FHD CO | RCN NOVELAS *HD CL | TVN *FHD AR | EL NUEVE *FHD CINEMAX *FHD CO | RCN INTERNACIONAL CL | -

5 Questões Metodológicas
73 5 QUESTÕES METODOLÓGICAS 5.1 Métodos, Técnicas e Desenvolvimento da Pesquisa Os métodos e técnicas selecionados para o desenvolvimento da pesquisa tinham como objetivos avaliar a percepção dos consumidores de vídeos na Internet em relação aos serviços utilizados pelos mesmos que contem sistemas de recomendação, além de identificar hábitos, colher opiniões e descobrir informações relevantes sobre estes usuários. As técnicas escolhidas foram questionários online, grupos de foco e estudos de caso. A função do questionário online foi coletar informações quantitativas sobre os usuários e identificar heavy users1 interessados em participar da etapa seguinte da pesquisa. Já o grupo de foco tinha como objetivo coletar comentários qualitativos da percepção dos usuários em relação ao uso dos sistemas de recomendação, identificando sentimentos, dificuldades e qualidades, entre outros atributos. A função dos estudos de caso foi analisar populares serviços digitais e identificar características e padrões dos mesmos. Este capítulo tratará inicialmente das técnicas utilizadas para a definição dos participantes da pesquisa e para a definição das categorias utilizadas nos estudos de caso resultantes da análise do grupo de foco e, em seguida, da seleção dos casos e seus respectivos estudos. 5.2. Questionário Questionário é uma técnica de pesquisa que consiste em apresentar questões por escrito às pessoas com o objetivo de obter informações sobre determinado assunto. As questões são respondidas sem a presença do pesquisador e, sendo assim, dúvidas não podem ser sanadas durante o processo. Tal técnica possui 1 Usuários assíduos de determinado tipo de serviço. 74 caráter quantitativo já que todos os respondentes preenchem exatamente as mesmas questões igualando a coleta de dados. -
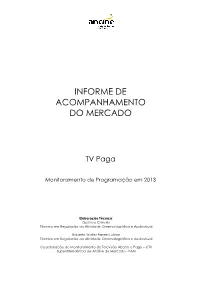
Informe De Acompanhamento Do Mercado
INFORME DE ACOMPANHAMENTO DO MERCADO TV Paga Monitoramento de Programação em 2013 Elaboração Técnica: Gustavo Chinalia Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Roberto Walter Ferreira Júnior Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Coordenação de Monitoramento de Televisão Aberta e Paga – CTV Superintendência de Análise de Mercado - SAM A ANCINE – Agência Nacional do Cinema é uma Superintendente de Análise de Mercado agência reguladora que tem como atribuições o Alex Patez Galvão fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É Coordenação de Monitoramento de uma autarquia especial, vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Televisão Aberta e Paga Federal e Escritório Central no Rio de Janeiro. Thiago Carvalho Elaboração Técnica A missão institucional da ANCINE é induzir condições isonômicas de competição nas Gustavo Chinalia relações dos agentes econômicos da atividade Roberto Walter Ferreira Júnior cinematográfica e videofonográfica no Brasil, proporcionando o desenvolvimento de uma Colaboraram para a elaboração deste indústria competitiva e auto-sustentada. Informe: João Carlos Santiago Filho -Técnico em Diretoria Colegiada Regulação da Atividade Cinematográfica e Manoel Rangel - Diretor-Presidente Audiovisual Roberto Gonçalves de Lima Sílvia Helena Filippo - Técnica em Regulação Rosana Alcântara da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Vera Zaverucha Taianny Rodrigues Oliveira - Técnica em http://www.ancine.gov.br/ Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Maria Lucia Z. Pereira Carnaval - Estagiária Mariana Cardinot Sena da Silva - Estagiária Fontes Sistema ANCINE Digital (SAD), ANATEL, IBJE, Converge Comunicações, Teleco e grades de programação publicadas nos sítios das programadoras, e revistas especializadas. O Informe de Acompanhamento de Mercado de TV Paga é uma publicação da Superintendência de Acompanhamento de Mercado com periodicidade Anual. -

Empresas Parceiras – Santa Mônica Centro Educacional – 2019
EMPRESAS PARCEIRAS – SANTA MÔNICA CENTRO EDUCACIONAL – 2019 1- ABATERJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2- ABM - ASSOCIAÇÃO DE CONDOMINIOS RESIDENSIAIS BOSQUE MARAPENDI: EDIFÍCIOS: ALOHA/ BARRA D'ORO/ BARRA GOLDEN/ BARRA INN/ BARRA MARINA/ BARRA SOL/ COSTABELLA/ COSTA BLANCA/ ESTRELA DO MAR/ ITAPOÃ / JATIÚCA/ JARDIM SAINT TROPEZ/ LAKE BUENA VISTA/ LYON/ MARBELLA/ PALACE BARRAVAÍ/ PORTAL DA BARRA/ PORTO SEGURO/ ROYAL BARRAVAÍ/ SAINT GEORGE/ SAINT GERMAIN/ SANTORINI/ SOL DE MARAPENDI/ SUNSET/ VIA BARRA/ VIA CANCUN/ VILLA DI GÊNOVA (PARA MATRÍCULA É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA DA ABM JUNTO DA BOLETA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO MÊS ATUAL) 3- ABRIGO DO MARINHEIRO 4- ACIJA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JACAREPAGUÁ 5- ADEDI – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE ARTLATEX AMALU CONSTRUTORA METROPOLITANA CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO CRAFT ENGENHARIA ALFAPARF DENGE ENGENHARIA FLOWSERVE BRASIL POLMX CONCRETO QUAKER CHEMICAL REFRIGERANTE CONVENÇÃO GUARACAMP SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS SUPERMIX. 6- AEESOLOS - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA SOLOS 7- AENFER – ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS FERROVIÁRIOS 8- AESCEM - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SOCIAL E CULTURAL DOS EMPREGADOS DA MICHELIN 9- AFSEBRAE – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE – RIO DE JANEIRO 10- AFPB – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO BRASIL 11- ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 12- ANASPS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL 13- ANSEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL -

Promaxbda Latin America Awards 2017 Winners
PromaxBDA Latin America Awards 2017 Winners GENERAL BRANDING/IMAGE PROGRAM PROMOTIONAL GOLD SPOT – IN-HOUSE POWERED BY RESPECT GOLD GLOBO TV THE WALKING DEAD GRAVE FOX NETWORKS GROUP LATIN AMERICA SILVER TELEWOOD SILVER REDE TELECINE UNIVERSAL CHANNEL GRIMM TEASER NBC UNIVERSAL INTERNATIONAL GENERAL BRANDING/ NETWORKS LATAM IMAGE CAMPAIGN PROGRAM PROMOTIONAL GOLD CAMPANHA NOSSO FUTEBOL CAMPAIGN – IN- HOUSE GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA GOLD COPA DAVIS “DAR LA VUELTA” SILVER TYC SPORTS GO TO THE MOVIES REDE TELECINE SILVER SOUTH PARK 20 TEASERS VIMN THE AMERICAS COMEDY CENTRAL HOLIDAY/SEASONAL/ LATIN AMERICA SPECIAL EVENT SPOT GOLD PUBLIC SERVICE UNIVERSAL CHANNEL GREETINGS NBC UNIVERSAL INTERNATIONAL ANNOUNCEMENT NETWORKS LATAM GOLD LOVE YOURSELF (ÁMATE) SILVER RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES CANAL SONY: CARNAVAL SONY / AGUASCALIENTES GOVERNMENT SONY PICTURES TELEVISION NETWORKS - LATIN AMERICA SILVER POWERED BY RESPECT HOLIDAY/SEASONAL/ GLOBO TV SPECIAL EVENT CAMPAIGN SPORT PROMOTION GOLD KINETICS NAVIDAD GOLD H2 LATIN AMERICA NBA FINALES ¿QUÉ VES? BONSAI3 SILVER NBA FINALS ON ESPN SILVER ESPN CANAL SONY - WTA ROAR SONY PICTURES TELEVISION NETWORKS LATIN AMERICA PromaxBDA Latin America Awards 2017 Winners NEWS/CURRENT CHILDREN’S PROMOTION EVENT PROMOTION GOLD GOLD DISNEY XD - ONCE EPIC TEASER HORA NEWS THE WALT DISNEY COMPANY RECORD TV SILVER SILVER DISNEY JUNIOR - PRINCESS STUNT RETROSPECTIVE 2016 SUNDAYS PROMOGLOBO THE WALT DISNEY COMPANY REALITY PROMOTION COMEDY SHOW PROGRAM PROMOTION GOLD CANAL SONY: SHARK TANK BRASIL - GOLD LAUNCH -

Producers Guide 2017
VENTANA SUR PRODUCERS GUIDE 2017 Con el apoyo de / with the support of • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ARGENTINA 100 BARES PRODUCCIONES PROD J.G. Lemos 160 - 1425 BUENOS AIRES & Producers 54 11 4856 0111 - [email protected] - www.100bares.com t • Muriel CABEZA, Production - [email protected] - Cell. in Buenos Aires: 54 911 5561 2584 16M.FILMS PROD Productores Av. Independencia 3544 depto “F” - 1226 BUENOS AIRES & 54 11 4931 6985 - [email protected] - www.16mfilms.com.ar • Victor CRUZ, Producer - Cell. in Buenos Aires: 54 911 6014 2775 (KENTANNOS Victor CRUZ, 2015, Documentary, Argentina) ACTITUD CINE PROD/SERV/TRNG Sucre 1463-F - C1428DUQ BUENOS AIRES & 54 9 11 6187 4567 - Fax: 54 11 49777962 - [email protected] - www.actitudcine.com • Marina ZEISING, Producer-Director - Cell. in Buenos Aires: 54 911 6187 4567 AEROPLANO S.A. PROD/SERV/DIS Avenida Doorego 1940, Torre C 2B - 1414 BUENOS AIRES & 54 11 39156774 - [email protected] - www.aeroplanocine.com • Matias TAMBORENEA, Executive Producer - [email protected] - Cell. in Buenos Aires: 54 11 55034160 AH! CINE PROD/TRNG Ibera 4865, 3E, CABA - 1431 BUENOS AIRES & 54 11 4547 2269 - [email protected] • Carolina ALVAREZ, Production - Cell. in Buenos Aires: 54 911 3875 0146 (ANDRÉS NO QUIERE DORMIR LA SIESTA Daniel BUSTAMANTE, 1-3 M$, 2009, Drama, Argentina - TIEMPOS MENOS MODERNOS Simón FRANCO, 0.3-0.6 M$, 2011, First film, Argentina) n Projects > BAD MUM (MALAMADRE) - in Prod - Argentina, Uruguay - Transmedia, Documentary, First film - 80 min - 0-0.3 M$ - Spanish - Argentina, Uruguay - 2017 - Director: Amparo GONZALEZ AGUILAR - Writer: Agostina BRYK - Producer: Lucia GAVIGLIO SALKIND (U.films), Virginia HINZE (U.films) Being a mother is not the only mandate, you also have to be a good one. -

MTV: Reposicionamento De Um Canal De Tevê Segmentado
Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado Eduardo Dias Loureiro Rio de Janeiro 2007 Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado Monografia apresentada ao corpo docente da Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos para a obtenção do diploma de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Eduardo Dias Loureiro Orientador: Prof. Marcelo H. N. Serpa, M. Sc. Rio de Janeiro 2007 Loureiro, Eduardo Dias. MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado, Rio de Janeiro:ECO/UFRJ, 2007. 61 f.: il. Monografia (Graduação em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação. Orientador: Marcelo Helvecio Navarro Serpa 1. MTV. 2. Reposicionamento. 3. Marca. – Monografias. I. Serpa, Marcelo Helvecio Navarro (Orient.). II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Comunicação. III. Monografia ECO. IV. Título. Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado Monografia apresentada ao corpo docente da Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos para a obtenção do diploma de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Eduardo Dias Loureiro ________________________________________ Prof. Marcelo Serpa ________________________________________ Prof. Luiz Sólon ________________________________________ Prof. Paulo César Castro Rio de Janeiro, de dezembro de 2007 Nota: LOUREIRO, Eduardo Dias, MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado. -

A Convergencia Dos Videos Musicias Na Web Social.Pdf
Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte 2014 JOÃO PEDRO A CONVERGÊNCIA DOS VÍDEOS MUSICAIS NA DA COSTA WEB SOCIAL: CONCEPTUALIZAÇÃO E ANÁLISE Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte 2014 JOÃO PEDRO A CONVERGÊNCIA DOS VÍDEOS MUSICAIS NA WEB DA COSTA SOCIAL: CONCEPTUALIZAÇÃO E ANÁLISE Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, realizada sob a orientação científica do Prof. Doutor Rui Manuel de Assunção Raposo, Professor Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e da Prof.ª Doutora Rosa Maria Martelo, Professora Associada com Agregação do Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O projecto de investigação foi financiado por uma bolsa de doutoramento atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (ref. SFRH/BD/68728/2010). o júri presidente Prof.ª Doutora Celeste de Oliveira Alves Coelho professor catedrática da Universidade de Aveiro Prof. Doutor Luís Borges Gouveia professor associado com agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Fernando Pessoa Prof.ª Doutora Rosa Maria Martelo (co-orientadora) professora associada com agregação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto Prof. Doutor Armando Malheiro da Silva professor associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto Prof. Doutor José Manuel Pereira Azevedo professor associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto Prof. Doutor Nelson Troca Zagalo professor auxiliar da Universidade do Minho Prof. Doutor Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro professor auxiliar da Universidade de Aveiro Prof. -

Media Company Leverages Cloud-Based Technologies to Drive Collaboration and Innovation
Media company leverages cloud-based technologies to drive collaboration and innovation Microsoft Services Premier Support Customer: Globosat “Knowing that our systems and our programs and Website: canaisglobosat.globo.com Customer Size: 1,800 employees platform are being supported by someone who really Country or Region: Brazil, South America knows what they are doing—that provides safety. Industry: Media Someone who really has the knowledge and expertise Customer Profile Globosat is a multichannel cable and to help us. It helps us sleep at night.” satellite TV service in Brazil, created in 1991. Geraldo Pimenta, IT Manager, Globosat Today, with approximately 40 channels and over 1,000 employees, Globosat leads the Brazilian pay-TV market. Founded in 1991, Globosat is a Brazilian company that produces Software and Services content for cable and satellite TV with over 40 channels, ■ Microsoft Office 365 including Sportv1 and 2, Rede Telecine, Multishow, GNT, Canal ■ Lync Online ■ SQL Server Brasil and Universal. With over 1,000 employees and an ■ Exchange Online audience comprised of 45 million viewers distributed among ■ SharePoint On-premise ■ System Center more than 15 million households in the country, Globosat is the ■ Windows Azure largest pay-TV provider in Latin America, and the market leader ■ Dynamics CRM ■ Project Server in Brazil. ■ Visual Studio Business Needs resolve the problems before they caused Microsoft Services Globosat had recently encountered any critical disruptions that would have a Microsoft Services is a global team of challenges related to their mail server that more serious impact in a different scenario.” professionals who are dedicated to stimulated their search for a new solution. -

Cinema Digital: a Recepção Nas Salas
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Comunicações e Artes THIAGO AFONSO DE ANDRÉ Cinema digital: a recepção nas salas São Paulo 2017 1 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Comunicações e Artes Programa de Pós-Graduação em Meios E Processos Audiovisuais THIAGO AFONSO DE ANDRÉ Cinema digital: a recepção nas salas Versão corrigida (versão original encontra-se na unidade que aloja o programa de pós-graduação) Tese apresentada à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Meios e Processos Audiovisuais. Área de concentração: Cinema Digital Orientador: Prof. Dr. Almir Antonio Rosa São Paulo 2017 2 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo 3 FOLHA DE APROVAÇÃO Nome; : Thiago Afonso de André Título Cinema digital: a recepção nas salas Tese apresentada à Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Meios e Processos Audiovisuais. Área de concentração: Cinema Digital Orientador: Prof. Dr. Almir Antonio Rosa Aprovado em: BANCA EXAMINADORA Prof.(a) Dr. (a) ___________________________________________________ Instituição: _________________________ Assinatura: ________________ Prof.(a) Dr. (a) ___________________________________________________ Instituição: -

Faculdade De Arquitetura, Artes E Comunicação Programa De Pós-Graduação Em Televisão Digital: Informação E Conhecimento
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TELEVISÃO DIGITAL: INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO PAULO ARAUJO DOS SANTOS SOCIAL TV: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO BAURU 2013 FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TELEVISÃO DIGITAL: INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO PAULO ARAUJO DOS SANTOS SOCIAL TV: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Televisão Digital: Informação e Conhecimento, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”, para obtenção de Título de mestre em Televisão Digital, desenvolvida sob a orientação do Prof. Dr. Marcos Américo. BAURU 2013 Santos, Paulo Araujo. Social TV: Um Estudo Exploratório sobre a Experiência do Usuário / Paulo Araujo dos Santos, 2013 84 f. Orientador: Marcos Américo Dissertação (Mestrado)–Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Bauru, 2013 1. Televisão Digital. 2. Televisão Social. 3. Televisão Everywhwre. 4. Smart TV. 5. Sócio TV. I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. II. Título. Dedico a minha esposa, por ter permanecido ao meu lado, me incentivando a percorrer este caminho, por compartilhar angústias e dúvidas estendendo sua mão amiga em momentos difíceis. Agradecimentos Ao ser supremo, pela vida e a possibilidade de empreender esse caminho evolutivo, por propiciar tantas oportunidades de estudos e por colocar em meu caminho pessoas amigas e preciosas. A minha esposa e incondicional companheira e ao meu filho Pedro. Aos meus pais pela criação e incentivo. Aos amigos de mestrado que compartilharam comigo esses momentos de aprendizado. Ao meu orientador, Prof.