Corredores Mineiro-Energéticos 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das Wirtschaftliche Engagement Der Volksrepublik China Im Portugiesischsprachigen Afrika Am Beispiel Angolas Und Mosambiks
Christiane Tholen Das wirtschaftliche Engagement der Volksrepublik China im portugiesischsprachigen Afrika am Beispiel Angolas und Mosambiks OSTASIEN Verlag Deutsche Ostasienstudien 17 Christiane Tholen Das wirtschaftliche Engagement der Volksrepublik China im portugiesischsprachigen Afrika am Beispiel Angolas und Mosambiks Deutsche Ostasienstudien 17 OSTASIEN Verlag Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISSN 1868-3665 ISBN 978-3-940527-76-9 © 2013. OSTASIEN Verlag, Gossenberg (www.ostasien-verlag.de) 1. Auflage. Alle Rechte vorbehalten Redaktion, Satz und Umschlaggestaltung: Martin Hanke und Dorothee Schaab-Hanke Druck und Bindung: Rosch-Buch Druckerei GmbH, Scheßlitz Printed in Germa Inhalt Danksagung Vobemerkung Abstract 1 Einleitung 1 1.1 Chinesisch-Afrikanische Beziehungen im Fokus der Weltöffentlichkeit 1 1.2 Forschungsstand und Methodik 2 2 Schwarzer Kontinent und gelbe Gefahr 5 2.1 China und Afrika: 1949–1978 5 2.2 China und Afrika: 1978 bis heute 7 2.2.1 Politik 8 2.2.2 Wirtschaft 11 2.3 Neokolonialismus oder Süd-Süd-Kooperation? 15 2.3.1 Afrika 15 2.3.2 China 17 2.3.3 Der Westen und andere 19 2.4 Vorläufiges Ergebnis 25 3 China 27 3.1 1978 bis 1984 27 3.2 1984 bis 1989 28 3.3 1989: Der Tiananmen-Vorfall und seine Konsequenzen 30 3.4 1993 bis heute 31 3.5 Strukturelle Probleme 35 3.6 Themenrelevante Einzelaspekte 40 -
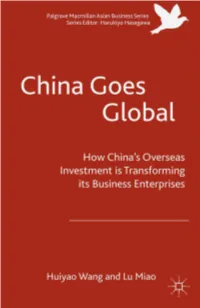
China Goes Global
“Chinese business enterprises are ‘going global,’ greatly expanding the scope of their overseas investment activities in recent years. Wang and Miao insightfully review this key new development in the world economy, drawing upon broad surveys and extensive data to provide a rigorous and broad picture of Chinese business enterprise globalization. These qualities make China Goes Global a book of great practical and theoretical significance.” – Long Yongtu, Chief Negotiator, China’s Entry to WTO, Former Vice Minister, Ministry of Foreign Economic Cooperation and Trade, Chairman of CCG “China Goes Global is an important book. It draws attention to a new reality that many business people have either missed or underestimated in terms of impli- cations: Chinese outward investment in foreign companies recently exceeded that of foreign investment in China! This book empirically examines Chinese foreign investment that exceeds $100 billion annually. It considers the various models followed, provides examples and rankings, and acknowledges the need for Chinese investors to improve their talent acquisition ability. Another trans- formation is underway regarding China’s place in the global economy. This book helps us better understand it.” – Paul W. Beamish, Canada Research Chair in International Business, Ivey Business School, Western University, Canada “Well documented and convincingly presented, this book is a must-read for anyone interested in understanding the transformative phenomenon of China's going out strategies and their policy implications.” – Liu Hong, Chair, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University, Singapore “As China seeks to upgrade its economic growth model by globalizing its business enterprises, we need to examine carefully and sum up the experiences of inter- nationalization success stories that can serve as models to guide Chinese enter- prises trying to go global. -

ENN Ecological Holdings (600803 CH) ENN Ecol Ogical H Oldi Ngs
China Materials 4 March 2020 ENN Ecological Holdings (600803 CH) ENN Ecol ogical H oldi ngs Target price: CNY13.50 Share price (4 Mar): CNY10.31 | Up/downside: +30.9% Initiation: soon to be China’s only A-share city-gas play Dennis Ip, CFA (852) 2848 4068 Short-term rerating potential from restructuring with ENN Energy [email protected] Long-term earnings growth from LNG and city-gas development Anna Lu, CFA (852) 2848 4465 Initiating with a Buy (1) and SOTP TP of CNY13.5; 16.6x 2020E PER [email protected] Investment case: We initiate on ENN Ecological (ENNEC) with a Buy (1) Share price performance rating and 12-month SOTP TP of CNY13.5. ENNEC is engaged currently in (CNY) (%) upstream energy businesses focusing on LNG, energy engineering, coal 13.5 110 mining and coal chemicals in China. However, the company is poised to 12.3 103 generate c.70% of its earnings from ENN Energy (2688 HK, HKD88.00, 11.0 95 9.8 88 Buy [1]) from 2020E after a proposed restructuring with ENN Energy due to 8.5 80 be completed in 3Q20E, thus creating a rerating opportunity for ENNEC. Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 We believe the stock offers a good risk-reward profile for investors seeking ENN Ecolog (LHS) Relative to SHASHR Index (RHS) A-share exposure to China’s growing natural gas sector. We also include a summary of the company’s ESG initiatives on page 29. 12-month range 8.70-13.07 Market cap (USDbn) 1.82 Soon to be the only national city-gas A-share company. -

The China Analyst
SeptemberApril 20142013 І www.thebeijingaxis.com/tca China’s Continued Quest for Natural Resources China in the Developed World Features China’sFeeding Increased a Billion: PresenceChina’s Transforming in the Developed Agricultural World Sector TheChinese Growing Mining Global Firms In infuence the Year of Chineseof the Horse: Consumers a Trot, a Canter or a Gallop? China’sChinese Transformation: Super Majors: Tilting Implications the Global for GlobalOil and Supply Gas Playing Chains Field International Advisory and Procurement Research and Analytics Sales Strategy STRATEGY Activation Formulation Strategy AND Implementation MANAGEMENT CONSULTING Customised and practical strategy and management consulting solutions for companies seeking to optimise international growth and proftability Worked with more than 50 industry leaders spread across 6 continents and in over 10 diferent industries Conducted more than 80 projects in the last 5 years, of which 30 were emerging market growth strategies Conducted more than 30 China/Asia strategic engagements in the last 2 years Over 50% of engagements are with repeat clients Supported more than 10 companies in the last 2 years to set up and launch their operations in China Integrates a multicultural team www.thebeijingaxis.com The Middle Kingdom’s Growing Appetite With slower economic growth of 7.7% in 2013, the story of China’s contribution to global demand for commodities is still far from over. In March 2014, China unveiled its long-awaited plan to have approximately 60% of its more than 1.3 billion people living in urban areas by 2020 in a bid to boost economic growth and efciency. These new urbanites will demand greater quantities of disposable goods, electronics and white goods to furnish their new dwellings – ushering in a new wave of consumption. -

Statistical Overview and Analysis of Chinese Outbound Foreign Direct Investment
Appendices: Statistical Overview and Analysis of Chinese Outbound Foreign Direct Investment Comparison of Chinese Enterprises Foreign Investment Scale, 2000–2013 (in dollars) North South America Europe Asia Oceania Africa America 0–1 million 6 1 0 0 0 0 1 million–10 million 4 10 2 1 0 0 10 million–0.1 billion 24 10 12 0 1 0 0.1 billion–1 billion 122 132 318 58 210 67 1 billion–10 billion 43 33 85 16 49 28 more than 10 billion 1 0 0 1 0 0 The scale of overseas investment by Chinese enterprises from 2000 to2013 amounting to between $1 million and $1 billion were concentrated in Asia and Africa, while those amounting to between $10 million and $10 billion were concentrated in North America. Private enterprises are becoming more active in foreign investment, while the scale of such investment by state-owned enterprises remains huge Based on our analysis of foreign investment cases, we can see that state-owned enterprises figure much more prominently than do private firms with respect to overseas investments amounting to between $1 and 10 billion. However, after the 2008 financial crisis, the number of private enterprises investing abroad grew rapidly, and these firms are expected to become a new force in Chinese outbound investment. 187 188 Appendices 2000–2013 Foreign Investment Amount of State-Owned Enterprise and Private Enterprise (in dollars) state-owned enterprise private enterprise 0–1 million 5 2 1 million–10 million 4 13 10 million–0.1 billion 24 23 0.1 billion–1 billion 708 199 1 billion–10 billion 217 37 more than 10 billion 2 0 Chinese Enterprises Foreign Investment Regional Distribution during (2000–2013) Chinese enterprises have invested abroad across all the world’s six continents. -

Crystal Reports Activex Designer
報告編號: 公司註冊處電子查冊服務 日期 : REPORT ID: RPS350 COMPANIES REGISTRY ELECTRONIC SEARCH SERVICES DATE: 21-3-2011 根據《公司條例》(第32章) 成立∕註冊的新公司 頁數: Newly Incorporated / Registered Companies under the Companies Ordinance (Cap. 32) PAGE: 1 本報告涵蓋的日期(日/月/年): Period Covered (By Date)(D/M/Y): 14/03/2011 - 20/03/2011 序號 公司名稱 公司註冊編號 成立∕註冊日期(日-月-年) Sequence No. Company Name C.R. Number Date of Incorporation / Registration(D-M-Y) 1 10 MAIN ST. LIMITED 1573946 16-3-2011 2 3 Eyes Limited 1572468 14-3-2011 3 3B APPAREL LIMITED 1574515 17-3-2011 海盛服飾有限公司 4 3U INDUSTRY (HONGKONG) CO., LIMITED 1574394 17-3-2011 5 555 CANADA LIMITED 1573014 14-3-2011 555 加拿大有限公司 6 727 FILMS LIMITED 1574055 16-3-2011 7 83BITS LIMITED 1574591 17-3-2011 8 A & G HOLDINGS LIMITED 1573690 15-3-2011 9 A Plus Personnel Consultant Limited 1574297 17-3-2011 日進人事顧問有限公司 10 A.T. RUSOIL HOLDINGS CO., LIMITED 1575342 18-3-2011 11 AB FURNITURE SERVICE CO., LIMITED 1573917 16-3-2011 12 AB LIGHTING LIMITED 1573029 14-3-2011 歷栢照明有限公司 13 ABANTE INTERNATIONAL LIMITED 1573716 15-3-2011 14 ABEST CHINA HOLDING LIMITED 1572466 14-3-2011 亞之杰中國控股有限公司 15 Ab-Intra Limited 1572607 14-3-2011 報告編號: 公司註冊處電子查冊服務 日期 : REPORT ID: RPS350 COMPANIES REGISTRY ELECTRONIC SEARCH SERVICES DATE: 21-3-2011 根據《公司條例》(第32章) 成立∕註冊的新公司 頁數: Newly Incorporated / Registered Companies under the Companies Ordinance (Cap. 32) PAGE: 2 本報告涵蓋的日期(日/月/年): Period Covered (By Date)(D/M/Y): 14/03/2011 - 20/03/2011 序號 公司名稱 公司註冊編號 成立∕註冊日期(日-月-年) Sequence No.