Marinha Do Brasil Escola De Guerra Naval Programa De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Ohio FBM.Pdf
1 The U.S. Navy has 18 of the most deadly and feared weapons ever created. 2 Let’s look at some facts about America’s last line of Defense…the “Boomers”. 3 Meet the Ohio-class submarine. In naval terms, it makes up the Fleet Ballistic Missile submarines (FBMs). 4 Aside from USS Henry M. Jackson (SSBN-730), all of the Ohio-class subs are named after a state. 5 These 18 weapons are also known as “Trident” subs because they’re a part of America’s “Nuclear Triad”. 6 The Nuclear Triad is our Military’s 3-prong nuclear weapons delivery arsenal which covers Land, Air and Sea. 7 Air: Strategic Bombers (the B-52 Stratofortress, B-1 Lancer and B-2 Spirit-pictured above) 8 Land: Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs such as the Minuteman III-pictured above) 9 Why do we have a 3-branches of nuclear capabilities? 10 It reduces the chances that another country’s first-strike attack could destroy all of our nuclear delivery system. 11 This means that, in a worst case scenario (nuclear war)… 12 …America has the ability to launch a second attack. 13 What weapon can lurk anywhere in 2/3rds of the Earth? 14 You got it man, our Ohio-class subs. 15 To be specific, the Earth’s surface is made up of 71 percent ocean water (97% of total water on the planet). 16 Aside from the ocean our subs can also enter fresh water such as our Great Lakes (which already has US Navy’s USS Kentucky SSBN-737 and other smaller Los Angeles-class Attack Submarines). -

Downloaded April 22, 2006
SIX DECADES OF GUIDED MUNITIONS AND BATTLE NETWORKS: PROGRESS AND PROSPECTS Barry D. Watts Thinking Center for Strategic Smarter and Budgetary Assessments About Defense www.csbaonline.org Six Decades of Guided Munitions and Battle Networks: Progress and Prospects by Barry D. Watts Center for Strategic and Budgetary Assessments March 2007 ABOUT THE CENTER FOR STRATEGIC AND BUDGETARY ASSESSMENTS The Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) is an independent, nonprofit, public policy research institute established to make clear the inextricable link between near-term and long- range military planning and defense investment strategies. CSBA is directed by Dr. Andrew F. Krepinevich and funded by foundations, corporations, government, and individual grants and contributions. This report is one in a series of CSBA analyses on the emerging military revolution. Previous reports in this series include The Military-Technical Revolution: A Preliminary Assessment (2002), Meeting the Anti-Access and Area-Denial Challenge (2003), and The Revolution in War (2004). The first of these, on the military-technical revolution, reproduces the 1992 Pentagon assessment that precipitated the 1990s debate in the United States and abroad over revolutions in military affairs. Many friends and professional colleagues, both within CSBA and outside the Center, have contributed to this report. Those who made the most substantial improvements to the final manuscript are acknowledged below. However, the analysis and findings are solely the responsibility of the author and CSBA. 1667 K Street, NW, Suite 900 Washington, DC 20036 (202) 331-7990 CONTENTS ACKNOWLEGEMENTS .................................................. v SUMMARY ............................................................... ix GLOSSARY ………………………………………………………xix I. INTRODUCTION ..................................................... 1 Guided Munitions: Origins in the 1940s............. 3 Cold War Developments and Prospects ............ -
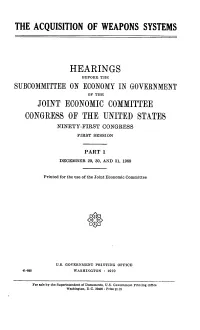
The Acquisition of Weapons Systems
THE ACQUISITION OF WEAPONS SYSTEMS HEARINGS BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON ECONOMY IN GOVERNMENT OF THE JOINT ECONOMIC COMMITTEE CONGRESS OF THE UNITED STATES NINETY-FIRST CONGRESS FIRST SESSION PART 1 DECEMBER 29, 30, AND 31, 1969 Printed for the use of the Joint Economic Committee 0 U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 41-698 WASHINGTON: 1970 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Washington, D.C. 20402 - Price S1.25 JOINT ECONOMIC COMMITTEE [Created pursuant to sec. 5(a) of Public Law 304, 79th Cong.] WRIGHT PATMAN, Texas, Chairman WILLIAM PROXMIRE, Wisconsin, Vice Chairman HOUSE OF REPRESENTATIVES SENATE RICHARD BOLLING, Missouri JOHN SPARKMAN, Alabama HALE BOGGS, Louisiana J. W. FULBRIGHT, Arkansas HENRYS. REUSS, Wisconsin HERMAN E. TALMADGE, Georgia MARTHA W. GRIFFITHS, Michigan STUART SYMINGTON, Missouri WILLIAM S. MOORHEAD, Pennsylvania ABRAHAM RIBICOFF, Connecticut WILLIAM B. WIDNALL, New Jersey JACOB K. JAVITS, New York W. E. BROCK 3D, Tennessee JACK MILLER, Iowa BARBER B. CONABLE, JR., New York LEN B. JORDAN, Idaho CLARENCE J. BROWN, Ohio CHARLES H. PERCY, Illinois JoHlN R. STARKi, Exrecutive Director JAZMES W. KNOWLES, Director of Research ECONOMISTS LOUGHLIN P. MCHUGa JOHN R. KARLIK RICHARD F. KAUFMAN COURTENAY M. SLATER Minority: DOUGLAS C. FRECHTLING GEORGE D. KRumRHAAR SUBCOMMITTEE ON ECONOMY IN GOVERNMENT WILLIAM PROXMIRE, Wisconsin, Chairman SENATE HOUSE OF REPRESENTATIVES JOHN SPARKMAN, Alabama WRIGHT PATMAN, Texas STUART SYMINGTON, Missouri MARTHA W. GRIFFITHS, Michigan LEN B. JORDAN, Idaho WILLIAM S. MOORHEAD, Pennsylvania CHARLES H. PERCY, Illinois BARBER B. CONABLE, JR., New York CLARENCE J. BROWN, Ohio (IIJ CONTENTS WITNESSES AND STATEMENTS MONDAY, DECEMBER 29, 1969 Proxmire, Hon. -

The 2020S Tri-Service Modernization Crunch Mackenzie Eaglen with Hallie Coyne MARCH 2021
The 2020s Tri-Service Modernization Crunch Mackenzie Eaglen with Hallie Coyne MARCH 2021 AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE The 2020s Tri-Service Modernization Crunch Mackenzie Eaglen with Hallie Coyne MARCH 2021 AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE Cover image shows a US Air Force B-1B Lancer. US Air Force photo by Staff Sgt. Peter Reft. © 2021 by the American Enterprise Institute for Public Policy Research. All rights reserved. The American Enterprise Institute (AEI) is a nonpartisan, nonprofit, 501(c)(3) educational organization and does not take institutional positions on any issues. The views expressed here are those of the author(s). Contents EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................ 1 INTRODUCTION ........................................................................................................ 3 Addressing the Tri-Service Spending Spike ...................................................................... 3 Why Does It Matter? ..................................................................................................... 4 What Factors Are Making the Modernization Spending Crunch Worse? ............................... 6 What Does Addressing the Modernization Crunch Mean for the US Military in the 2020s? .............................................................................................................. 15 What Went Wrong: Identifying the Causes of the 2020s Modernization Crunch ................... 16 The Shape and Size of the Tri-Service Modernization -

Bharat Dynamics Ltd
INSTITUTIONAL EQUITY RESEARCH Bharat Dynamics Ltd A large order pipeline just does not cut it 12 March 2018 INDIA | DEFENCE | IPO Note Bharat Dynamics (BDL) is a government‐owned company, engaged in the manufacturing of AVOID missiles and torpedoes. In FY17, its revenues/EBITDA/PAT was Rs 46.3/8.3/6.6bn, translating into 17.9% EBITDA and 14.4% PAT margins. BDL has an order book of Rs 105bn COMPANY DATA as of January 2018, implying a book‐to‐bill of 2.2x FY17 revenues. ISSUE OPENS 13th March 2018 ISSUE CLOSES 15th March 2018 About Bharat Dynamics Ltd (BDL) PRE‐ ISSUE EQUITY SHARES 183.3mn Incorporated in 1970, BDL is a government‐owned company with 'Miniratna (Category‐1)' PRICE BAND Rs 413 – 428 22.5mn status. It is engaged in the manufacturing of Surface to Air missiles (SAMs), Anti‐Tank Guided NO OF SHARES OFFERED ISSUE SIZE Rs 9.2‐9.5bn missiles (ATGMs), underwater weapons (Torpedoes), launchers, countermeasures and test MKT CAP Rs 78.4bn equipment. Currently, it is the sole manufacturer and supplier for SAMs, ATGMs and torpedoes to the Indian armed forces. IPO rationale: Offer for sale by government The IPO is an offer for sale by the government to raise Rs 9.5bn and dilution of shareholding STANDALONE FINANCIALS by 12.3%. At the IPO price band of Rs 413‐428, the stock trades at 12x FY17 PE on an Y/E Mar, Rs bn FY17 FY18E FY19E FY20E Net Sales 46.30 44.94 43.49 28.17 adjusted equity base. EBIDTA 8.29 8.23 8.55 4.65 Net Profit 6.65 6.22 6.56 4.93 Key positives EPS, Rs. -

Marine Nuclear Power: 1939 – 2018 Part 2A: United States - Submarines
Marine Nuclear Power: 1939 – 2018 Part 2A: United States - Submarines Peter Lobner July 2018 1 Foreword In 2015, I compiled the first edition of this resource document to support a presentation I made in August 2015 to The Lyncean Group of San Diego (www.lynceans.org) commemorating the 60th anniversary of the world’s first “underway on nuclear power” by USS Nautilus on 17 January 1955. That presentation to the Lyncean Group, “60 years of Marine Nuclear Power: 1955 – 2015,” was my attempt to tell a complex story, starting from the early origins of the US Navy’s interest in marine nuclear propulsion in 1939, resetting the clock on 17 January 1955 with USS Nautilus’ historic first voyage, and then tracing the development and exploitation of marine nuclear power over the next 60 years in a remarkable variety of military and civilian vessels created by eight nations. In July 2018, I finished a complete update of the resource document and changed the title to, “Marine Nuclear Power: 1939 – 2018.” What you have here is Part 2A: United States - Submarines. The other parts are: Part 1: Introduction Part 2B: United States - Surface Ships Part 3A: Russia - Submarines Part 3B: Russia - Surface Ships & Non-propulsion Marine Nuclear Applications Part 4: Europe & Canada Part 5: China, India, Japan and Other Nations Part 6: Arctic Operations 2 Foreword This resource document was compiled from unclassified, open sources in the public domain. I acknowledge the great amount of work done by others who have published material in print or posted information on the internet pertaining to international marine nuclear propulsion programs, naval and civilian nuclear powered vessels, naval weapons systems, and other marine nuclear applications. -

The Promise of Directed-Energy Weapons
CHANGING THE GAME: THE PROMISE OF DIRECTED-ENERGY WEAPONS BY MARK GUNZINGER With Chris Dougherty 2012 Changing The Game: The Promise of Directed-Energy Weapons About the Center for Strategic And Budgetary Assessments The Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) is an independent, nonpar- tisan policy research institute established to pro- mote innovative thinking and debate about nation- al security strategy and investment options. CSBA’s goal is to enable policymakers to make informed decisions on matters of strategy, security policy and resource allocation. CSBA provides timely, impartial and insightful analyses to senior decision makers in the executive and legislative branches, as well as to the media and the broader national security community. CSBA en- courages thoughtful participation in the develop- ment of national security strategy and policy, and in the allocation of scarce human and capital resources. Center for Strategic and Budgetary Assessments CSBA’s analysis and outreach focus on key questions related to existing and emerging threats to U.S. na- tional security. Meeting these challenges will require transforming the national security establishment, and we are devoted to helping achieve this end. Changing The Game: The Promise of Directed-Energy Weapons ABOUT THE AUTHOR Mark Gunzinger is a Senior Fellow at the Center for Strategic and Budgetary Assessments. Mr. Gunzinger has served as the Deputy Assistant Secretary of Defense for Forces Transformation and Resources. He is the principal author or co-au- thor of multiple Defense Planning Guidance direc- tives, key strategic planning documents that shape DoD force planning. A retired Air Force Colonel and Command Pilot with over three thousand flight hours, he joined the Office of the Secretary of Defense in 2004. -

Vice Admiral Henry C. Mustin Furthered the Family Reputation for Service to Country
Introduction Born into an illustrious naval family, Vice Admiral Henry C. Mustin furthered the family reputation for service to country. His grandfather, the first Henry C., is considered by many as the father of naval aviation, having established an air station at Pensacola, being the first to be catapulted off a ship, and being the first American aviator ever to take on live fire. His father, Lloyd, would have a notable career of his own as a "blackshoe," retiring as a Vice Admiral. As will be seen in the narrative, Mustin's father served as one of several life-long mentors. A detailed discussion of this family is contained in the final transcript. Graduating the Naval Academy in 1955, Mustin received orders to a Pacific Fleet destroyer followed by a tour as C.O. on a Mayport-based mine hunter and quickly honed his seamanship skills that prepared him to for a remarkable and varied career in the Navy during the Cold War. There are several areas of note in this oral history. First and foremost, Mustin was a naval warrior who helped bring on line new weapon systems and developed tactics and training methods for their employment. As a Lieutenant, he assisted creating early AAW doctrine; as a Vice Admiral he developed components of the Maritime Strategy. He had a hand in training evolutions such as Damage Control Olympics, NavTag, Surface Training Week, and pierside workups. During the Vietnam War, Mustin had a Pug Henry "Winds of War" experience, witnessing the conflict from Saigon, the Mekong Delta, as an aide to CinCPac, and as C.O. -
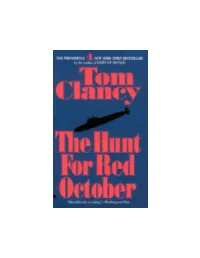
The Hunt for Red October
Tom Clancy The Hunt For Red October Acknowledgements For technical information and advice I am especially indebted to Michael Shelton, former naval aviator; Larry Bond, whose naval wargame, “Harpoon,” was adopted for the training of NROTC cadets; Drs. Gerry Sterner and Craig Jeschke; and Lieutenant Commander Gregory Young, USN. For Ralph Chatham, A sub driver who spoke the truth, And for all the men who wear dolphins THE FIRST DAY FRIDAY, 3 DECEMBER The Red October Captain First Rank Marko Ramius of the Soviet Navy was dressed for the Arctic conditions normal to the Northern Fleet submarine base at Polyarnyy. Five layers of wool and oilskin enclosed him. A dirty harbor tug pushed his submarine's bow around to the north, facing down the channel. The dock that had held his Red October for two interminable months was now a water-filled concrete box, one of the many specially built to shelter strategic missile submarines from the harsh elements. On its edge a collection of sailors and dockyard workers watched his ship sail in stolid Russian fashion, without a wave or a cheer. "Engines ahead slow, Kamarov," he ordered. The tug slid out of the way, and Ramius glanced aft to see the water stirring from the force of the twin bronze propellers. The tug's commander waved. Ramius returned the gesture. The tug had done a simple job, but done it quickly and well. The Red October, a Typhoon-class sub, moved under her own power towards the main ship channel of the Kola Fjord. "There's Purga, Captain." Gregoriy Kamarov pointed to the icebreaker that would escort them to sea. -

Post-Cold War Defense Contracting Consolidation: Survival Strategies
Post-Cold War Defense Contracting Consolidation: Survival Strategies P OST- C O L D W AR D E F E N S E C ONTRACTING C ONSOLIDATION L EADERSHIP AND SURVIV AL STRATEGIES U S E D B Y T O D A Y ’ S LARGEST DEFENSE CONT RACTORS Master of International Business Thesis Submitted by LAURENCE NGUYEN SPRING 2011 © 2011 LAURENCE NGUYEN http://fletcher.tufts.edu Post-Cold War Defense Contracting Consolidation: Survival Strategies The thorny relationship between the military industrial complex and American society has been a topic of contention for the last fifty years. From the Cold War to the fall of the Berlin Wall, the defense contracting industry has had to reinvent itself to adapt to different cycles of war(i). With the homeland attacks of 9/11 and the paradigm shift in the approach to and execution of war, defense contractors have consistently had to meet new procurement demands. Given the current state of the US economy and fiscal pressures faced by the Obama government, defense contractors will also have to address shareholder expectations by being prepared for an era of multilateral budgetary compressions. The US defense budget for 2010 was $693.4 billion, and the 2011 Budget for the Department of Defense only provides a 3.4 percent increase over the 2010 enacted level1. On the global level, the post-1990s industry consolidation has left a highly regulated playing field, vastly dominated by American industrialists. Today, four of the top five largest ranking defense contracting companies in the world are headquartered in the US2 and hold a total of market capitalization exceeding $125 billion3. -

Memorial Tributes: Volume 21
THE NATIONAL ACADEMIES PRESS This PDF is available at http://nap.edu/24773 SHARE Memorial Tributes: Volume 21 DETAILS 406 pages | 6 x 9 | HARDBACK ISBN 978-0-309-45928-0 | DOI 10.17226/24773 CONTRIBUTORS GET THIS BOOK National Academy of Engineering FIND RELATED TITLES Visit the National Academies Press at NAP.edu and login or register to get: – Access to free PDF downloads of thousands of scientific reports – 10% off the price of print titles – Email or social media notifications of new titles related to your interests – Special offers and discounts Distribution, posting, or copying of this PDF is strictly prohibited without written permission of the National Academies Press. (Request Permission) Unless otherwise indicated, all materials in this PDF are copyrighted by the National Academy of Sciences. Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 21 Memorial Tributes NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 21 Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 21 NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING OF THE UNITED STATES OF AMERICA Memorial Tributes Volume 21 THE NATIONAL ACADEMIES PRESS WASHINGTON, DC 2017 Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 21 International Standard Book Number-13: 978-0-309-45928-0 International Standard Book Number-10: 0-309-45928-1 Digital Object Identifier: https://doi.org/10.17226/24773 Additional copies of this publication are available from: The National Academies Press 500 Fifth Street NW, Keck 360 Washington, DC 20001 (800) 624-6242 or (202) 334-3313 www.nap.edu Copyright 2017 by the National Academy of Sciences. -
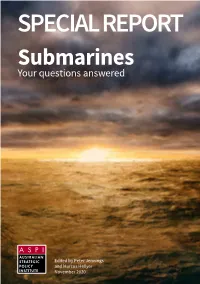
Submarines: Your Questions Answered
SPECIAL REPORT Submarines Your questions answered Edited by Peter Jennings and Marcus Hellyer November 2020 SPECIAL REPORT Submarines Your questions answered About ASPI The Australian Strategic Policy Institute was formed in 2001 as an independent, non‑partisan think tank. Its core aim is to provide the Australian Government with fresh ideas on Australia’s defence, security and strategic policy choices. ASPI is responsible for informing the public on a range of strategic issues, generating new thinking for government and harnessing strategic thinking internationally. ASPI’s sources of funding are identified in our annual report, online at www.aspi.org.au and in the acknowledgements section of individual publications. ASPI remains independent in the content of the research and in all editorial judgements. It is incorporated as a company, and is governed by a Council with broad membership. ASPI’s core values are collegiality, originality & innovation, quality & excellence and independence. ASPI’s publications—including this paper—are not intended in any way to express or reflect the views of the Australian Government. The opinions and recommendations in this paper are published by ASPI to promote public debate and understanding of strategic and defence issues. They reflect the personal views of the author(s) and should not be seen as representing the formal position of ASPI on any particular issue. Important disclaimer This publication is designed to provide accurate and authoritative information in relation to the subject matter covered. It is provided with the understanding that the publisher is not engaged in rendering any form of professional or other advice or services.