Universidade Federal Do Espírito Santo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dear Graduates, Nova Southeastern University Takes
Dear Graduates, Nova Southeastern University takes enormous pride in your success. On behalf of NSU’s faculty, staff, and Board of Trustees, I salute your academic and personal achievement. You have reached this milestone through hard work and intellectual effort, and we are pleased to recognize your dedication with today’s commencement ceremony. Reflect on the gifts of knowledge and support you have received. Celebrate the friendships, skills, and strengths you have forged. Embrace the opportunity to apply these treasures as you start a new chapter in your life, hopefully, following your passion, not your fortune. Our best wishes are with you today and in the future. Congratulations! George L. Hanbury II, Ph.D. NSU President and CEO CEREMONY SCHEDULE May 16, 2021, at 9:30 a.m. Shepard Broad College of Law May 17, 2021, at 9:30 a.m. All Undergraduate Degrees May 17, 2021, at 3:00 p.m. H. Wayne Huizenga College of Business and Entrepreneurship May 18, 2021, at 9:30 a.m. College of Dental Medicine Dr. Kiran C. Patel College of Allopathic Medicine Dr. Kiran C. Patel College of Osteopathic Medicine College of Psychology May 18, 2021, at 3:00 p.m. College of Optometry College of Pharmacy Ron and Kathy Assaf College of Nursing May 19, 2021, at 9:30 a.m. Abraham S. Fischler College of Education and School of Criminal Justice Halmos College of Arts and Sciences College of Computing and Engineering May 19, 2021, at 3:00 p.m. Dr. Pallavi Patel College of Health Care Sciences 2 CLASS OF 2021 THE ACADEMIC PROCESSION Grand Marshal Degree Candidates Members of the Faculty Members of the Board of Trustees Distinguished Guests University Officials 3 WELCOME TO THE 2021 COMMENCEMENT CEREMONIES for NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY May 16 to 19, 2021 4 CLASS OF 2021 ORDER OF EXERCISES SHEPARD BROAD COLLEGE OF LAW MAY 16, 2021, AT 9:30 A.M. -
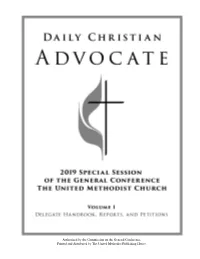
Authorized by the Commission on the General Conference. Printed and Distributed by the United Methodist Publishing House
Authorized by the Commission on the General Conference. Printed and distributed by The United Methodist Publishing House. 9781501877926_INT_EnglishVol 1_.indd 1 10/10/18 9:49 AM 9781501877926_INT_EnglishVol 1_.indd 2 10/10/18 9:49 AM Contents 3 Contents Letter from the Commission on the General Conference ............................................4 Letters from the Bishops of the Illinois Great Rivers and Missouri Conferences .........................6 General Conference Schedule...................................................................8 Registration, Arrival, and Other Important Information ............................................9 Registration and Arrival.......................................................................9 Map of St. Louis City Center .................................................................10 Plenary Area Diagram .......................................................................11 Plenary Seating Assignments .................................................................12 Accountability Covenant.....................................................................15 Reports and Legislation Information............................................................16 Budget for the 2019 General Conference ........................................................16 Plan of Organization and Rules of Order ........................................................18 Legislative Process .........................................................................60 Parliamentary Procedure Chart ................................................................61 -
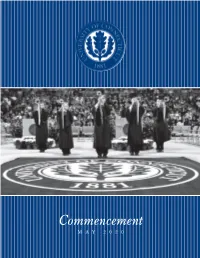
2020 Commencement Program.Pdf
Commencement MAY 2020 WELCOME FROM THE PRESIDENT Dear Friends: This is an occasion of profoundly mixed emotions for all of us. On one hand, there is the pride, excitement, and immeasurable hope that come with the culmination of years of effort and success at the University of Connecticut. But on the other hand, there is the recognition that this year is different. For the first time since 1914, the University of Connecticut is conferring its graduate and undergraduate degrees without our traditional ceremonies. It is my sincere hope that you see this moment as an opportunity rather than a misfortune. As the Greek Stoic philosopher Epictetus observed, “Difficulties show us who we are.” This year our University, our state, our nation, and indeed our world have faced unprecedented difficulties. And now, as you go onward to the next stage of your journey, you have the opportunity to show what you have become in your time at UConn. Remember that the purpose of higher education is not confined to academic achievement; it is also intended to draw from within those essential qualities that make each of us an engaged, fully-formed individual – and a good citizen. There is no higher title that can be conferred in this world, and I know each of you will exemplify it, every day. This is truly a special class that will go on to achieve great things. Among your classmates are the University’s first Rhodes Scholar, the largest number of Goldwater scholars in our history, and outstanding student leaders on issues from climate action to racial justice to mental health. -
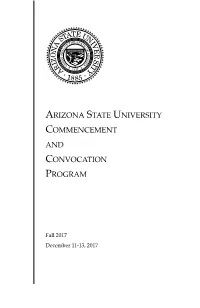
Fall 2017 Commencement Program
TE TA UN S E ST TH AT I F E V A O O E L F A DITAT DEUS N A E R R S I O Z T S O A N Z E I A R I T G R Y A 1912 1885 ARIZONA STATE UNIVERSITY COMMENCEMENT AND CONVOCATION PROGRAM Fall 2017 December 11-13, 2017 THE NATIONAL ANTHEM THE STAR-SPANGLED BANNER O say can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming? Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there. O say does that Star-Spangled Banner yet wave O’er the land of the free and the home of the brave? ALMA MATER ARIZONA STATE UNIVERSITY Where the bold saguaros Raise their arms on high, Praying strength for brave tomorrows From the western sky; Where eternal mountains Kneel at sunset’s gate, Here we hail thee, Alma Mater, Arizona State. —Hopkins-Dresskell MAROON AND GOLD Fight, Devils down the field Fight with your might and don’t ever yield Long may our colors outshine all others Echo from the buttes, Give em’ hell Devils! Cheer, cheer for A-S-U! Fight for the old Maroon For it’s Hail! Hail! The gang’s all here And it’s onward to victory! Students whose names appear in this program have completed degree requirements. -

Convocation Collation Des Grades 2021 Spring / Printemps
CONVOCATION COLLATION DES GRADES 2021 SPRING / PRINTEMPS SCIENCE / SCIENCES VIRTUAL CEREMONY / CÉRÉMONIE VIRTUELLE I JUNE 11 / 11 JUIN 2021 1 PM / 13 00 H CONVOCATION OF: COLLATION DES GRADES DE : 2021 II FACULTY OF SCIENCE FACULTÉ DES SCIENCES Bieler School of Environment École de l’environnement Bieler School of Computer Science École d’informatique 01 PRINCIPAL'S MESSAGE MESSAGE DE LA PRINCIPALE ongratulations to our newest alumni! élicitations à nos nouveaux diplômés! CI know you were looking forward to walking FJe sais que vous aviez hâte de monter sur across the Convocation stage and I am sorry scène pour recevoir votre diplôme, et je suis that the current situation regarding COVID-19 désolée qu’en raison de la pandémie, nous ne does not make it possible to hold Convocation puissions pas tenir les cérémonies de collation in person. I am pleased, however, that we will des grades en personne. Toutefois, je suis ravie be able to come together, virtually, to celebrate que nous puissions nous réunir virtuellement your achievements and success. Today, as we pour célébrer vos réalisations et votre réussite. celebrate our Bicentennial, we welcome you to Aujourd’hui, alors que nous célébrons le a network of more than 275,000 people across Bicentenaire de l’Université, nous vous more than 180 countries connected through accueillons dans un réseau de plus de 275 000 their alma mater. McGill’s alumni are committed membres répartis dans au-delà de 180 pays, to turning their knowledge, skills, and passions tous unis par une même alma mater. Les into making the world a better place. -

Permanent Missions to the United Nations
ST/SG/SER.A/301 Executive Office of the Secretary-General Protocol and Liaison Service Permanent Missions to the United Nations Nº 301 March 2011 United Nations, New York Note: This publication is prepared by the Protocol and Liaison Service for information purposes only. The listings relating to the permanent missions are based on information communicated to the Protocol and Liaison Service by the permanent missions, and their publication is intended for the use of delegations and the Secretariat. They do not include all diplomatic and administrative staff exercising official functions in connection with the United Nations. Further information concerning names of members of permanent missions entitled to diplomatic privileges and immunities and other mission members registered with the United Nations can be obtained from: Protocol and Liaison Service Room NL-2058 United Nations New York, N.Y., 10017 Telephone: (212) 963-7174 Telefax: (212) 963-1921 website: http://www.un.int/protocol All changes and additions to this publication should be communicated to the above Service. Language: English Sales No.: E.11.I.8 ISBN-13: 978-92-1-101241-5 e-ISBN-13: 978-92-1-054420-7 Contents I. Member States maintaining permanent missions at Headquarters Afghanistan.......... 2 Czech Republic..... 71 Kenya ............. 147 Albania .............. 4 Democratic People’s Kuwait ............ 149 Algeria .............. 5 Republic Kyrgyzstan ........ 151 Andorra ............. 7 of Korea ......... 73 Lao People’s Angola .............. 8 Democratic Republic Democratic Antigua of the Congo ..... 74 Republic ........ 152 and Barbuda ..... 10 Denmark ........... 75 Latvia ............. 153 Argentina ........... 11 Djibouti ............ 77 Lebanon........... 154 Armenia ............ 13 Dominica ........... 78 Lesotho ........... 155 Australia............ 14 Dominican Liberia ........... -

Diplomatic List – Fall 2018
United States Department of State Diplomatic List Fall 2018 Preface This publication contains the names of the members of the diplomatic staffs of all bilateral missions and delegations (herein after “missions”) and their spouses. Members of the diplomatic staff are the members of the staff of the mission having diplomatic rank. These persons, with the exception of those identified by asterisks, enjoy full immunity under provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Pertinent provisions of the Convention include the following: Article 29 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity. Article 31 A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of: (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as an executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside of his official functions. -- A diplomatic agent’s family members are entitled to the same immunities unless they are United States Nationals. -

Certified Providers:VPK Fall 2015 - 2016
Certified Providers:VPK Fall 2015 - 2016 Provider Name Provider Code Ext Street Address City Zip Code Site Phone Site Email Address Director Name Director Phone Director Email Address Number Number Early Enrichment Center 650817404 1 10711 West Flagler Street Miami 33174 305- [email protected] Bertila Suarez 305-2257030 305-225-7037 225-7030 Building Blocks Learning Center 352524773 0 10750 NW 58th Street Doral 33178 305-437- [email protected] Mercedes Delgado 3054375437 5437 Candyland Learning Center Inc 461976893 1 4150 SW 137 COURT MIAMI 33175 305-456- CANDYLANDLEARNINGCENTER@HOT Anette Vargas 786-333-5225 [email protected] 0551 MAIL.COM m Waterston Large Family Child Care 208004870 1 7920 NW 185 ST Hialeah 33015 786-299- [email protected] Rosa Waterston 786-299-4540 [email protected] Home 4540 1 World Learning Center 454515712 0 12901 NW 27th Avenue Miami 33167 786-416- [email protected] Antoinette Patterson 954-604-4797 [email protected] 9940 A & A Children's Academy #2 200288466 1 6725 SW 21 Street Miami 33155 3053100243 [email protected] Aurora E Gonzalez 3053100243 [email protected] A & A Children's Academy I 650800850 0 4541 SW 64th Court Miami 33155 3053100243 [email protected] Indiana Lacayo 3056679999 [email protected] A & G Day Care Learning Center 463683620 0 2123 W Flagler St Miami 33135 3059828785 [email protected] Esperanza Alvarez 3059828785 [email protected] A Gift from Heaven Child Care 462176776 0 14651 SW 104th Street Miami -

Crystal Reports
PRELIMINARY LIST OF ELECTORS District: 8 POTARO/SIPARUNI Date Of Issue: Friday, July 18, 2014 Page 1 of 266 PRELIMINARY LIST OF ELECTORS District: 8 POTARO/SIPARUNI Division Name: MONKEY MOUNTAIN Division No.: 81111 Description: THIS DIVISION COMMENCES AT THE MOUTH OF THE ECHILEBAR RIVER, LEFT BANK IRENG RIVER; THENCE UP THE ECHILEBAR RIVER TO MIPIMAH FALLS; THENCE NORTH-WEST TO THE SOURCE OF AN UNNAMED TRIBUTARY ON THE LEFT BANK TUSENEN RIVER; THENCE DOWN THE SAID TRIBUTARY TO ITS MOUTH; THENCE DOWN THE TUSENEN RIVER TO ITS MOUTH; THENCE DOWN THE KOWA RIVER TO ITS MOUTH, ON THE LEFT BANK IRENG RIVER; THENCE DOWN THE IRENG RIVER TO THE POINT OF COMMENCEMENT. Date Of Issue: Friday, July 18, 2014 Page 2 of 266 PRELIMINARY LIST OF ELECTORS District:8Division Number: 81111 Division Name: MONKEY MOUNTAIN No. Surname First Name Middle Name Address Occupation ID Number 1 AARON FAITH MONKEY MOUNTAIN NORTH FARMER 148120844 PAKARAIMAS 2 AARON KAREN MONKEY MOUNTAIN NORTH CHIEF COOK 146840638 PAKARAIMAS 3 AARON PHILIP MONKEY MOUNTAIN NORTH MINER 104295953 PAKARAIMAS 4 AARON ROGER MONKEY MOUNTAIN NORTH MINER 106817177 PAKARAIMAS 5 ABRAHAM CHARLES BARNABUS MONKEY MOUNTAIN NORTH MINER 150637800 PAKARAIMAS 6 ABRAHAM DIANNE MONKEY MOUNTAIN NORTH TEACHER 156148564 PAKARAIMAS 7 ABRAHAM LEOLYN ABIGAIL MONKEY MOUNTAIN NORTH - 157520144 PAKARAIMAS 8 ABRAHAM MALCOLM MONKEY MOUNTAIN NORTH - 106902537 PAKARAIMAS 9 ABRAHAM ODESSA MONKEY MOUNTAIN NORTH FARMER 156090752 PAKARAIMAS 10 ALFRED ANGELINA LORITA MONKEY MOUNTAIN NORTH FARMER 160322183 PAKARAIMAS 11 ALFRED -

Ashford University
FALL 2018 COMMENCEMENT Commencement SUNDAY, OCTOBER 14, 2018 Viejas Arena, San Diego CA THE HISTORY OF ASHFORD UNIVERSITY FOUNDING The history of Ashford University begins in 1891, when Father John Murray invited the Sisters of St. Francis to help him teach students in Clinton, Iowa. By 1893, the Sisters were able to purchase some land in Clinton, on which they established their mother house and the Mount St. Clare Academy, a prep school for girls. The Academy and mother house quickly outgrew their old building. In 1910, the mother house and the academy moved into the newly constructed Mount St. Clare building. Seeing a need for teachers in Clinton County and the surrounding area, the Sisters founded Mount St. Clare College, the predecessor to Ashford University, in 1918. At that time, the Mount St. Clare Academy, College, and Convent were all housed in the same building. EXPANSION BECOMING A UNIVERSITY In 1950, the North Central In 2002, Mount St. Clare College Association of Colleges and began to offer a Master’s Schools first accredited Mount program over the internet. In St. Clare College. Following conjunction with the expanded the accreditation, the school course offerings, the school quickly began to expand. The changed its name to The sisters moved into an adjoining Franciscan University, and the convent building in 1956. A new name of the athletic teams were library and gym were opened a changed from “The Mounties” to few years later. During the ‘60s, “The Saints.” In September 2004, the Science Hall was opened. the school modified its name And in 1967, the college became to The Franciscan University of coeducational. -

Annual Commencement / Northwestern University
One Hundred and Fifty-Fourth Annual Commencement June 15, 2012 NORTHWESTERN UNIVERSITY i Northwestern University One Hundred and Fifty-Fourth Annual Commencement 10:30 A.M., Friday, June 15, 2012 Ryan Field Evanston, Illinois University Seal and Motto Soon after Northwestern University was the seal, retaining the book and light and the date of its founding. This seal, founded, its Board of Trustees adopted rays and adding two quotations. On which remains Northwesterns official an official corporate seal. This seal, the pages of the open book he placed signature, was approved by the Board of approved on June 26, 1856, consisted of a Greek quotation from the Gospel of Trustees on December 5, 1890. an open book surrounded by rays of light John, chapter 1, verse 14, translating to and circled by the words Northwestern The Word . full ofgrace and truth. The full text of the University motto, University, Evanston, Illinois. Circling the book are the first three adopted on June 17, 1890, is from words, in Latin, of the University motto: the Epistle of Paul the Apostle to the Thirty years later Daniel Bonbright, Quaecumque sunt vera (Whatsoever Philippians, chapter 4, verse 8 (King professor of Latin and a member of things are true). The outer border of the James Version). Northwesterns original faculty, redesigned seal carries the name of the University NORTHWESTERN UNIVERSITY ^Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are ofgood report; if there he any virtue, and if there he any praise, think on these things. -

Codice Nome Religioso Nome Civile Cognome Monastero Nazione
Codice Nome religioso Nome civile Cognome Monastero Nazione Luogo di nascita Nascita Professione Decesso 2500 Katherine of Christ Katarina Maselino Tominiko Apia Samoa Apia 26/01/1982 21/11/2006 19/01/2018 2494 Lourdes del Sagrado Corazón Lourdes Chávez Moreno Santa Cruz de la Sierra Bolivia Santa Cruz 07/02/1978 01/10/2003 28/12/2017 2493 Maria della Misericordia Luisa Cannas Roma - Tre Madonne Italia Sanluri 07/08/1931 19/12/1961 21/12/2017 2496 Victoria de Jesús, María y José Victoria Arce Torres Fuente de Cantos España Sevilla 24/01/1929 20/07/1965 21/12/2017 2495 Teresa Margarita del Espíritu Santo Sabaris (1990) España 19/05/1923 30/03/1949 20/12/2017 2492 Mª Sofía de la Stma. Trinidad Mª del Carmen Álvarez Carballo Santiago de Compostela España Lugo 12/11/1926 03/05/1949 19/12/2017 2491 Mary Frances of Jesus Francisca Pesayco Iloilo City Philippines Bugasong 14/07/1927 20/07/1957 14/12/2017 2488 Marie Denyse de Jésus Denyse Boeuf Saint Maur France Censeau 26/06/1922 24/11/1947 04/12/2017 2490 M. Benedicta vom Lamm Gottes Charlotte Hainzlmeier Pottenbrunn Österreich Wien 01/03/1921 25/03/1948 04/12/2017 2487 M. Baptiste du Cœur Immaculé Thi Báu Vu Hô-Chí-Minh Bien-Trieu Vietnam Håi Duong 19/03/1919 11/02/1964 02/12/2017 2498 Mª del Carmen de la S. Familia Mª del Carmen Ruiz Luque Antequera España Villanueva de Algaidas 26/05/1926 25/10/1954 25/10/2017 2466 M.