R Evista Do Instituto Florestal V. 22 N. 1 Jun. 20 10
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

More Than Weeds: Non-Crop Plants, Arthropod Predators and Conservation Biological Control
DANY SILVIO SOUZA LEITE AMARAL MORE THAN WEEDS: NON-CROP PLANTS, ARTHROPOD PREDATORS AND CONSERVATION BIOLOGICAL CONTROL Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Entomologia, para obtenção do título de Doctor Scientiae. VIÇOSA MINAS GERAIS - BRASIL 2014 DANY SILVIO SOUZA LEITE AMARAL MORE THAN WEEDS: NON-CROP PLANTS, ARTHROPOD PREDATORS AND CONSERVATION BIOLOGICAL CONTROL Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Entomologia, para obtenção do título de Doctor Scientiae. APROVADA: 27 de fevereiro 2014. Irene Maria Cardoso Cleide Maria Ferreira Pinto (UFV) (EPAMIG) Angelo Pallini Filho Edison Ryoiti Sujii (Co-orientador) (Co-orientador) (UFV) (EMBRAPA – CENARGEN) Madelaine Venzon (Orientadora) (EPAMIG) De noite há uma flor que corrige os insetos Manoel de Barros – Livro: Anotações de Andarilho. A esperança não vem do mar Nem das antenas de TV A arte de viver da fé Só não se sabe fé em quê Paralamas do Sucesso – Música: Alagados. … a Universidade deve ser flexível, pintar-se de negro, de mulato, de operário, de camponês, ou ficar sem porta, pois o povo a arrombará e ele mesmo a pintará, a Universidade. com as cores que lhe pareça mais adequadas. Ernesto “Che” Guevara – Discurso: Universidade de Las Villas, dezembro de 1959. ii À Fê, que tem sido o amor que inspira minha vida, Ao João, meu filho, meu “Gesù Bambino”, meu “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, dedico cada letra, pingo e ponto desta tese. Sem vocês nada aqui faria sentido. iii À tudo aquilo que não sabemos o que é, mas mesmo assim vive, pulsa e movimenta dentro de nós, da natureza e do universo; Aos meus pais, Carlos e Maria Helena, pelo amor, carinho e dedicação irrestritos que sempre tiveram comigo. -

Floristic Survey of the Furnas Gêmeas Region, Campos Gerais National Park, Paraná State, Southern Brazil
13 6 879 Andrade et al LIST OF SPECIES Check List 13 (6): 879–899 https://doi.org/10.15560/13.6.879 Floristic survey of the Furnas Gêmeas region, Campos Gerais National Park, Paraná state, southern Brazil Anna L. P. Andrade,1, 2 Rosemeri S. Moro,1 Yoshiko S. Kuniyoshi,2 Marta R. B. do Carmo1 1 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Biologia Geral, Av. Carlos Cavalcanti, 4748, Uvaranas, CEP 84030-690, Ponta Grossa, PR, Brazil. 2 Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Av. Pref. Lothário Meissner, 900, Jardim Botânico, CEP 80210-170, Curitiba, PR, Brazil. Corresponding author: Marta R. B. do Carmo, [email protected] Abstract To investigate the resilience of the grassland flora of the Campos Gerais phytogeographic zone, this study surveys the phanerogamic plant species occurring in the Furnas Gêmeas area (Campos Gerais National Park, Paraná state, southern Brazil), especially those resilient to fragmentation by crops and fire. Collections were made monthly from October 2002 to May 2004 and occasionally from 2005 to 2013. In total, 313 species belonging to 70 angiosperms families and 2 gymnosperm families were collected. Just 4 angiosperm taxa were not determined to species. Although the Furnas Gêmeas has suffered from very evident anthropogenic changes, the vegetation retains part of its original richness, as seen in better-preserved areas outside the park. Included in our list are endangered species that need urgent measures for their conservation. Key words Paraná Flora; grassland; remaining natural vegetation; resilient species; Campos Gerais phytogeographic zone Academic editor: Gustavo Hassemer | Received 22 October 2015 | Accepted 15 August 2017 | Published 1 December 2017 Citation: Andrade ALP, Moro RS, Kuniyoshi YS, Carmo MRB (2017) Floristic survey of the Furnas Gêmeas region, Campos Gerais National Park, Paraná state, southern Brazil. -
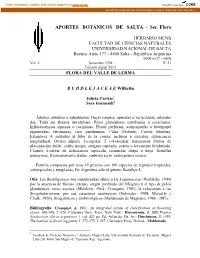
BUDDLEJACEAE Wilhelm
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositorio de Ciencias Agropecuarias y Ambientales del Noroeste... APORTES BOTÁNICOS DE SALTA - Ser. Flora HERBARIO MCNS FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Buenos Aires 177 - 4400 Salta - República Argentina ISSN 0327 - 506X Vol. 2 Setiembre 1994 Nº 21 Edición digital 2012 FLORA DEL VALLE DE LERMA B U D D L E J A C E A E Wilhelm Julieta Carrizo1 Sara Isasmendi1 Árboles, arbustos o subarbustos. Hojas simples, opuestas o verticiladas, estipula- das. Tallo sin floema intraleñoso. Pelos glandulares estrellados o escamosos. Inflorescencias cimosas o racimosas. Flores perfectas, actinomorfas o levemente zigomorfas, tetrámeras, raro pentámeras. Cáliz 4-lobado. Corola tubulosa. Estambres 4, soldados al tubo de la corola, inclusos o exsertos, dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, 2-carpelar, 2 (-4)-locular, numerosos óvulos de placentación axilar; estilo simple, estigma capitado, entero o levemente bilobulado. Cápsula 4-valvar de dehiscencia septicida, raramente drupa o baya. Semillas numerosas, frecuentemente aladas; embrión recto, endosperma escaso. Familia compuesta por unos 19 géneros con 160 especies de regiones tropicales, subtropicales y templadas. En Argentina sólo el género Buddleja L. Obs: Las Buddlejaceae son consideradas afines a las Loganiaceae (Wettstein, 1944) por la ausencia de floema interno, origen profundo del felógeno y el tipo de pelos glandulares; otros autores (Melchior, 1964; Cronquist, 1981) la relacionan a las Scrophulariaceae, por sus caracteres anatómicos (Solereder, 1908; Metcalfe y Chalk, 1950), fitoquímicos y embriológicos (Maldonado de Magnano, 1986, 1987). Bibliografía: Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants: 946-948, f. -

Buddlejaceae
FLORA DEL PARAGUAY – 42 L. Ramella & P. Perret Buddlejaceae NÉLIDA SORIA 2011 GYMNOSPERMAE Araucariaceae ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONAE Acanthaceae Dichapetalaceae Passifloraceae Achatocarpaceae Dilleniaceae Phytolaccaceae Aizoaceae Droseraceae 35 Piperaceae Amaranthaceae Ebenaceae Plantaginaceae Anacardiaceae 14 Ericaceae Plumbaginaceae Annonaceae 1 Erythroxylaceae Podostemaceae 29 Apocynaceae 17 Euphorbiaceae Polygalaceae Aquifoliaceae 24 Flacourtiaceae 32 Polygonaceae 33 Araliaceae Gentianaceae Portulacaceae Aristolochiaceae 41 Geraniaceae Primulaceae Asclepiadaceae Gesneriaceae 22 Proteaceae Balanophoraceae 9 Guttiferae Rafflesiaceae Basellaceae Haloragaceae 19 Ranunculaceae 3 Begoniaceae Hippocrateaceae 36 Rhamnaceae Bignoniaceae Hydnoraceae Rosaceae Bixaceae 13 Hydrophyllaceae Rubiaceae Bombacaceae Icacinaceae 37 Rutaceae 8 Boraginaceae Krameriaceae Salicaceae Buddlejaceae 42 Labiatae Santalaceae Burseraceae 21 Lauraceae Sapindaceae 16 Cactaceae Lecythidaceae Sapotaceae Callitrichaceae 18 Leguminosae Saxifragaceae Calyceraceae Lentibulariaceae Scrophulariaceae Campanulaceae Loasaceae Simaroubaceae 10 Capparaceae Loganiaceae Solanaceae Caprifoliaceae 34 Loranthaceae Sphenocleaceae Caricaceae 5 Lythraceae 40 Sterculiaceae Caryocaraceae Malpighiaceae Styracaceae Caryophyllaceae Malvaceae Symplocaceae Celastraceae Martyniaceae Theophrastaceae 4 Ceratophyllaceae Melastomataceae Thymelaeaceae 31 Chenopodiaceae Meliaceae Tiliaceae Chloranthaceae Menispermaceae Trigoniaceae 2 Chrysobalanaceae Menyanthaceae 20 Tropeolaceae Cistaceae Molluginaceae -

Phytophoto Index 2018
PhytoPhoto 2018 Image Availability Accessing the photo collection is easy. Simply send an email with the plant names or a description of images sought to [email protected] and a gallery of photos meeting your criteria will be submitted to you, usually the same day. Abeliophyllum distichum Abutilon vitifolium ‘Album’ Acer palmatum fall color Abeliophyllum distichum ‘Roseum’ Abutilon vitifolium white Acer palmatum in front of window Abelmoschus esculentus "Okra" Abutilon Wisley Red Acer palmatum in orange fall color Abelmoschus manihot Abutilon x hybridum 'Bella Red' Acer palmatum var. dissectum Abies balsamea 'Nana' Abutilon-orange Acer palmatum var. dissectum Dissectum Abies concolor 'Blue Cloak' Abutilon-white Viride Group Abies guatemalensis Acacia baileyana Acer pensylvaticum Abies koreana 'Glauca' Acacia baileyana 'Purpurea' Acer platanoides 'Princeton Gold' Abies koreana 'Green Carpet' Acacia boormanii Acer pseudoplatanus Abies koreana 'Horstmann's Silberlocke' Acacia confusa Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Abies koreana 'Silberperle' Acacia cultriformis Acer pseudoplatanus 'Purpureum' Abies koreana 'Silberzwerg' Acacia dealbata Acer pseudoplatanus ‘Puget Pink’ Abies koreana 'Silver Show' Acacia iteaphylla Acer pseudoplatanus f... 'Leopoldii' Abies koreana Aurea Acacia koa Acer rubrum Abies koreana-cone Acacia koa seedlings Acer rubrum and stop sign Abies lasiocarpa Acacia koaia Acer rufinerve Hatsuyuki Abies lasiocarpa v. arizonica 'Argentea' Acacia longifolia Acer saccharinum Abies lasiocarpa v. arizonica 'Glauca Acacia -

Inside Sãosão Paulopaulo
INSIDE SÃOSÃO PAULOPAULO 50 tourism tips to enjoy even more your visit to Serigrafia SIGN FutureTEXTIL. SÃO PAULO On January 25, 1554 the city of São Paulo was founded. On that date, the church celebrated a mass in a school near a small hill, near the Tamanduateí and Anhangabaú Rivers. The foundation of the building made by priests and native Indians became the Pateo do Collegio, one of the main tourist spots in the capital of the state of São Paulo. In 1827, the first university in Brazil was opened, the Law School at Largo São Francisco, which became Brazil’s intellectual and political hub. With the expansion of coffee-growing in the late 19th Century, immigrants arrived from the four corners of the world to work in plantations and, later on, in the city’s growing industrial complex. In 1935, the USP (University of São Paulo) was created. In the ‘40s, manufacturing became the main driver in the city’s economy, which boosted the labor exodus from the other Brazilian states. In 1970, the services sector gained prominence. In nearly 500 years of history, São Paulo has established itself as Brazil’s financial center. THE CITY IN NUMBERS 11 MILLION people 12,500 restaurants 70 nationalities 5,000 pizzarias 750 parks 33,000 registered taxis 90 libraries 15,000 buses for public transportation 180 theaters 42,000 hotels, inns and 79 shopping malls executive residences TRANSPORTATION SUBWAY WHERE DO THEY GO? The fare costs BRL 4.00, and São Paulo’s subway has the Blue: connects the North to following lines: Blue, Green, the South of the city, going Red, Yellow, Lilac and Silver. -

Mirantes Vistas
ROTEIRO TEMÁTICO / THEMATIC TOUR: Mirantes Vistas Este folheto faz parte da série Roteiros Temáticos. Vivencie e explore São Paulo em roteiros autoguiados que oferecem outras 8 perspectivas da cidade: Roteiro Afro, Arquitetura pelo centro histórico, Arte Urbana, O Café e a História da Cidade, Cidade Criativa, Ecorrural, Futebol e Independência do Brasil. This brochure is part of the Thematic Tours series. Live and explore Sao Paulo through auto guided tours that provide 8 other perspectives of the city: Afro-Brazilian Tour, Archi- tecture in Downtown, Street Art, Coffee and the History of Concepção / Project: São Paulo Turismo São Paulo City, Creative City, Eco Rural, Football and Brazilian Projeto Gráfico / Graphic Project: Rômulo Castilho Diagramação / Graphic Design: Rene Perol Independence. Mapas: Fluxo Design, Rene Perol Fotos /Photography: Caio Pimenta, Carolina Paes, Edilson Brito, Fábio Montanheiro, www.cidadedesaopaulo.com Jefferson Pancieri, José Cordeiro, Keko Pascuzzi, Raquel Vettori Supervisão: Fernanda Ascar, Paulo Amorim Conteúdo / Text Editing: Carolina Paes, Gabriel Rostey, Janaína Trentin São Paulo Turismo S/A www.cidadedesaopaulo.com Av. Olavo Fontoura, 1209 www.spturis.com Parque Anhembi, São Paulo (SP), www.anhembi.com.br CEP 02012-021, Tel.: +5511 2226-0400 www.autodromointerlagos.com [email protected] www.visitesaopaulo.com O objetivo da São Paulo Turismo é promover a cidade de São Paulo de forma independente sem nenhum vínculo com os estabelecimentos mencionados. Algumas informações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. / The goal of São Paulo Turismo is to promote the city of São Paulo in an independent way, and with no link to the establishments mentioned in this brochure. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto De
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA O Gênero Buddleja L. (Scrophulariaceae) no Brasil Dissertação de Mestrado Guilherme Peres Coelho Orientadora: Profª. Dra. Silvia Teresinha Sfoggia Miotto Coorientador: Prof. Dr. João Ricardo Vieira Iganci Porto Alegre, RS 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA O Gênero Buddleja L. (Scrophulariaceae) no Brasil Guilherme Peres Coelho Orientadora: Profª. Dra. Silvia Teresinha Sfoggia Miotto Coorientador: Prof. Dr. João Ricardo Vieira Iganci Banca examinadora: Dra. Ilsi Iob Boldrini Dr. Gustavo Heiden Dr. Vinícius Castro Souza Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre em Botânica. Porto Alegre, RS 2017 Agradecimentos Agradeço em primeiro lugar a minha orientadora, Silvia Miotto, por sempre estar disponível e disposta a auxiliar em dúvidas e problemas, pela confiança, e companhia em saídas de campo. Ao meu coorientador, João Iganci, pelo apoio, sugestões, auxílio com as análises moleculares e pelo café após o almoço. Ao Sérgio Bordignon, pelas dicas de locais de coleta, companhia em saídas de campo, disponibilização de fotografias e pela descoberta da espécie nova. Aos colegas Cleusa Vogel Ely, Diober Lucas, Jonas Castro, Josimar Kulkamp, Anderson Mello, Felipe Gonzatti e Cássio Rabuske pelas coletas de Buddleja. Ao colega Marcos Vinicius Soares pela elaboração dos mapas de distribuição. A minha família, a minha namorada Thamara de Almeida e aos amigos, em especial a Lauren Dipp, a Ana Laura John, a Luiza Gasparetto e ao Jonas Castro, pelo apoio, ajuda e companheirismo. -

A Selection Strategy to Identify Medicinal Plants for a Local Phytotherapy Program
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences vol. 48, n. 2, apr./jun., 2012 Article Ethnopharmacological survey: a selection strategy to identify medicinal plants for a local phytotherapy program Flávia Liparini Pereira1, José Martins Fernandes2, João Paulo Viana Leite1, * 1Center for Biological and Health Sciences, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Federal University of Viçosa, 2Department of Plant Biology, Federal University of Viçosa Ethnopharmacological studies are important for documenting and protecting cultural and traditional knowledge associated with the medical use of biodiversity. In this paper, we present a survey on medicinal plants used by locals in a community of Nova Viçosa, Viçosa, MG, Brazil, as a strategy to select medicinal plants for a phytotherapy-based local healthcare program. Eleven knowledgeable local informants were chosen by snowball sampling and interviewed about the use of medicinal plants. Plant samples were collected, herborised and then identified using traditional techniques and specialised literature. We sampled 107 medicinal plant species belonging to 86 genera and 39 families, predominantly Asteraceae with 16 species. Costus spicatus (Jacq.) Sw, M. pulegium L., Rosmarinus officinalis L. and Ruta graveolens L. were found to have Consensus of Main Use corrected (CMUc) values above 50%, which were in agreement with the traditional uses described by the informants. However, species with CMUc values equal to or above 20%, combined with the scientific information survey, were also used to select medicinal plants for the phytotherapy-based local healthcare program. The selection of medicinal plants based on the CMUc index from this particular community, in combination with the scientific survey, appears to be an effective strategy for the implementation of phytotherapy programs. -

Guia Da Cidade City Guide Legenda/ Caption Viva Tudo Isso! / 3 Experience It All! Estação De Metrô Em Um Raio Locais Com Acessibilidade De Até 1,5 Km Do Atrativo
guia da cidade city guide Legenda/ Caption Viva Tudo Isso! / 3 Experience It All! Estação de metrô em um raio Locais com acessibilidade de até 1,5 km do atrativo. / para pessoas com deficiência Atrações Imperdíveis / Subway station at a 1.5 km distance física, auditiva, visual ou intelec- 17 Must See Attractions from the tourist attraction. tual. Consulte mais informações nos locais e no Guia de Acessibi- São Paulo por Regiões / índice Local que não cobra entrada lidade Cultural, do Instituto Mara 39 São Paulo by Regions ou com um dia no qual a Gabrilli em: entrada é gratuita. / Place that do Places with accessibility persons Informações Úteis e Serviços / not charge tickets or with a day with physical, hearing, visual or 115 when the tickets are free of charge. intellectual disabilities. See more Useful Information and Services information at the Cultural Ac- Calendário de Eventos / Local com uma Central de cessibility Guide by Mara Gabrilli 143 Informação Turística. / Place Institute in: Events Calendar with a Tourist Information Center. www.acessibilidadecultural.com.br CITs - Centrais de Página com mais informa- Informação Turística / ções relevantes sobre o tema. 155 Tourist Information Centers / Page with more relevant informa- tion on the subject. São Paulo a Pé - Mapas / 159 São Paulo on Foot - Maps 1 viva tudo isso! experience it all! Este guia foi pensado para facilitar a sua vida, elen- cando os pontos turísticos mais visitados, os servi- ços para aproveitar o melhor de São Paulo, dicas de aplicativos que auxiliam a estadia, além do calen- dário de eventos e outras informações úteis. -

Experiencing the Urban Green Space
EXPERIENCING THE URBAN GREEN SPACE An exploratory study of visiting behaviour, perceptions and preferences in the urban green spaces of São Paulo, Brazil 2 Experiencing the Urban Green Space An exploratory study of visiting behaviour, perceptions and preferences in the urban green spaces of São Paulo, Brazil In fulfilment of the requirements for the Master’s thesis in: Sustainable Development - International Development Faculty of Geosciences, Department of Innovation and Environmental Sciences Utrecht University Marthe Laura Derkzen Under supervision of Dr. Gery Nijenhuis International Development Studies, Utrecht University April 2012 3 4 Executive summary In an ever more urbanising world the role of urban green space is crucial to maintain and enhance the quality of life in cities. Green spaces provide cities with a flexible instrument to adapt to climate change, they encourage social interaction, community identity and promote an active lifestyle, green spaces generate local employment and increase property values and urban vegetation shapes a city by providing it with a natural and historical structure. Apart from these functions, urban green space is a venue for events and a place where people recreate, escape from everyday stress and routine, meet other people, and where children play in a natural environment. This recreational function of urban green space is explored by profiling the green spaces and their users in the metropolis of São Paulo, Brazil. Through time, recreational patterns evolved from hunting games in palace gardens to shopping malls and theme parks. The use of urban green space for recreational purposes was initiated when the rural society turned into an urban-industrial society that lost the connection with nature and so the first public parks and gardens emerged in the nineteenth century. -
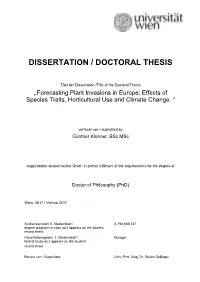
Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation /Title of the Doctoral Thesis „ Forecasting Plant Invasions in Europe: Effects of Species Traits, Horticultural Use and Climate Change. “ verfasst von / submitted by Günther Klonner, BSc MSc angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 794 685 437 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Biologie field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Dullinger “Whatever makes the past, the distant, or the future, predominate over the present, advances us in the dignity of thinking beings.” Samuel Johnson (1791) “In the 1950s, the planet still had isolated islands, in both geographical and cultural terms - lands of unique mysteries, societies, and resources. By the end of the 20th century, expanding numbers of people, powerful technology, and economic demands had linked Earth’s formerly isolated, relatively non-industrialized places with highly developed ones into an expansive and complex network of ideas, materials, and wealth.” Lutz Warren and Kieffer (2010) ACKNOWLEDGEMENT As for many others, the last few years have been an up and down, however, I made it through thanks to my family, friends and colleagues without whom this wouldn’t have been possible. To the love of my life, my wife Christine Schönberger: because you are my support, advice and courage. Because we share the same dreams. Many Thanks! My brother and one of my best friends, Dietmar, who provided me through emotional support in many situations and shares my love to mountains and sports: Thank you! I am also grateful to my other family members, especially my parents Ingeborg and Martin, who were always keen to know what I was doing and how I was proceeding.