Patrimónios De Influência Portuguesa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dissemination of Historical Time Series for The
| Statistical Press Release | Lisboa, 20th October 2010 | Dissemination of historical time‐series for the Portuguese Escudo1 Banco de Portugal was created by a royal decree on 19 November 1846, as an issuing bank, entrusted with the “exclusive power to issue banknotes or bearer bonds in mainland Portugal”. After more than 160 years, during which three distinct monetary currencies have been adopted (real, escudo and euro), Banco de Portugal continues to guarantee the issue and putting into circulation of the national economy’s legal tender currency. It currently holds this function under the framework and operating regulations set out for the national central banks of the Eurosystem and the European System of Central Banks (ESCB), under the provisions of the Article 6 (1) of the Organic Law of the Banco de Portugal: “Under the provisions of Article 106 of the Treaty which institutes the European Community, Banco de Portugal issues banknotes, which are legal tender and have discharging power”. Under the provisions of Article 20 of the Organic Law “Banco de Portugal is the exchange rate authority of the Portuguese Republic” and, pursuant to the Article 13, “It is incumbent on Banco de Portugal the collection and compilation of monetary, financial, foreign exchange and balance of payments statistics, in particular within the scope of its co‐operation with the ECB”. In this framework, the Banco de Portugal has decided to collect all the information about the Escudo, available in various media, mostly on paper, and to make available to the public historical time‐series of the Escudo accompanied by metadata that contributes to a better understanding of its evolution since the late nineteenth century until the adoption of the euro by Portugal on 1 January 1999. -

Economic Bulletin
ECONOMIC BULLETIN OCT. 2020 BANCO DE PORTUGAL EUROSYSTEM ECONOMIC BULLETIN OCTOBER 2020 Lisboa, 2020 • www.bportugal.pt Economic Bulletin | October 2020 • Banco de Portugal Av. Almirante Reis, 71 | 1150-012 Lisboa • www.bportugal.pt • Edition Economics and Research Department • Design Communication and Museum Department | Design Unit • Translation International Relations Department | Translation Unit • ISSN (online) 2182-035x Contents I The Portuguese economy in the first half of 2020 | 5 1 Overview | 7 2 External environment | 11 3 Monetary and financial conditions | 20 4 Public finances | 28 5 Supply | 32 6 Demand | 39 Box 1 • Developments in economic activity in Portugal during the pandemic on a daily frequency | 44 7 Prices | 45 8 Balance of payments | 48 II Projections for the Portuguese economy in 2020 | 53 III Policies and consequences of the pandemic | 63 1 Introduction | 65 2 Policy responses by authorities | 66 2.1 Monetary policy measures during the pandemic crisis and their impacts | 66 2.2 Budgetary measures in Portugal in the pandemic crisis | 71 2.3 The “simplified layoff”: impact on firms’ liquidity and employment | 73 2.4 Measures to support corporate financing | 76 2.5 Moratoria on credit to households | 80 3 Sectoral structure and firms’ responses | 82 3.1 Teleworking in Portugal | 82 3.2 The productive structure in Portugal and the impact of the pandemic | 84 3.3 The impact of the pandemic on the tourism sector | 85 I The Portuguese economy in the first half of 2020 1 Overview 2 International environment 3 Monetary and financial conditions 4 Public finances 5 Supply 6 Demand 7 Prices 8 Balance of payments 1 Overview The novel coronavirus epidemic, which began in China at the end of 2019, spread during the first months of 2020 and soon became a pandemic. -
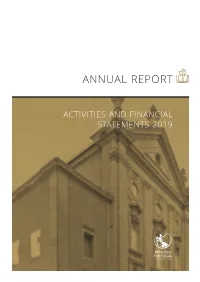
Annual Report
ANNUAL REPORT ACTIVITIES AND FINANCIAL STATEMENTS 2019 BANCO DE PORTUGAL EUROSYSTEM Lisboa, 2020 • www.bportugal.pt Annual Report | Activities and Financial Statements 2019 • Banco de Portugal Av. Almirante Reis, 71 | 1150-012 Lisboa • www.bportugal.pt • Edition Communication and Museum Department | Accounting Department • Design Communication and Museum Department | Design Unit • Translation International Relations Department | Translation Unit • ISBN (online) 978-989-678-729-5 • ISSN (online) 2182-6080 Contents Mission and values of Banco de Portugal | 5 Message by the Governor | 6 Management of Banco de Portugal | 10 I Activity | 19 Executive summary | 21 1 Monetary authority | 29 1.1 Monetary policy | 30 1.2 Asset management | 34 1.3 Payment systems and means | 36 Box 1 • Sustainability and sustainable finance | 43 Box 2 • Monetary policy in 2019 | 45 2 Financial stability | 48 2.1 Regulatory framework | 50 2.2 Stability of the Portuguese financial system | 52 2.3 Resolution | 63 2.4 Upholding the legality of the resolution and enforcement measures | 64 Box 3 • Banco de Portugal’s role in the prevention of money laundering and terrorist financing | 65 Box 4 • Transfer of the deposit guarantee function from the Mutual Agricultural Credit Guarantee Fund to the Deposit Guarantee Fund | 67 3 Knowledge creation and sharing | 69 3.1 Analyses, studies and statistics | 69 3.2 Conferences and seminars | 72 3.3 Communication and stakeholder management | 74 3.4 International cooperation | 81 4 Internal management | 84 4.1 Internal governance -

The Evolution of Public Expenditure: Portugal in the Ii Euro Area Context* 21
THE EVOLUTION OF PUBLIC EXPENDITURE: PORTUGAL IN THE II EURO AREA CONTEXT* 21 Jorge Correia da Cunha** | Cláudia Braz** Articles Abstract The objective of this article is to present the main aspects of the evolution of public expenditure in Portugal from 1995 to 2011. Developments in the current composition of the euro area are used as a benchmark. Primary expenditure in Portugal increased substantially up to 2010, particularly in the period 1995 - 2005. In terms of the economic classifi cation of expenditure, social benefi ts in cash, mostly pension expenditure, and, to a lesser extent, social benefi ts in kind and intermediate consumption were the main contributors to the strong growth in spending. The total expenditure to GDP ratio, however, was, throughout the period, below the euro area average and has shown a similar pattern of evolution in the recent years, when correcting for the impact of temporary measures and special factors in Portugal. However, Portugal as a euro area member state, despite its negligible increase in GDP per capita, recorded one of the highest increases in public spending as a percentage of GDP in the period under analysis. In 2011, its level of total public expenditure to GDP ratio was higher than in many other euro area countries, including several ones with substantially higher GDP per capita. This relationship is also refl ected in the four main types of expenditure by functional classifi cation (defence and security and public order, health, education and social protection). Portugal converged to the euro area average functional structure. A simple evaluation of effi ciency in the health sector shows a substantial improvement in health status indicators in Portugal between 1995 and 2010. -

Banco De Portugal Economic Studies Vol 5, N4
4 Banco de Portugal Economic Studies Volume V Please address correspondence to Banco de Portugal, Economics and Research Department Av. Almirante Reis 71, 1150-012 Lisboa, Portugal T +351 213 130 000 | [email protected] Lisboa, 2019 • www.bportugal.pt Banco de Portugal Economic Studies | Volume V – no. 4 | Lisbon 2019 • Banco de Portugal Av. Almirante Reis, 71 | 1150-012 Lisboa • www.bportugal.pt • Edition Economics and Research Department • Design Communication and Museum Department | Design Unit • ISSN (online) 2183-5217 Content Non-technical summary An analytical assessment of the risks to the sustainability of the Portuguese public debt | 1 Cláudia Braz and Maria Manuel Campos Portuguese labour market synthetic indicators | 25 Carlos Melo Gouveia The countercyclical capital buffer: A DSGE approach | 47 Paulo Júlio and José R. Maria Economics synopsis The Economics of The European Deposit Insurance Scheme | 67 Ettore Panetti Non-technical summary October 2019 This issue of Banco de Portugal Economic Studies includes three articles, whose non-technical summaries are presented below, and a synopsis titled "The Economics of The European Deposit Insurance Scheme". An analytical assessment of the risks to the sustainability of the Portuguese public debt Cláudia Braz, Maria Manuel Campos In spite of recent favourable developments in sovereign debt markets and the strengthened institutional framework at the European level, in several euro area countries - including Portugal - the high government debt ratios remain a source of concern. In this context, frameworks to assess the risks to public finances sustainability (Debt Sustainability Analysis –DSA tools), which have been used for several decades by many international institutions, gained relevance. -

Public Banking in Pandemic Times: Portugal's Caixa
Chapter 15 Victoria Stadheim PUBLIC BANKING IN PANDEMIC TIMES: PORTUGAL’S CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS t is widely acknowledged that public banks have the potential to play an anti-cyclical role in times of economic crisis. As lending by private banks dries up, public banks step in. The Iworld is currently confronting a twin crisis: a pandemic that has generated a profound recession. Within this public health and economic crisis, what role do state-owned banks play? This chap- ter examines how Caixa Geral de Depósitos (CGD) has responded to the crisis in Portugal. It shows that the CGD acted swiftly when faced with a pandemic. It launched its own initiatives and it played a role within the Portuguese Government’s response. Some of the most important measures were the debt moratoria, various credit lines and a series of steps to facilitate the digitalization of finance. These measures helped to accommodate the lockdown and to me- diate its economic effects on families and businesses. Despite this, the bank’s initiatives need to be understood within the competitive – and indeed profit seeking – logic in which the CGD operates. Fur- ther research is required to investigate the extent to which CGD’s response differed from that of the private banks. 311 Victoria Stadheim INTRODUCTION Portugal has a brief but relatively recent history of a large state pres- ence in the banking sector. Almost the entire financial system was nationalized in the mid-1970s, but by the mid-1990s, most of it had returned to private ownership (Antão et al. 2009, 432; Rosa 2014, 180). -

Portuguesa De Tours Promove Azulejos Portugueses
PUB Edition nº 211 | Série II, du 25 mars 2015 G R A T U I T Hebdomadaire Franco-Portugais O jornal das Comunidades lusófonas de França, editado por CCIFP Editions, da Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa Livro de Manuel Nabais Ramos 08 de direito comparado sobre o Governador Civil em Portugal foi lançado em França. Edition F R A N C E Fr Morreu o músico e nacionalista angolano Rui Legot 06 A Rádio Alfa organiza mais uma Semana da Gastronomia Portuguesa, com dois restaurantes do Minho Presidente. O Presidente François 03 Hollande recebeu Aníbal Cavaco Silva no Palácio do Eliseu e diz que Portugal “está no caminho do crescimento”. Manifesto. Mais de 50 personalidades 05 da Comunidade portuguesa de França Portuguesa de Tours já assinaram um Manifesto contra a Ex- trema Direita no país. promove azulejos 14 Toulouse. O Vice-Consulado de Portu- 17 gal em Toulouse organizou um encontro com os principais quadros portugueses que trabalham na cidade. portugueses Voleibol. Nuno Pinheiro da equipa do 21 Tours, venceu a Taça de França de Vo- Maria de Carvalho participa nas Jornadas Europeias do Artesanato leibol, batendo na final o Beauvais de DR Marcel Keller Gil. B U P 02 Opinião le 25 mars 2015 Chronique d’opinion Pedro da Nóbrega Historiador, antropólogo e Le racisme et le chauvinisme sont étrangers dirigente associativo em Nice à la République [email protected] Trouver sur deux pages du LusoJornal hommes naissent et demeurent libres France» se vautraient dans la collabo- bonne 2, placarde cette affiche: «So- tion dont le ciment a été la citoyen- des propos aussi indigents qu’affli- et égaux en droits. -

The Escudo Area in Africa and Optimum Currency Areas
THE ESCUDO AREA IN AFRICA AND OPTIMUM CURRENCY AREAS Maria Eugénia Mata Money in Africa: Monetary and financial decolonisation in Africa in the 20th Century 9 - 10 October 2017 Banco de Portugal, Lisbon, Portugal Interpreting the EMZ: The Berlin conference to share territories in Africa, Caribe, and Asia. Economic integration of motherland territories and colonised territories built great empires for U.K., Belgium, France, the Netherlands, Germany, Italy, Spain and Portugal. International comparative history: the birth of new currencies Many of these empires framed monetary zones: The transition of monetary systems in the Portuguese-speaking African countries: with João Estevão, Napoleão Gaspar, Cláudio Mandlate. The Portuguese link to EFTA led to commitments with GATT. The foundation of the Escudo Monetary Zone: Decree-law 44016 of 8 November 1961 Robert Mundell’s benefits of OCAs, "A theory of optimum currency areas", American Economic Review 51, (1961): 657-665 : . Common currency adoption . Lower transaction costs, such as exchange rate risk for businesses, and . Scale effects resulting from the geographical expansion of businesses . Gains in the liquidity of currency . Asymmetrical shocks corrected with L,K mobility. Automatic correction for disequilibria in balances of payments Correia de Oliveira: Great expectations for the success of economic integration of all territories Nationalism, official speeches (AHU, Overseas Historical Archives): A political instrument to reinforce political cohesion The EMZ: A star-shaped trade and monetary system And 3 issuing banks The rest of the world The rest of the world The rest of the world Archipelago of Cape Vert:4,000 km2 East of Timour Guinea 2 Island 15,000km 36,000km2 The rest of the world Motherland Macao Archipelago of S. -

Basic Data October 2017 Aicep Portugal Global Portugal - Basic Data (October 2017)
Portugal - Basic Data October 2017 aicep Portugal Global Portugal - Basic Data (October 2017) Index Background 3 Population and language 3 Politics 3 Summary 3 Infrastructure 4 Economy 4 Economic structure 4 Current economic situation and outlook 5 International trade 6 International investment 9 Foreign Direct Investment Flow into Portugal (Directional Principle) 9 Portuguese External Direct Investment Stock (Directional Principle) 9 Tourism 11 aicep Portugal Global – Trade & Investment Agency – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt 2 aicep Portugal Global Portugal - Basic Data (October 2017) Background Legislative power lies with the Parliament (Assembly of the Republic) represented by 230 members which are elected by popular vote to Mainland Portugal is geographically located in Europe’s West Coast, serve a four year term. on the Iberian Peninsula. It is bordered by Spain to the North and East Executive power lies with the Government, headed by the Prime and by the Atlantic Ocean to the West and South, therefore being in Minister, the Ministers and the Secretaries of State. The current a geo strategic location between Europe, America and Africa. Prime-Minister is António Costa, leader of the socialist party, who took office in November 2015. In addition to the mainland, Portugal’s territory also includes the Autonomous Regions of the Azores and Madeira, two archipelagos The Portuguese judicial system consists of several categories of located in the Atlantic Ocean. Court, independent of each other, with their own structure and rules. Two of these categories are composed only by one Court Portuguese borders have remained unchanged since the XIII Century, (the Constitutional Court and the Court of Auditors). -

Sovereign Debt Reduction Through Privatization: the Case of Portugal Lukas Nüse⇤
Sovereign debt reduction through privatization: The case of Portugal Lukas Nüse⇤ 1Introduction As in many other countries, the Portuguese national debt sharply increased following the outbreak of the 2008 financial crisis. Despite accounting for only 71.7 percent of gross domestic product (GDP) in 2008, public debt reached 111.1 percent of GDP by 2011. Interest rates on Portuguese government bonds rose at the same time. From 3.88 percent at the start of 2008, rates on ten-year Portuguese government bonds rose to 9.19 percent by the end of April 2011. On April 7, 2011, the Portuguese government applied for financial assistance from EFSM and EFSF funds, followed subsequently by the International Monetary Fund (IMF). Lenders agreed to provide the Portuguese state with a total of 78 billion euro over the next three years. Included in the terms of the loans, among other conditions, was the privatization of numerous enterprises with state-held shares. Revenues from privatization were supposed to reduce the debt burden to a tolerable level. Thus, the interest burden on the state budget should have decreased, thereby allowing the high budgetary deficit to reach a manageable level. This raises the question of how privatization can help achieve these objectives and under which circumstances the privatization of a state enterprise is judicious. Also to be depicted are the reasons for which the Portuguese government selected certain state enterprises for sale. This paper is structured as follows: the first section gives an overview of enterprises which have been privatized thus far, followed by a summary of the state of research on the topic of privatization.The main body attempts to use the theoretical knowledge about privatization and its effect on public debt, in order to assess the usefulness of the individual privatization instances within the framework of the Portuguese bailout package. -

Militar Ferrolano Preside Umha Empresa Que
NÚMERO 64 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2008 1 € “Eu critico o terrorismo, mas nom podo condenar a luita palestiniana, porque é contra umha ocupaçom” Ghaleb Jaber Ibrahim, empresário de origem palestiniana PÁGINA 5 O conflito lingüístico que ‘nom existia’ reaparece na rua O conflito lingüítico, sempre nega- gente, vários colectivos surgiam do polas instituiçons da Galiza, foi- activos como nunca se tinha visto se relaxando nas últimas décadas. em defesa dos direitos dos hispa- Nos últimos anos setenta e primei- nófonos na Galiza. O pretexto, na ros oitenta eram freqüentes as seqüência da aprovaçom do interrupçons de discursos se estes decreto de promoçom do galego eram proferidos em castelhano. No no ensino (124/2007), era a rei- Militar ferrolano preside umha empresa entanto, com a atomizaçom social, vindicaçom do direito dos pais e também os galego-falantes fôrom maes a decidirem sobre a educa- perdendo vontade de ganhar espa- çom dos seus filhos, neste caso que comercia com bombas de fragmentaçom ços para a sua língua na rua. em termos do idioma escolhido. A Infelizmente, com esta distensom, situaçom nom deve ser confundi- ASSESSOROU MINISTROS DE DEFESA TANTO DO PP COMO DO PSOE quem foi perdendo e espaços da da com umha mera concorrência vida pública foi a língua galega, eleitoralista. Seria preocupante Depois de ascender na carreira presidir a Explosivos Alaveses Casa Real, cujo assessor jurídico, cujos falantes se tornárom menos para o idioma que, na actual situa- militar, erigir-se em assessor SA (Expal), transnacional também galego, fai parte da incisivos na defesa dos seus direi- çom de declínio de falantes, os político do Ministério de Defesa denunciada por vender bombas administraçom da empresa. -

Portugal: the Impossible Revolution?
Portugal: The Impossible Revolution? Phil Mailer of Solidarity's excellent history and analysis of the Portuguese Revolution from 1974-1976. :> Buy Portugal: The Impossible Revolution? now [b]Introduction[/b] This is an uncooked slice of history. It is the story of what happened in Portugal between April 25, 1974 and November 25, 1975 - as seen and felt by a deeply committed participant. It depicts the hopes, the tremendous enthusiasm, the boundless energy, the total commitment, the released power, even the revolutionary innocence of thousands of ordinary people taking a hand in the remoulding of their lives. And It does so against the background of an economic and social reality which placed limits on what could be done. This tension dominates the whole narrative. Phil's book is not only a perceptive account of real events. It is an attempt at a new type of historiography. The official statements of the MFA and of the political parties, and the pronouncements of politicians, are relegated to appendices. The text proper explodes with life, the life of people seeking - in many contradictory ways - to write a chapter of their own history. Characters and events literally hustle one another off the pages. Images remain, pell-mell, like an afterglow. The intoxication and euphoria of the first few weeks. Politics in the first person. The crowds in the streets. Civilians clambering over tanks and armoured cars. The atmosphere of the great days: May Day and September 28, 1974; March 11, 1975. Strikes and occupations. The declarations of people in bitter struggle which, in their concern for fundamentals, seemed to echo the thunder of the Communist Manifesto.