Anais De História De Além-Mar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
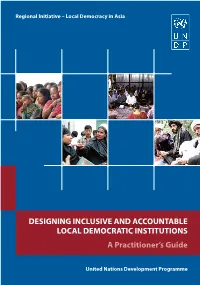
DESIGNING INCLUSIVE and ACCOUNTABLE LOCAL DEMOCRATIC INSTITUTIONS a Practitioner’S Guide
Regional Initiative – Local Democracy in Asia DESIGNING INCLUSIVE AND ACCOUNTABLE LOCAL DEMOCRATIC INSTITUTIONS A Practitioner’s Guide United Nations Development Programme Regional Initiative – Local Democracy in Asia DESIGNING INCLUSIVE AND ACCOUNTABLE LOCAL DEMOCRATIC INSTITUTIONS A Practitioner’s Guide United Nations Development Programme Photos: p. 9: UNOPS/Marie Frechon 2005. All other photos courtesy of UNDP. Design and layout: Keen Media (Thailand) Co., Ltd. Copyright © 2008 UNDP United Nations Development Programme UNDP Regional Centre in Bangkok Democratic Governance Practice Team United Nations Service Building Rajdamnern Nok Avenue Bangkok 10200 Thailand http://regionalcentrebangkok.undp.or.th ISBN: 978-974-04-9375-4 Foreword I am happy that the UNDP Regional Centre Bangkok has developed this Practitioner’s Guide to Designing Inclusive and Accountable Local Democratic Institutions. Devolution of powers to local governments is the most sweeping reform in governance worldwide, particularly over the past two decades. Yet, compared to reforms in liberalization of markets and removal of trade barriers, it is rarely in the public eye. Local government design presents a host of unique challenges to policy makers. The building blocks of good local governance are many, not least an effective approach to ensure that women and marginalized groups are true partners. These systems ought to go beyond merely providing an opportunity for the voices of poor and marginalized to be heard, but must pro-actively encourage them to do so. Enabling large numbers of ordinary people to compete in elections ought to irreversibly strengthen the foundations of democracy and constitutes the best antidote to the increasing tendency to show disinterest in government. -

2017 Timor-Leste Parliamentary Elections Report
TIMOR-LESTE PARLIAMENTARY ELECTIONS JULY 22, 2017 TIMOR-LESTE PARLIAMENTARY ELECTIONS JULY 22, 2017 INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE WWW.IRI.ORG | @IRIGLOBAL © 2017 ALL RIGHTS RESERVED Timor-Leste Parliamentary Elections July 22, 2017 Copyright © 2017 International Republican Institute (IRI). All rights reserved. Permission Statement: No part of this work may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without the written permission of the International Republican Institute. Requests for permission should include the following information: The title of the document for which permission to copy material is desired. A description of the material for which permission to copy is desired. The purpose for which the copied material will be used and the manner in which it will be used. Your name, title, company or organization name, telephone number, fax number, e-mail address and mailing address. Please send all requests for permission to: Attention Communications Department International Republican Institute 1225 Eye Street NW, Suite 800 Washington, DC 20005 Disclaimer: This publication was made possible through the support provided by the United States Agency for International Development. The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of United States Agency for International Development. TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 2 INTRODUCTION 4 ELECTORAL SYSTEMS AND INSTITUTIONS -

Timor-Leste Country Gender Assessment
TIMOR-LESTE COUNTRY GENDER ASSESSMENT Secretaria do Estado para Promoção da Igualdade TIMOR-LESTE COUNTRY GENDER ASSESSMENT Secretaria do Estado para Promoção da Igualdade © 2014 Asian Development Bank All rights reserved. Published in 2014. Printed in the Philippines. ISBN 978-92-9254-649-6 (Print), 978-92-9254-650-2 (e-ISBN) Publication Stock No. RPS146652-2 Cataloging-In-Publication Data Asian Development Bank. Timor-Leste country gender assessment. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014. 1. Gender.2. Timor-Leste.3. Pacific.I. Asian Development Bank. The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of ADB or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. Use of the term “country” does not imply any judgment by the authors or ADB as to the legal or other status of any territorial entity. ADB encourages printing or copying information exclusively for personal and noncommercial use with proper acknowledgment of ADB. Users are restricted from reselling, redistributing, or creating derivative works for commercial purposes without the express, written consent of ADB. Government of Timor-Leste: The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Government of Timor-Leste. UN Women: The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily represent the views of UN Women, the United Nations or any of its affiliated organizations. -

Framing 'The Other'. a Critical Review of Vietnam War Movies and Their Representation of Asians and Vietnamese.*
Framing ‘the Other’. A critical review of Vietnam war movies and their representation of Asians and Vietnamese.* John Kleinen W e W ere Soldiers (2002), depicting the first major clash between regular North-Vietnamese troops and U.S. troops at Ia Drang in Southern Vietnam over three days in November 1965, is the Vietnam War version of Saving Private Ryan and The Thin Red Line. Director, writer and producer, Randall Wallace, shows the viewer both American family values and dying soldiers. The movie is based on the book W e were soldiers once ... and young by the U.S. commander in the battle, retired Lieutenant General Harold G. Moore (a John Wayne- like performance by Mel Gibson).1 In the film, the U.S. troops have little idea of what they face, are overrun and suffer heavy casualties. The American GIs are seen fighting for their comrades, not their fatherland. This narrow patriotism is accompanied by a new theme: the respect for the victims ‘on the other side’. For the first time in the Hollywood tradition, we see fading shots of dying ‘VC’ and of their widows reading loved ones’ diaries. This is not because the filmmaker was emphasizing ‘love’ or ‘peace’ instead of ‘war’, but more importantly, Wallace seems to say, that war is noble. Ironically, the popular Vietnamese actor, Don Duong, who plays the communist commander Nguyen Huu An who led the Vietnamese People’s Army to victory, has been criticized at home for tarnishing the image of Vietnamese soldiers. Don Duong has appeared in several foreign films and numerous Vietnamese-made movies about the War. -

Constitutional Documents of All Tcountries in Southeast Asia As of December 2007, As Well As the ASEAN Charter (Vol
his three volume publication includes the constitutional documents of all Tcountries in Southeast Asia as of December 2007, as well as the ASEAN Charter (Vol. I), reports on the national constitutions (Vol. II), and a collection of papers on cross-cutting issues (Vol. III) which were mostly presented at a conference at the end of March 2008. This collection of Constitutional documents and analytical papers provides the reader with a comprehensive insight into the development of Constitutionalism in Southeast Asia. Some of the constitutions have until now not been publicly available in an up to date English language version. But apart from this, it is the first printed edition ever with ten Southeast Asian constitutions next to each other which makes comparative studies much easier. The country reports provide readers with up to date overviews on the different constitutional systems. In these reports, a common structure is used to enable comparisons in the analytical part as well. References and recommendations for further reading will facilitate additional research. Some of these reports are the first ever systematic analysis of those respective constitutions, while others draw on substantial literature on those constitutions. The contributions on selected issues highlight specific topics and cross-cutting issues in more depth. Although not all timely issues can be addressed in such publication, they indicate the range of questions facing the emerging constitutionalism within this fascinating region. CONSTITUTIONALISM IN SOUTHEAST ASIA Volume 2 Reports on National Constitutions (c) Copyright 2008 by Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore Editors Clauspeter Hill Jőrg Menzel Publisher Konrad-Adenauer-Stiftung 34 Bukit Pasoh Road Singapore 089848 Tel: +65 6227 2001 Fax: +65 6227 2007 All rights reserved. -

Sample Format
17thEsri India User Conference 2017 “Prospect for Geospatial Techniques in Exposure Data Development using Census Housing Statistics: A Case Study of Aileu District, Timor-Leste” 1 Mrs. Ruchika Yadav, 2 Mr. Ujjwal Sur, 3Dr.Prafull Singh 1 Land Referencer, WSP Consultants India Pvt. Ltd. (WSP Global) 2 Senior Manager, Nippon Koei India Pvt. Ltd, Delhi 3 Assistant Professor, Amity Institute of Geo-informatics and Remote Sensing, Amity University, Noida Word Limit of the Paper should not be more than 3000 Words = 7/8 Abstract: Exposure is an integral element to perform About the Author: pre and post catastrophe risk assessment. A detailed knowledge of the structural and occupancy characteristics of buildings at risk assists disaster risk management authorities and concerned administration to rapidly determine the extent and severity of damages and, thus assist to facilitate fast relief and rescue. Unfortunately, in most of the Recent Mrs. Ruchika Yadav received her M.Tech in Geo- countries, only little information is readily available Photograph informatics and Remote Sensing from Amity about building assets, their structural types and conditions, monetary values and spatial distribution. University, Noida (2015) and M.A. in Geography from In order to conduit the gap, this paper introduces an Aligarh Muslim University (2013). Presently, she is approach to develop detailed building exposure data working as Land Referencer in WSP Consultants India by distributing census housing statistics. The Pvt. Ltd. (WSP Global).Her key specialty includes uniqueness of this approach is amalgamating the wall Geospatial modeling in DRM, NRM, Social studies. and roof materials combinations grouped into E mail ID: [email protected] analogous structural vulnerability classes through Contact No: +91 – 8860110293 geospatial technology that produces low cost exposure data at finer resolution. -
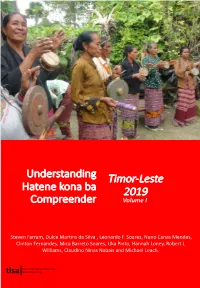
Understanding Hatene Kona Ba Compreender Timor-Leste 2019
Understanding Timor-Leste Hatene kona ba 2019 Compreender Volume I Steven Farram, Dulce Martins da Silva , Leonardo F. Soares, Nuno Canas Mendes, Clinton Fernandes, Mica Barreto Soares, Uka Pinto, Hannah Loney, Robert L Williams, Claudino Ninas Nabais and Michael Leach. Timor-Leste Studies Association tlsa www.tlstudies.org Hatene kona ba Timor-Leste 2019 Compreender Timor-Leste 2019 Understanding Timor-Leste 2019 Volume I 1 Proceedings of the Understanding Timor-Leste 2019 Conference, Liceu Campus, Universidade Nacional Timor- Lorosa’e (UNTL), Avenida Cidade de Lisboa, Dili, Timor-Leste, 27-28 June 2019. Edited by Steven Farram, Dulce Martins da Silva, Leonardo F. Soares, Nuno Canas Mendes, Clinton Fernandes, Mica Barreto Soares, Uka Pinto, Hannah Loney, Robert L Williams, Claudino Ninas Nabais and Michael Leach (eds). This collection first published in 2020 by the Timor-Leste Studies Association (www.tlstudies.org). Printed by Swinburne University of Technology. Copyright © 2020 by Steven Farram, Dulce Martins da Silva, Leonardo F. Soares, Nuno Canas Mendes, Clinton Fernandes, Mica Barreto Soares, Uka Pinto, Hannah Loney, Robert L Williams, Claudino Ninas Nabais, Michael Leach and contributors. All papers published in this collection have been peer refereed. All rights reserved. Any reproductions, in whole or in part of this publication must be clearly attributed to the original publication and authors. Cover photo courtesy of Lisa Palmer. Design and book layout by Susana Barnes. ISBN: 978-1-925761-26-9 (3 volumes, PDF format) 2 Contents – Volume 1 Lia Maklokek – Prefácio – Foreword 6 Lia Maklokek – CNC 8 Foreword – CNC 9 Dedication – Dr James Scambary 10 The Timor-Leste Studies Association 2005-2020: An Expanding Global Network 11 of Scholarship and Solidarity Clinton Fernandes, Michael Leach and Hannah Loney Hatene kona ba Timor-Leste 2019 17 1. -

Evaluation of Australian Aid to Timor-Leste
Evaluation of Australian aid to Timor-Leste Office of Development Effectiveness June 2014 © Commonwealth of Australia 2014 ISBN 978-0-9874848-1-9 With the exception of the Commonwealth Coat of Arms and where otherwise noted all material presented in this document is provided under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/) licence. The details of the relevant licence conditions are available on the Creative Commons website (accessible using the links provided) as is the full legal code for the CC BY 3.0 AU licence (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/legalcode). The document must be attributed as Office of Development Effectiveness, Evaluation of Australian aid to Timor-Leste, ODE, Canberra, 2014. Published by the Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2014. This document is online at www.ode.dfat.gov.au Disclaimer: The views contained in this report do not necessarily represent those of the Australian Government. For further information, contact: Office of Development Effectiveness Department of Foreign Affairs and Trade GPO Box 887 Canberra ACT 2601 Phone (02) 6178 4000 Facsimile (02) 6178 6076 Internet www.ode.dfat.gov.au Cover: Isabella Dacavarhlo maintains her family’s peanut and sweet potato crop while her husband in away in Dili. Isabella is joined by her daughter Elvita Bendita Da Seus Soares who is 7 years old and studies in class 1. Isabella is part of a Seeds of Life support group who received training in effective methods of planting, maintenance and post-harvest. Isabella lives in Salary village, Laga SubDistrict, with her husband and their 6 children. -

Mapping Ethnic Diversity in Highland Northern Vietnam
GeoJournal 57: 305–323, 2002. 305 © 2003 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Mapping ethnic diversity in highland Northern Vietnam Jean Michaud1, Sarah Turner2,∗ and Yann Roche3 1Chaire des Etudes´ asiatiques, Universit´e de Montr´eal, C.P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montr´eal, Qc, H3C 3J7, Canada; 2Department of Geography, McGill University, 805 St., Montr´eal, Qc, H3A 2K6, Canada; 3Department of Geography Uni- versit´eduQu´ebeca ` Montr´eal, C.P. 8888, Succ. Centre-Ville, Montr´eal, Qc, H3C 3P8, Canada; ∗Author for correspondence (Tel: (1 514) 398-4955; Fax: (1 514) 398-7437; E-mail: [email protected]) Received 5 March 2003; accepted 29 July 2003 Key words: cartography, ethnological maps, highland minorities, Northern Vietnam, Tonkin Abstract In this paper we initially present a critical review of a range of ethnological maps produced over the last 130 years for highland northern Vietnam. In particular we illustrate the many difficulties faced when trying to represent mosaics of ethnic highland minority groups on two dimensional maps. Such historical maps included no attempts to bring topographic details into the picture, an idea that would have been virtually impossible anyway, given the cartographic technologies at the time. Yet by not including such details or not representing them clearly, a partial image of these populations has been created that, over time, has become a standardised representation. Therefore, as a more systematic approach to the analysis of these highland minority groups, we present recent attempts to create more functional maps and models for the northern Vietnam province of Lao Cai, using modern cartographic techniques and geographic information systems. -

Land Issues in a Newly Indpeendent East Timor
Department of the INFORMATION AND RESEARCH SERVICES Parliamentary Library Research Paper No. 21 2000–01 Land Issues in a Newly Independent East Timor ISSN 1328-7478 Copyright Commonwealth of Australia 2001 Except to the extent of the uses permitted under the Copyright Act 1968, no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including information storage and retrieval systems, without the prior written consent of the Department of the Parliamentary Library, other than by Senators and Members of the Australian Parliament in the course of their official duties. This paper has been prepared for general distribution to Senators and Members of the Australian Parliament. While great care is taken to ensure that the paper is accurate and balanced, the paper is written using information publicly available at the time of production. The views expressed are those of the author and should not be attributed to the Information and Research Services (IRS). Advice on legislation or legal policy issues contained in this paper is provided for use in parliamentary debate and for related parliamentary purposes. This paper is not professional legal opinion. Readers are reminded that the paper is not an official parliamentary or Australian government document. IRS staff are available to discuss the paper's contents with Senators and Members and their staff but not with members of the public. Published by the Department of the Parliamentary Library, 2001 I NFORMATION AND R ESEARCH S ERVICES Research Paper No. 21 2000–01 Land Issues in a Newly Independent East Timor Daniel Fitzpatrick Consultant, Law and Bills Digest Group 6 February 2001 Acknowledgments Daniel Fitzpatrick is a Lecturer in the Faculty of Law, Australian National University. -

Policy and Human Resources Development (Phrd) Fund
POLICY AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (PHRD) FUND INTEGRATED THIRTY-YEAR ANNIVERSARY REPORT AND FISCAL YEARS 2019 AND 2020 ANNUAL REPORT Pioneering Change and Delivering Sustainable Development Results for Three Decades A Steadfast Approach to Fighting Poverty with Innovative Knowledge Masanori Yoshida, World Bank Group Executive Director for Japan: The PHRD’s track record has demonstrated its “agility and responsiveness to the ever-changing and increasingly complex needs of the developing world. The PHRD Fund has adjusted the framework of its Technical Assistance (TA) and non-TA programs to facilitate prompt responses to emerging development challenges. Moreover, the PHRD has enabled the accumulation of a vast body of knowledge and experience through its support to the critical role that scholars, researchers, leaders, and practitioners play in promoting and working toward sustainable development. The collaboration between the Government of Japan and the WBG and the evolution of the PHRD, demonstrate Japan’s confidence in its partnership with the WBG to steer PHRD resources effectively to operations in accordance with the WBG’s poverty reduction and equitable growth goals and strategies.” ii POLICY AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (PHRD) FUND THIRTY YEARS OF DEVELOPMENT IMPACT BY THE NUMBERS PHRD DEVELOPMENT IMPACT—SELECTED A commitment to OVERARCHING RESULTS achieving development results, including Over 214 million beneficiaries leveraging World reached (farmers, pregnant Bank Group (WBG) and lactating women, crisis workers) investments under preparation, co-financing, climate change initiatives, disaster risk and resilience, improving Over 1.2 million jobs Africa’s productivity, created (small-scale disability and farmers, animal development, achieving husbandry) universal health coverage (UHC) for all, Over 2.8 million pandemic children immunized preparedness, and educating a new generation of development leaders. -

Asian Perspectives
ASIAN PERSPECTIVES THE BULLETIN OF THE FAR-EASTERN PREHIS1'ORY ASSOCIATION VOLUME VIII. I SlJMMER I 964 Ed£tor WILHELM G. SOLHEIM II HONG KONG UNIVERSITY PRESS 19 66 © Hong Kong University Press, I966 Printed in April I966, I200 copies THE OXFORD UNIVERSITY PRESS, ELY HOUSE, 37 DOVER STREET, LONDON, W.I ARE THE EXCLUSIVE AGENTS FOR ALL COUNTRIES EXCEPT ASIA EAST OF BURMA Printed in Hong Kong by CATHAY PRESS 3I Wong Chuk Hang Road, Aberdeen ASIAN PERSPECTIVES Bulletin of the Far-Eastern Prehistory Association Editor: Wilhelm G. Solheim II; Regional Editors: Northeast Asia-Chester S. Chard; Korea-Kim Won-Yong; Japan-Ichiro Yawata; RyGkyG-Allan H. Smith; China Mainland-Kwang-chih Chang; Hong Kong-S. G. Davis; Vietnam-Truong Buu Lam; Cambodia-Bernard P. GrosIier; Thailand-Chin You-di and Vidya Intakosai; Burma-U Aung Thaw; India-B. B. Lal; Pakistan A. H. Dani; Ceylon-P. Deraniyagala; Madagascar-Pierre Verin; Malaya Alastair Lamb; Indonesia-R. Soekmono and R. P. Soejono; Malaysian Borneo Barbara Harrisson; Philippines-Alfredo E. Evangelista; Formosa-Kwang-chih Chang; Micronesia-Allan H. Smith; Polynesia-Yo H. Sinoto; New Zealand Owen Wilkes ; Melanesia-Richard Shutler, Jr ; Australia-Frederick D. McCarthy. Topical Editors: Trans-Pacific Contat.ts-Gordon F. Ekhohn; Linguistics-Milton E. Barker; Geography-Ooi Jin Bee. Occasional Contributors: Hallam L. Movius, Jr. THE FAR-EASTERN PREHISTORY ASSOCIATION International Officers: Council Members: Chairman-Wilhelm G. Solheim II,* Secretary-Roger Duff* (New Zealand), Ichiro Yawata* and Namio Egami (Japan), BernardP. Groslier* (Cambodia), Frederick McCarthy and Jack Golson* (Australia), A. P. Okladnikov** (Russia), Yu-ho Toh** (North Korea), Che-won Kim (South Korea), Li Chi (Republic of China, Taiwan), Hsia Nai** (China, Peking), F.