Atas Da República
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

O Sistema De Informação Da Presidência Da República Portuguesa
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS O Sistema de Informação da Presidência da República Portuguesa: estudo orgânico-funcional (1910-2014) Susana Filipa Carvalho Rodrigues Dissertação do Mestrado em Ciências da Documentação e Informação (Variante Arquivo) apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a orientação do Professor Doutor Carlos Guardado da Silva Setembro de 2015 UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS O Sistema de Informação da Presidência da República Portuguesa: estudo orgânico-funcional (1910-2014) Susana Filipa Carvalho Rodrigues Dissertação do Mestrado em Ciências da Documentação e Informação (Variante Arquivo) apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a orientação do Professor Doutor Carlos Guardado da Silva Setembro de 2015 Aos meus pais Ao Abel Agradecimentos Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu orientador, o Professor Doutor Carlos Guardado da Silva, toda a dedicação, estímulo e orientação no desenvolvimento e concretização deste trabalho. Agradeço o conhecimento que generosamente me transmitiu e, especialmente, as palavras de incentivo e de amizade durante todo o percurso. Agradeço reconhecidamente ao Dr. António Pina Falcão, Diretor da Direção de Serviços de Documentação e Arquivo da Secretaria-geral da Presidência da República, de quem recebi todo o apoio e as condições necessárias para o bom desenvolvimento e conclusão deste trabalho. Aos colegas das Divisões de Informação e Arquivo, e de Biblioteca e Documentação pelo apoio e incentivo constantes. Agradeço, em especial, ao colega e amigo José Manuel Dias que foi incansável no apoio prestado na recolha da legislação. Aos meus pais, à Rute, ao Gonçalo e à Inês e ao Vasco, por toda a dedicação e amor que me têm dedicado ao longo da vida, a base fundamental de todo o meu percurso. -

UMA HISTÓRIA De MANUEL DE ARRIAGA
1 UMA HISTÓRIA de MANUEL DE ARRIAGA MANUEL José DE ARRIAGA Brum da Silveira — advogado, professor, poeta, deputado —, ficou para a História como um dos políticos portugueses mais notáveis da transição do século XIX para o século XX, e da monarquia para a república, encarnando talvez o perfil mais puro de um republicano íntegro, desinteressado e totalmente devotado à causa pública. Foi o primeiro Presidente da República Portuguesa. De acordo com a informação documental disponível, Manuel de Arriaga nasceu na Horta a 8 de Julho de 1840. Porém, há quem defenda que terá nascido no Solar dos Arriagas, na Ilha do Pico, onde a família costumava passar os meses de Verão, e posteriormente baptizado e registado na Horta, residência habitual dos seus pais. Oriundo de uma família abastada e com tradições na política e na vida militar — o pai era o administrador do morgadio familiar, o avô paterno um general que se distinguira nas campanhas da Guerra Peninsular, e um tio-avô fora deputado às Cortes Constituintes de 1821-22 —, Manuel de Arriaga fez os estudos elementares na cidade natal, e em 1861 foi viver para Coimbra para frequentar o curso de Direito. Na Univer- sidade, onde foi aluno distinto, cedo começou a revelar-se como notável orador e interveniente activo nas lutas estudantis, sendo um dos subscritores do Manifesto dos Estudantes da Uni- versidade de Coimbra à Opinião Ilustrada do País, redigido e publicado por Antero de Quental. A sua adesão ao positivismo filosófico e a defesa dos ideais do republicanismo democrático valeram-lhe a rejeição da família, tendo sido deserdado pelo pai, que o proibiu de voltar a casa. -
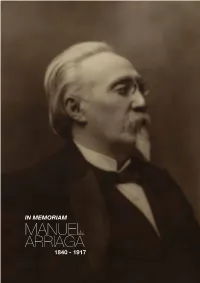
Manuelde ARRIAGA 1840 - 1917
IN MEMORIAM MANUELde ARRIAGA 1840 - 1917 IN MEMORIAM MANUELde ARRIAGA 1840 - 1917 Museu da Presidência da República, 2017 MANUEL DE ARRIAGA 08.07.1840 – 05.03.1917 Manuel de Arriaga,enquanto estudante em Coimbra. Colecção particular anuel José de Arriaga Brum da Silveira nasceu na cidade da Horta, ilha do Faial, a 8 de Julho de 1840. Era o quarto filho de Sebastião de Arriaga Brum da Silveira e de Maria Cristina Pardal de Arriaga. MPertencia a uma família aristocrática e com posses, mas sabe-se pouco sobre a sua infância e juventude. Matriculou-se no curso de Direito, na Universidade de Coimbra, em 1861. Nesta cidade conviveu com Antero de Quental e fez parte da Sociedade do Raio, uma organização estudantil que lutava pela reforma do ensino universitário. Em 1862, foi um dos 315 signatários do Manifesto dos Estudantes da Universidade de Coimbra à Opinião Ilustrada. Neste período aderiu às ideias republicanas e incompatibilizou-se com o pai, monárquico. O corte de relações significou o fim do apoio financeiro paterno e Manuel de Arriaga viu-se obrigado a dar aulas de inglês para poder sustentar os seus estudos. Apesar das dificuldades e da participação activa nos movimentos estudantis da época, Arriaga foi um dos melhores alunos do seu curso, tendo obtido o grau de bacharel em 1865 e a formatura em 1866. Entre 1866 e 1872, viveu em Lisboa. Na capital, integrou a equipa do jornal A República. Jornal da Democracia Portuguesa, com Antero de Quental, Oliveira Martins, Luciano Cordeiro, Eça de Queiroz e Jaime Batalha Reis. Manuel de Arriaga, sentado à mesa de trabalho Colecção particular Esteve ainda ligado ao projecto das Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, assinando o documento de protesto contra o seu encerramento em Julho de 1871. -

Texto E Autoridade. Diversificação Sociocultural E Religiosa Com a Sociedade Bíblica Em Portugal (1804-1940) Volume II – Cronologia E Anexos
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS Texto e Autoridade. Diversificação sociocultural e religiosa com a Sociedade Bíblica em Portugal (1804-1940) Volume II – Cronologia e Anexos Rita Alexandra Borda de Água Mendonça Leite Orientadores: Professor Doutor António Manuel Antunes de Matos Ferreira Professor Doutor José Augusto Martins Ramos Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor no ramo de História, na especialidade de História e Cultura das Religiões 2017 UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS Texto e Autoridade. Diversificação sociocultural e religiosa com a Sociedade Bíblica em Portugal (1804-1940) Volume II – Cronologia e Anexos Rita Alexandra Borda de Água Mendonça Leite Orientadores: Professor Doutor António Manuel Antunes de Matos Ferreira Professor Doutor José Augusto Martins Ramos Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor no ramo de História, na especialidade de História e Cultura das Religiões Júri: Presidente: Professor Doutor Victor Manuel Guimarães Veríssimo Serrão, Professor Catedrático e Membro do Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Vogais: Doutor Francisco Diez de Velasco Abellán, Professor Catedrático da Facultad de Humanidades da Universidad de La Laguna, Espanha; Doutor Alfredo Manuel Matos Alves Rodrigues Teixeira, Professor Associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa; Doutor José António Martin Moreno Afonso, Professor Auxiliar do Instituto de Educação da Universidade do Minho; Doutor Sérgio Carneiro Campos Matos, Professor Associado com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Doutor António Manuel Antunes de Matos Ferreira, Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, orientador. Instituição Financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/61749/2009) 2017 Texto e Autoridade. -

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL E EXCLUSIVAMENTE NACIONAL - Por Ordem Alfabética Das Empresas
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL E EXCLUSIVAMENTE NACIONAL - Por ordem alfabética das empresas Nº DESIGNAÇÃO DA EMPRESA CONCELHO MORADA LOCALIDADE CÓDIGO E LOCALIDADE POSTAL ÂMBITO ALV./L.COM. 10 DE JULHO - TRANSPORTES, LDA. VILA FRANCA DE XIRA PRAÇA FRANCISCO CÂNCIO, Nº 38, 4º B 2600-535 ALHANDRA NAC./INT. 668824 100 DEMORAS - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, SINTRA RUA DAS INDÚSTRIAS, Nº 12 QUELUZ DE BAIXO 2745-838 QUELUZ NAC. 664872 LDA. 101% EXPRESS, ENTREGAS RÁPIDAS, LDA. PORTO RUA JOÃO MARTINS BRANCO, 41-3º ESQº 4150-431 PORTO NAC./INT. 663409 10TAKLÉGUAS - UNIPESSOAL, LDA. ARRUDA DOS VINHOS LARGO DO ALTO, Nº. 1 2630-539 SANTIAGO DOS VELHOS NAC./INT. 666535 2 AB - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, ALCOBAÇA ESTRADA NACIONAL Nº 1 2475-027 BENEDITA NAC. 658416 LDA. 2 AB II - PEÇAS AUTO, LDA. ALCOBAÇA ESTRADA NACIONAL Nº 1, KM 82 2476-901 BENEDITA NAC. 668417 2FT - TRANSPORTES FERNANDO & FILIPE, LDA. ÁGUEDA RUA DE VALE D'ERVA, PAREDES 3750-314 ÁGUEDA NAC./INT. 663630 2M - TRANS-ALUGUER E VENDA DE EQUIPAMENTOS PENAFIEL RUA DO CARVALHO DE BAIXO, Nº 19 4575-264 OLDRÕES NAC./INT. 669027 INDUSTRIAIS, LDA. 301 TRANS, UNIPESSOAL, LDA. GONDOMAR RUA DR. SALGADO ZENHA, ENTRADA 17, SALA 2 4435-219 RIO TINTO NAC./INT. 667330 RUA JOSÉ LOPES CASQUILHO, CONDOMÍNIO 321 JUNK SERVICES, LDA. LOURES MURTEIRA 2670-550 LOURES NAC. 669514 CERRADO DA EIRA, VIVENDA 2 360 TRANS - TRANSPORTES E REBOQUES, LDA. GOUVEIA RUA DO SOITO, N.º 5 6290-241 PAÇOS DA SERRA NAC./INT. 667667 365 DIAS - TRANSPORTES, LDA. LOULÉ RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, NºS. 33 E 35 LOULÉ 8100-707 LOULÉ NAC./INT. -

José De Arriaga Was Born in the City of Horta
ARRIAGA, José de (Horta, 1848 – Lisbon, 1921) José de Arriaga was born in the city of Horta (Azores), in 1848, into an aristocratic family descended from Flemish, French and Basque stock, settled on the island of Faial over several generations. His parents lived comfortably, being owners of extensive entailed estates (see “Os Últimos Vínculos Arriaga Brum da Silveira e o Herdeiro Manuel de Arriaga”, in O Tempo de Manuel de Arriaga, 2004, p. 156). In 1861, José de Arriaga, then thirteen years old, moved to Coimbra with his student brother Manuel. Being eight years younger, he would start with preliminary studies before entering the Faculty of Law, in 1864, and finishing his course in 1869. In Coimbra in the 1860s the student community was discovering new cultural and political concerns which were behind activities with a large impact on public opinion, such as the student protests, organized in a secret society (the Sociedade do Raio [Thunderbolt Society]), in the university’s historic sala dos Capelos, against the orders of the Rector (1862), and the famous Questão Coimbrã (1865), a dispute over the status of Romanticism. It was in this atmosphere that José de Arriaga spent his adolescence and youth, under the tutelage of his older brother. Furthermore, Republican societies were mobilizing many students, such as Antero de Quental, José Falcão, Emídio Garcia, Teófilo Braga, Eça de Queiroz, Manuel de Arriaga, amongst others (see O Republicanismo em Portugal da Formação ao 5 de Outubro de 1910, vol. 1, 1991, p. 25). It was in this environment that José de Arriaga passed his adolescence and youth, under the guardianship of his older brother. -

An Appointment with History, Tradition and Flavours
AN APPOINTMENT WITH HISTORY, TRADITION AND FLAVOURS UNIÃO EUROPEIA GOVERNO Fundo Europeu de DOS AÇORES Desenvolvimento Regional 36º 55’ 44’’ N, 25º 01’ 02’’ W - Azores, PORTUGAL INTANGIBLE HERITAGE balconies. Azorean traditions, characterised by their festive and cheerful spirit, Azorean people have a peculiar way of being and living due to the take several forms. The street bullfight tradition, which is especially geographic and climate conditions of each island, in addition to important on Terceira Island, goes back to the islands’ first settlers and volcanism, insularity and the influence of several settlers, who did all the Spanish presence in the Azores. Carnival is another relevant tradition they could to adjust to these constraints. By doing so, they created a in the Azores, varying from island to island. There is typical season food TANGIBLE HERITAGE facilities, namely the Whale Factory of Boqueirão, on Flores Island, the cultural identity which expresses itself through traditions, art, shows, and music and, on São Miguel Island, there are gala events. Carnival is Old Whale Factory of Porto Pim, on Faial Island, and the Environmental social habits, rituals, religious manifestations and festivities, in which also intensely celebrated in Graciosa and Terceira, where people of all The volcanic phenomena that have always affected the Azores led and Cultural Information Centre of Corvo Island, which is located in the brass bands and folk dance groups are a mandatory presence. ages dress, sing and dance vividly. the population to find shelter in religiousness and to search for divine village’s historic centre and which displays information on the way of Azorean festivities and festivals are essentially characterised by lively On Terceira Island, in particular, there are some typical dances, called protection. -

Desdobravel Frente-Ingl
NATIONAL PALACE OF BELÉM Classified as a national monument in 2007, Belém Palace became the seat of the presidency after 1910. With a history spanning more than five centuries, Belém Palace has served as the official residence of the President of the Republic since the election of the first President, Manuel de Arriaga. In the mid-sixteenth century, D. Manuel of Portugal, a figure of the Portuguese Renaissance, constructed the main building of the palace on land leased to monks from the Order of St. Jerome. In 1726, the property was acquired by King João V to serve as his holiday residence and remained in the royal family's possession until 1908. From then on, guardianship was entrusted to the Ministry of Foreign Affairs, which used Belém Palace to host visiting foreign officials until the foundation of the Republic in 1910. Palace ENGLISH Cascade Gardens Constructed under the orders of Queen Maria I, the imposing structure of the Cascade Gardens once housed exotic birds. An image Museu da Presidência da República of Hercules marks the garden's Tuesday to Sunday, 10 a.m. – 6 p.m. central axis. (last entry at 5:30 p.m.) Guided group tours available via pre-booking . Chapel Guided tours of Belém Palace and the gardens Saturdays: 10:30 a.m., 11:30 a.m., 2:30 p.m., In 2002, the chapel received a group 3:30 p.m., 4:30 p.m. (tour availability is dependent on the presidential schedule) of eight pastel paintings by Paula . Closed Rego, which portray the life of the 1 January | Easter Sunday | 1 May Virgin Mary. -

201222154934.Pdf
1 A HISTORY of MANUEL DE ARRIAGA MANUEL José DE ARRIAGA Brum da Silveira — lawyer, teacher, poet, congressman —, became part of history as one of the most notorious Portuguese politicians of the 19th - 20th century transition and from the monarchy to the republic, assuming the purest profile of a republican who was honest, selfless and completely devoted to the public cause. He was the first President of the Portuguese Republic. According to the available documental information, Manuel de Arriaga was born in Horta on July 8th 1840. However, some defend that he might have been born in the Arriagas manor, on Pico Island, where his family used to spend the summer months and was later baptized and registered in Horta, his parents’ legal residence at the time. Born into a wealthy family with traditions in politics and military life — his father was the family primogeniture, his grandfather on his father’s side was a general who had distinguished in the Peninsular War, and a great-uncle had been a congressman to the Constituent Courts from 1821-22 —, Manuel de Arriaga had his elementary schooling in his hometown and, in 1861, moved to Coimbra to attend Law School. In University, where he was an honor student, he soon proved to be a speaker of note and actively intervened in student strug- gles, being a subscriber of University of Coimbra Students’ Manifesto to the Country’s Illustrated Opinion, written and published by Antero de Quental. His adhesion to philosophical positivism and the defense of democratic republican ideals got him rejected by his family having been disowned by his father, who banned him from coming home. -

978-956-6095-08-8.Pdf
1 2 Froilán Ramos Rodríguez Travesía de la Esperanza La inmigración portuguesa en Barquisimeto (1948-1958) 3 Froilán Ramos Rodríguez Travesía de la Esperanza La inmigración portuguesa en Barquisimeto (1948-1958) ISBN: 978-956-6095-08-8 Primera Edición: FEDUPEL, Caracas, 2018 Segunda Edición: Santiago de Chile, diciembre 2020 Gestión editorial: Ariadna Ediciones http://ariadnaediciones.cl/ Portada: Acta de matrimonio del consulado portugués en Caracas de 1945 Composición: Matías Villa Juica Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivadas 4.0 Internacional. Este libro contó con el auspicio de la Universidad de la Santísima Concepción 4 Solo llega lejos aquel que tiene capacidad de soñar en grande, y dedicarlo con esfuerzo. Germán Carrera Damas (Palacio de las Academias, 7.III.2012) Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Los pasos en el polvo, y el fuego en la sangre, El sudor en la frente, mano sobre el hombro, El llanto en la memoria, Todo queda cerrado por anillos de sombra. Con címbalos antiguos el tiempo nos levanta. Con címbalos, con vino, con ramos de laureles. Mas en el alma caen acordes penumbrosos. La pesadumbre cava con pezuñas de lobo. Escuchad hacia adentro los ecos infinitos, Los cornos del enigma en vuestras lejanías. Vicente Gerbasi “Mi padre el inmigrante” (Antología Poética, 2004, p. 52) 5 6 ÍNDICE PREFACIO………………………………………………………… 13 INTRODUCCIÓN………………………………………………… 15 CAPÍTULO I.……………………………………………………… 19 POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL ESTADO VENEZOLANO… 19 (1936-1958 La República en Armas (1811-1830)………………………………. 19 Los proyectos del Estado venezolano (1830-1858)………………... 22 Después de cinco años en guerra (1858-1899)…………………….. 28 Un Estado Centralizado (1899-1935)…………………………….. -

Dom Manuel II of Portugal. Russell Earl Benton Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1975 The oD wnfall of a King: Dom Manuel II of Portugal. Russell Earl Benton Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Benton, Russell Earl, "The oD wnfall of a King: Dom Manuel II of Portugal." (1975). LSU Historical Dissertations and Theses. 2818. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2818 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that die photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

Resumo Cronológico Da História De Portugal
RESUMO CRONOLÓGICO DA HISTÓRIA DE PORTUGAL 1093 – Pelo casamento com D. Teresa de Leão, filha de D. Afonso VI de Leão e Castela, e pelos serviços prestados na Reconquista, D. Henrique de Borgonha recebe o Condado Portucalense. 1108 – Nascimento de D. Afonso Henriques. 1139 - Início construção da Sé Velha de Coimbra. 1143- D. Afonso Henriques é reconhecido como Rei de Portugal. 1147 – Conquista de Lisboa ao Mouros. - Início construção da Sé Catedral de Lisboa. A conquista de território aos Mouros permite-lhe ampliar as fronteiras do Reino. 1162 - Início construção do Convento de Cristo em Tomar. 1178 - Construção do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, também conhecido como Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça ou mais simplesmente como Mosteiro de Alcobaça. Primeira obra plenamente gótica em Portugal. 1195 – Nascimento em Lisboa de Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo – mais conhecido por Santo António de Lisboa. 1249- Conquista definitiva do Algarve marcando o fim da ocupação muçulmana. 1271 – Nascimento da Rainha Santa Isabel. 1276 - 1277 – Pontificado de João XXI - Pedro Julião, ou Pedro Hispano, nascido em Lisboa em data desconhecida. 1290- D. Dinis funda a Universidade de Coimbra. 1345 – Morte de Inês de Castro. 1373 – Assinado o Tratado de Londres ou Aliança Luso-Britânica sendo a mais antiga aliança diplomática do mundo ainda em vigor. Esta Aliança foi renovada em 1386 com o Tratado de Windsor e firmada com o casamento do rei D. João I com D. Filipa de Lencastre. 1383-1385- Crise de independência desencadeada pelo problema da sucessão ao trono português. A Crise termina com a assinatura do Tratado de Paz de 1411, após a aclamação do Mestre de Avis como Rei de Portugal, com o título de D.