Identificações Com O Indie Rock E O Rock Gaúcho1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Caroline Govari Nunes
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS UNIDADE ACADÊMICA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NÍVEL MESTRADO CAROLINE GOVARI NUNES AS PRÓXIMAS HORAS SERÃO MUITO BOAS Materialidades e estéticas da Comunicação em duas apresentações ao vivo da banda Cachorro Grande São Leopoldo 2016 CAROLINE GOVARI NUNES AS PRÓXIMAS HORAS SERÃO MUITO BOAS Materialidades e estéticas da Comunicação em duas apresentações ao vivo da banda Cachorro Grande Texto de Dissertação apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS Orientador: Prof. Dr. Fabrício Lopes da Silveira São Leopoldo 2016 N972p Nunes, Caroline Govari As próximas horas serão muito boas : materialidades e estéticas da comunicação em duas apresentações ao vivo da banda Cachorro Grande / por Caroline Govari Nunes. – 2016. 169 f.: il. ; 30 cm. Dissertação (mestrado) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, São Leopoldo, RS, 2016. “Orientação: Prof. Dr. Fabrício Lopes da Silveira.” 1. Cachorro Grande (conjunto musical). 2. Materialidades da comunicação. 3. Estéticas da comunicação. 4. Arqueologia da mídia. 5. Rock gaúcho. I. Título. CDU: 78.085.3 Catalogação na Publicação: Bibliotecário Alessandro Dietrich - CRB 10/2338 Dedico esta dissertação ao meu sobrinho, Bernardo, com todo o amor que eu nem sabia que existia dentro de mim. AGRADECIMENTOS Aos professores da -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto De Artes Programa De Pós-Graduação Em Música Tese De Doutorado
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA TESE DE DOUTORADO ESCUTA PORTÁTIL E APRENDIZAGEM MUSICAL: um estudo com jovens sobre a audição musical mediada pelos dispositivos portáteis SÍLVIA NUNES RAMOS PORTO ALEGRE 2012 SÍLVIA NUNES RAMOS ESCUTA PORTÁTIL E APRENDIZAGEM MUSICAL: um estudo com jovens sobre a audição musical mediada pelos dispositivos portáteis Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Música. Área de Concentração: Educação Musical. Orientadora: Profa. Dra. Jusamara Souza PORTO ALEGRE 2012 In memoriam de minha mãe Onea. Palavras de incentivo ainda ecoam dentro de mim. Ao meu pai Sidney, pela compreensão silenciosa e conselhos valiosos. A minha irmã Liz, pelo carinho e objetividade nos momentos difíceis. Ao meu cunhado Giácomo, um grande amigo. Ao meu sobrinho Adriano, pelas performances de bateria. AGRADECIMENTOS Muitos foram os amigos que participaram desta minha caminhada, durante os quatro anos de doutoramento e sou grata a eles. Gostaria de expressar, particularmente, meus agradecimentos: A CAPES, pela concessão da bolsa de estudos, que me proporcionou tranquilidade para que pudesse me dedicar somente às tarefas acadêmicas. Ao Programa de Pós-Graduação em Música, da UFRGS, em especial, às professoras Any Raquel Carvalho, Maria Elizabeth Lucas, Liane Hentschke e Ney Fialkow. À minha orientadora Profa. Dra. Jusamara Souza, companheira de ideias inovadoras. Sua competência acadêmica vislumbrou a possibilidade deste estudo, iniciado em março de 1996, lançando as bases, a partir do Tazo na aula de música; a seguir descortinamos a Música da Televisão no Cotidiano de Crianças, em 2002, e, finalmente, chegamos à Escuta Portátil dos jovens. -

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Centro De Excelência Em Turismo Graduação Em Turismo
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Centro de Excelência em Turismo Graduação em Turismo JÉSSICA SILVA PRUDENTE CICCI PORÃO DO ROCK: CULTURA, IDENTIDADE E TURISMO BRASÍLIA 2017 JÉSSICA SILVA PRUDENTE CICCI PORÃO DO ROCK: CULTURA, IDENTIDADE E TURISMO Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Turismo. Orientadora: Prof.a Dr.a Iara Lucia Gomes Brasileiro. BRASÍLIA 2017 Cicci, Jéssica Silva Prudente. Porão do Rock: cultura, identidade e turismo/ Cicci, Jéssica Silva Prudente. – Brasília, UnB, 2017. 49 f. : il. Monografia (Bacharelado) – Universidade de Brasília, Centro de Excelência em Turismo, 2017. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Iara Lucia Gomes Brasileiro. 1.Conceito de Turismo. 2. Contextualização do rock. 3. Porão do Rock de Brasília e a importância na manutenção da identidade local. JÉSSICA SILVA PRUDENTE CICCI Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Turismo. PORÃO DO ROCK: CULTURA, IDENTIDADE E TURISMO Banca Examinadora: ______________________________________________________ Prof.ª. Dr.ª Iara Lucia Gomes Brasileiro – Orientadora ______________________________________________________ Prof. Dr. Luiz Carlos Spiller Pena – Avaliador interno ______________________________________________________ Prof.ª. Dr.ª Ivany Câmara Neiva – Avaliadora interna _______________________________________________________ Profa. Mestre Elaine Gomes Borges da Silva - Suplente Brasília, 03 de Julho de 2017. Ao meu pai por sempre estar ao meu lado e ser o herói e exemplo por toda a minha vida. AGRADECIMENTOS Inicialmente quero agradecer à minha orientadora Iara por todo o suporte nessa fase tão conturbada da minha vida, pela paciência e pelo incentivo à paixão por minha profissão. -

Narrativas Distópicas Na Obra Do Pink Floyd (1973-1983)
FRANCO SANTOS ALVES DA SILVA O LADO ESCURO: NARRATIVAS DISTÓPICAS NA OBRA DO PINK FLOYD (1973-1983) Tese submetida ao Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de doutor em História Cultural. Orientador: Prof. Dr. Márcio Roberto Voigt Florianópolis 2018 Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. da Silva, Franco Santos Alves O Lado Escuro: narrativas distópicas na obra do Pink Floyd (1973-1983) / Franco Santos Alves da Silva ; orientador, Márcio Roberto Voigt, 2018. 473 p. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Florianópolis, 2018. Inclui referências. 1. História. 2. História contemporânea. 3. Distópia. 4. Pink Floyd. I. Voigt, Márcio Roberto . II. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História. III. Título. Este trabalho é dedicado à minha família, em especial aos meus pais. AGRADECIMENTOS Nenhuma tese de doutorado se faz sozinha. A minha trajetória acadêmica contou com apoio de diversos colegas. Em primeiro à irretocável orientação do Dr. Márcio Roberto Voigt. Ao Programa de Pós-graduação em História da UFSC, em especial aos membros da linha de pesquisa Sociedade, Política e Cultura no Mundo contemporâneo Adriano Duarte, Alexandre Busco Valim e Waldir José Rampinelli. Agradeço aos membros da banca os professores doutores Guilherme Simões de Castro, Luciano Azambuja, Paulo Rogério Melo de Oliveira, Rafael Rosa Hagemeyer e Sidnei José Munhoz. Aos professores Jeremy Wayne Wallach por ter me aceito para estudar na Bowling Green State University, Ohio, mas que por cortes de bolsas não pude concretizar, e ao musicólogo Philip Rose pela disposição e ajuda. -

Andy Robbins
[email protected] nightshift.oxfordmusic.net Free every month NIGHTSHIFT Issue 213 April Oxford’s Music Magazine 2013 PET MOON PET MOON PET Andrew Mears talks art, Blessing Force and life after Youthmovies. plus Introducing BEAR TRAP. OXFORD PUNT line-up announced. Festival news - Truck, Cornbury, Wilderness, Riverside and more, and six pages of local gigs. NIGHTSHIFT: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU. Phone: 01865 372255 NEWS Nightshift: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU Phone: 01865 372255 email: [email protected] Online: nightshift.oxfordmusic.net The August List; The Graceful Slicks. The White Rabbit: Limbo Kids; Poledo; Ags Connolly; After The Thought. The Punt kicks off at 7pm at the Purple Turtle with Phil McMinn VAN MORRISON AND SQUEEZE have been confirmed as headline and finishes at the White Rabbit at acts for this summer’s Cornbury Festival alongside Keane, who were midnight with After The Thought. revealed in last month’s Nightshift along with Echo & The Bunnymen, The bill takes in an eclectic range Imelda May and Seth Lakeman. of sounds, from indie, metal, folk, Squeeze will top the first night of the festival and are joined on the alt.country and electronica, to afro- Friday by Imelda May, Beverly Knight, The Overtones, King Charles, pop, rock, hip hop, post-rock and Matthew Lee and Nell Bryden. The Goggenheim, who don’t fit Keane are Saturday night’s headliners, heading a bill that also features into any pigeonhole, however hard the Bunnymen, The Proclaimers, Lawson, James Arthur, Osibisa, Jack you try to squeeze them. Savoretti, JJ Grey, Emilia Mitiku and Velvet Stream. -

3. As Negociações Identitárias Da Cachorro Grande
Tensões identitárias nas cenas musicais de Porto Alegre. Cachorro Grande e o rock gaúcho CAROLINE GOVARI NUNES Universidade do Vale do Rio dos Sinos – [email protected] Jornalista graduada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Bolsista CAPES/PROSUP de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da UNISINOS. FABRÍCIO LOPES DA SILVEIRA Universidade do Vale do Rio dos Sinos – [email protected] Doutor em Comunicação (Unisinos). Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos. Bolsista CAPES de Pós-Doutorado Sênior no Exterior (processo n. 5939-14- 3), realizado junto à University of Salford, na Inglaterra (UK). Resumo O artigo expõe questões relacionadas às cenas musicais de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e às tensões identitárias ali presentes. Primeiramente, fazemos um apanhado geral da cena de rock local e, dentro deste contexto, tentamos averiguar as adequações (ou não) da banda Cachorro Grande ao chamado “rock gaúcho”. Pensamos nos modos como esta cena musical se apresenta para refletir sobre práticas culturais e identitárias neste espaço urbano e para entender a relação da Cachorro Grande com este cenário. Em nossas experiências de pesquisa, viemos utilizando abordagens metodológicas baseadas na etnografia. Apresentaremos, portanto, ao longo do texto, trechos de entrevistas etnográficas com integrantes da banda. Nossa ideia, aqui, é evidenciar um constante jogo de performances, negociações simbólicas e tensões identitárias entre as cenas locais e a banda. Para tanto, nos apoiamos em autores como Stuart Hall, Will Straw, Kathryn Woodward, dentre outros. Palavras-chave Cachorro Grande, Cenas musicais, Identidade cultural, Porto Alegre, Rock gaúcho. -

Comunidade Rock E Bandas Independentes De Florianópolis: Uma Etnografia Sobre Socialidade E Concepções Musicais
TATYANA DE ALENCAR JACQUES COMUNIDADE ROCK E BANDAS INDEPENDENTES DE FLORIANÓPOLIS: UMA ETNOGRAFIA SOBRE SOCIALIDADE E CONCEPÇÕES MUSICAIS Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Prof. Dr. Rafael José de Menezes Bastos Florianópolis 2007 2 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL “COMUNIDADE ROCK E BANDAS INDEPENDENTES DE FLORIANÓPOLIS: UMA ETNOGRAFIA SOBRE SOCIALIDADE E CONCEPÇÕES MUSICAIS” TATYANA DE ALENCAR JACQUES Orientador: Dr. Rafael José de Menezes Bastos Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Antropologia Social, aprovada pelos seguintes professores: Dr. Rafael José de Menezes Bastos (Orientador – UFSC) Dra. Kátia Maheirie (PSI/UFSC) Dra. Carmen Rial (PPGAS/UFSC) Florianópolis, 08 de março de 2007. 3 À memória de meu amigo Rafael “Popão”. À minha irmã, Cristiane. 4 Agradecimentos Agradeço a todas as bandas independentes por existirem e proporem alternativas. Aos integrantes das bandas Cabeleira de Berenice, Lixo Organico, Os Cafonas, Os Ambervisions, Os Capangas do Capeta, Los Rockers, Kratera, Pão Com Musse, Xevi 50, Euthanasia, Black Tainhas, Brasil Papaya, Pipodélica e Zoidz, principalmente a Mancha, a Zimmer, a Amexa, a Dudz, a Boratto e sua esposa Ceciliana, a Paulinho Rocker, a Christian Mazza, a Xuxu, a Felipe Batata, a Cachorro, a Garganta, a Sil B e aos amigos Willy, Blu e Gustavo. Agradeço a meu orientador Rafael José de Menezes Bastos, com quem muito aprendi durante todo o processo de elaboração desta dissertação e a quem muito admiro e respeito, pela dedicação e apoio sempre. -
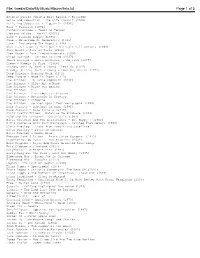
File: /Media/Data/My Music/Albuns/Lista.Txt Page 1 of 5
File: /media/Data/My Music/Albuns/lista.txt Page 1 of 5 Antonio Carlos Jobim e Elis Regina - Elis&Tom Belle And Sebastian - The Life Pursuit (2006) Belle And Sebastian - Tigermilk (1996) Blur - Parklife (1994) Cachorro Grande - Todos os Tempos Caetano Veloso - Perfil (2006) Cake - Fashion Nugget (1996) Cake - Motorcade Of Generosity (1994) Cake - Prolonging The Magic (1998) Chet Baker & Gerry Mulligan - Carnegie Hall Concert (1990) Chet Baker - Jazz in Paris (2002) Chet Baker - Jazz 'round midnight (1990) Chico Buarque - Carioca Ao Vivo (2007) Chico Buarque & Maria Bethania - Ao Vivo (1975) Cream - Wheels Of Fire (1968) Crosby, Stills, Nash & Young - Deja Vu (1970) Crosby, Stills, Nash & Young - Four Way Street (1971) Deep Purple - Machine Head (1972) Deep Purple - Made In Japan (1973) Die Prinzen - 10 Jahre Popmusik (2002) Die Prinzen - Alles Mit´m Mund Die Prinzen - Alles nur geklaut Die Prinzen - D Die Prinzen - Das Leben Ist Grausam Die Prinzen - Monarchie in Germany Die Prinzen - Schweine Die Prinzen - So viel Spass fuer wenig Geld (1999) Dire Straits - Brothers in Arms (1985) Dire Straits - Dire Straits (1978) Dirty Pretty Things - Waterloo To Anywhere (2006) Echo and The Bunnymen - Ocean Rain (1984) Elvis Costello And The Attractions - Get Happy!! (1980) Elvis Costello With Burt Bacharach - Painted From Memory (1998) Elvis Presley - Aloha from Hawaii Via Satellite Elvis Presley - Elvis in Concert Elvis Presley - Moody Blue Emerson Lake & Palmer - Brain Salad Surgery (1973) Engenheiros do Hawaii - Acustico MTV (2004) Eric Clapton -

1. Antonio Carlos Jobim E Elis Regina - Elis&Tom 2
1. Antonio Carlos Jobim e Elis Regina - Elis&Tom 2. Belle And Sebastian - The Life Pursuit (2006) 3. Belle And Sebastian - Tigermilk (1996) 4. Ben Harper - Both Sides Of The Gun (2006) 5. Ben harper - Diamonds on the inside (2003) 6. Blur - Parklife (1994) 7. Cachorro Grande - Todos os Tempos 8. Caetano Veloso - Perfil (2006) 9. Cake - Fashion Nugget (1996) 10. Cake - Motorcade Of Generosity (1994) 11. Cake - Prolonging The Magic (1998) 12. Chet Baker & Gerry Mulligan - Carnegie Hall Concert (1990) 13. Chet Baker - Jazz in Paris (2002) 14. Chet Baker - Jazz 'round midnight (1990) 15. Chico Buarque - Carioca Ao Vivo (2007) 16. Chico Buarque & Maria Bethania - Ao Vivo (1975) 17. Cream - Wheels Of Fire (1968) 18. Crosby, Stills, Nash & Young - Deja Vu (1970) 19. Crosby, Stills, Nash & Young - Four Way Street (1971) 20. Damien Rice - O (2003) 21. David Bowie - Diamond Dogs (1974) 22. Deep Purple - Machine Head (1972) 23. Deep Purple - Made In Japan (1973) 24. Die Prinzen - 10 Jahre Popmusik (2002) 25. Die Prinzen - Alles Mit´m Mund (1996) 26. Die Prinzen - Alles nur geklaut 27. Die Prinzen - D 28. Die Prinzen - Das Leben Ist Grausam (1992) 29. Die Prinzen - Monarchie in Germany (2003) 30. Die Prinzen - Schweine 31. Die Prinzen - So viel Spass fuer wenig Geld (1999) 32. Dire Straits - Brothers in Arms (1985) 33. Dire Straits - Dire Straits (1978) 34. Dirty Pretty Things - Waterloo To Anywhere (2006) 35. Echo and The Bunnymen - Ocean Rain (1984) 36. Elvis Costello And The Attractions - Get Happy!! (1980) 37. Elvis Costello With Burt Bacharach - Painted From Memory (1998) 38. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto De
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS ÁREA: ESTUDOS DE LITERATURA LINHA DE PESQUISA: LITERATURA, SOCIEDADE E HISTÓRIA DA LITERATURA HENRIQUE SANTOS CARDONI ANÁLISE DO ROCK DO RIO GRANDE DO SUL DOS ANOS 1960, 70 E 80: ESTUDO PELA FREQUÊNCIA DE PALAVRAS Porto Alegre 2021 HENRIQUE SANTOS CARDONI ANÁLISE DO ROCK DO RIO GRANDE DO SUL DOS ANOS 1960, 70 E 80: ESTUDO PELA FREQUÊNCIA DE PALAVRAS Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Literatura, Sociedade e História da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Prof. Dr. Carlos Augusto Bonifácio Leite Porto Alegre 2021 HENRIQUE SANTOS CARDONI ANÁLISE DO ROCK DO RIO GRANDE DO SUL DOS ANOS 1960, 70 E 80: ESTUDO PELA FREQUÊNCIA DE PALAVRAS Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Literatura, Sociedade e História da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Prof. Dr. Carlos Augusto Bonifácio Leite Aprovada em: Banca Examinadora: ________________________________ Prof. Dr. Carlos Augusto Bonifácio Leite Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS ________________________________ Prof. Dr. Luís Augusto Fischer Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS ________________________________ Prof. Dr. Ruben George Oliven Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS ________________________________ Prof. Dr. Carlo Machado Pianta Para meu avô, Volnyr Santos, por me ensinar a importância das palavras. AGRADECIMENTOS Agradeço, em primeiro lugar, Vera, Mario e Júlia Cardoni, pelo apoio incondicional. -

Oxford's Music Magazine
[email protected] @NightshiftMag NightshiftMag nightshiftmag.co.uk Free every month NIGHTSHIFT Issue 268 November Oxford’s Music Magazine 2017 “Music that comes from the darker parts of our lives has more depth, and resonates more” Little Red Into the deep, dark woods with Oxford’s southern gothic folksters Also in this issue: THE CELLAR - safe, for now... Introducing 31HOURS Ritual Union reviewed plus: all your Oxford music news, reviews and EIGHT PAGES OF LOCAL GIGS NIGHTSHIFT: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU. Phone: 01865 372255 NEWS Nightshift: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU Phone: 01865 372255 email: [email protected] Online: nightshiftmag.co.uk this date are still available, priced £12 at www.wegottickets.com/ michaelbarryfund. Youthmovies recently put their entire back catalogue, including CORNBURY FESTIVAL returns next year. This summer’s Cornbury, 2008 album `Good Nature’, up on th Bandcamp on a pay-what-you-like the 14 annual festival, was advertised as the last one after years of basis. Get your fix at financial struggle. But the event, headlined by Bryan Adams, Kaiser ymss.bandcamp.com. Chiefs and Jools Holland’s Rhythm’n’Blues Orchestra, sold out – only the second time the festival has recorded a profit, and after pressure from MAIIANS make a return to live OXFORD CITY FESTIVAL fans and musicians, organiser Hugh Phillimore changed his mind and next action in December. The local th th returns for its fifth outing this year’s Cornbury Festival will take place over the weekend of the 13 -15 instrumental electro band, who July at Great Tew Country Park. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Biblioteconomia E Comunicação Programa De Pós-Graduação Em Comunicação E Informação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO Marcelo Bergamin Conter LO-FI Agenciamentos de baixa definição na música pop Porto Alegre 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO Marcelo Bergamin Conter LO-FI Agenciamentos de baixa definição na música pop Tese de doutorado apresentada à banca examinadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM-UFRGS) como requisito parcial para obtenção do título de doutor. Orientador: Prof. Dr. Alexandre Rocha da Silva. Linha de pesquisa: Cultura e significação Porto Alegre 2016 Marcelo Bergamin Conter LO-FI Agenciamentos de baixa definição na música pop Tese de doutorado apresentada à banca examinadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM-UFRGS) como requisito parcial para obtenção do título de doutor. Aprovado em 16 de março de 2016, por: Prof. Dr. Alexandre Rocha da Silva – UFRGS (orientador) ___________________________________________________________________________ Profa. Dra. Ana Maria Ochoa Gautier – Columbia University ___________________________________________________________________________ Prof. Dr. Fabrício Lopes da Silveira –UNISINOS ___________________________________________________________________________ Prof. Dr. Gustavo Daudt Fischer – UNISINOS __________________________________________________________________________