Vol.1, Nº2 (2014)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Biochemical Comparison of Two Hypostomus Populations (Siluriformes, Loricariidae) from the Atlântico Stream of the Upper Paraná River Basin, Brazil
Genetics and Molecular Biology, 32, 1, 51-57 (2009) Copyright © 2009, Sociedade Brasileira de Genética. Printed in Brazil www.sbg.org.br Research Article Biochemical comparison of two Hypostomus populations (Siluriformes, Loricariidae) from the Atlântico Stream of the upper Paraná River basin, Brazil Kennya F. Ito1, Erasmo Renesto1 and Cláudio H. Zawadzki2 1Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Biologia Celular e Genética, Maringá, PR, Brazil. 2Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Biologia/Nupelia, Maringá, PR, Brazil. Abstract Two syntopic morphotypes of the genus Hypostomus - H. nigromaculatus and H. cf. nigromaculatus (Atlântico Stream, Paraná State) - were compared through the allozyme electrophoresis technique. Twelve enzymatic systems (AAT, ADH, EST, GCDH, G3PDH, GPI, IDH, LDH, MDH, ME, PGM and SOD) were analyzed, attributing the score of 20 loci, with a total of 30 alleles. Six loci were diagnostic (Aat-2, Gcdh-1, Gpi-A, Idh-1, Ldh-A and Mdh-A), indicating the presence of interjacent reproductive isolation. The occurrence of few polymorphic loci acknowledge two morphotypes, with heterozygosity values He = 0.0291 for H. nigromaculatus and He = 0.0346 for H. cf. nigromaculatus. FIS statistics demonstrated fixation of the alleles in the two morphotypes. Genetic identity (I) and dis- tance (D) of Nei (1978) values were I = 0.6515 and D = 0.4285. The data indicate that these two morphotypes from the Atlântico Stream belong to different species. Key words: allozymes, Hypostomus nigromaculatus, fish genetics, genetic distance and polymorphism. Received: March 18, 2008; Accepted: September 5, 2008. Introduction to settle doubts regarding the taxonomic status of undes- The Neotropical region, encompassing southern Me- cribed species of the Brazilian ichthyofauna (Renesto et al., xico and Central and South America, possesses the richest 2000, 2001, 2007; Zawadzki et al., 2000, 2004). -

Overview of Parana Delta1 Parana River
Overview of Parana Delta1 Author: Verónica M.E. Zagare2 Parana River The Parana River is considered the third largest river in the American Continent, after the Mississippi in the United States and the Amazonas in Brazil. It is located in South America and it runs through Brazil, Paraguay and Argentina, where it flows into the Río de la Plata. Its length is 2570 Km and its basin surface is around 1.51 million km2. The two initial tributaries of the Parana are the Paranaiba River and the Grande River, both in Brazil, but the most important tributary is the Paraguay River, located in homonymous country. In comparison with other rivers, the Paraná is about half the length of the Mississippi River (6211 km), but it has similar flow. Parana River’s mean streamflow is 18500 m3/s (Menendez, 2002) and Mississippi’s flow is 17704 m3/s. Thus, the Parana has twice the length of the Rhine (1320 km), but it has 8 times its flow (2300 m3/s). Figure 1: Parana River location. Source: Zagare, V. (2010). 1 Developed for the U.S. Senate Committee on Environment and Public Works (Trip to Parana Delta, August 2011). 2 Architect and MsC in Urban Economics; PhD candidate (Department of Urbanism, Delft University of Technology). Delta Alliance contact in Argentina. Email: v.m.e.zagare @tudelft.nl Through the Parana Delta and the Rio de la Plata estuary drains to the Atlantic Ocean the second major hydrographic basin of South America (La Plata Basin). From a geologic perspective, the complex system of the delta and the estuary are considered a dynamic sedimentary geologic- hydrologic unit which has a vital relevance not only for the region -a high populated area with more than 22 million inhabitants- but also for the hydrology of South American continent. -

The Battlefields of Disagreement and Reconciliation
Dissidences Hispanic Journal of Theory and Criticism Volume 4 Issue 8 Reconciliation and its Discontents Article 4 November 2012 The Battlefields of Disagreement and Reconciliation. 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870) Sebastían Díaz-Duhalde Dartmouth College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences Recommended Citation Díaz-Duhalde, Sebastían (2012) "The Battlefields of Disagreement and Reconciliation. 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870)," Dissidences: Vol. 4 : Iss. 8 , Article 4. Available at: https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol4/iss8/4 This Article / Artículo is brought to you for free and open access by the Journals at Bowdoin Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Dissidences by an authorized editor of Bowdoin Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. The Battlefields of Disagreement and Reconciliation. 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870) Keywords / Palabras clave Reconciliation, Memory, Argentina, Paraguay, Latin America, Politican Violence This article / artículo is available in Dissidences: https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol4/iss8/4 DISSIDEnCES Hispanic Journal of Theory and Criticism The Battlefields of Disagreement and Reconciliation: 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870). Sebastián Díaz-Duhalde / Dartmouth College Consensus is not peace. It is a map of war operations, a topography of the visible, the thinkable, and the possible in which war and peace are lodged. Jacques Rancière. Chronicles of Consensual Times. On November 29, 2007, during the ceremony for the rebuilding of Yacyretá, the hydroelectric power station project between Argentina and Paraguay, the Argentine president Cristina Fernández de Kirchner publicly commented on the war that the Triple Alliance of Argentina, Uruguay, and the Dissidences. -

1 Regional Project/Programme
REGIONAL PROJECT/PROGRAMME PROPOSAL PART I: PROJECT/PROGRAMME INFORMATION Climate change adaptation in vulnerable coastal cities and ecosystems of the Uruguay River. Countries: Argentina Republic and Oriental Republic of Uruguay Thematic Focal Area1: Disaster risk reduction and early warning systems Type of Implementing Entity: Regional Implementing Entity (RIE) Implementing Entity: CAF – Corporación Andina de Fomento (Latin American Development Bank) Executing Entities: Ministry of Environment and Sustainable Development of Argentina and Ministry of Housing, Land Planning and Environment of Uruguay. Amount of Financing 13.999.996 USD (in U.S Dollars Equivalent) Requested: 1 Project / Programme Background and Context: 1.1. Problem to be addressed – regional perspective 1. The Project’s implementation is focused on the lower Uruguay river´s littoral area, specifically in the vulnerable coastal cities and ecosystems in both Argentinean and Uruguayan territories. The lower Uruguay river´s littoral plays a main role being a structuring element for territorial balance since most cities and port-cities are located in it, with borther bridges between the two countries (Fray Bentos – Gualeguaychú; Paysandú – Colón; and Salto – Concordia). The basin of the Uruguay river occupies part of Argentina, Uruguay and Brazil, with a total area of approximately 339.000 Km2 and an average flow rate of 4.500 m3 s-1. It´s origin is located in Serra do Mar (Brazil), and runs for 1.800 Km until it reaches Río de la Plata. A 32% of its course flows through Brazilian territory, 38% forms the Brazil-Argentina boundary and a 30% forms the Argentina-Uruguay boundary. 2. The Project’s area topography is characterized by a homogeneous landform without high elevations, creating meandric waterways, making it highly vulnerable to floods as one of its main hydro-climatic threats, which has been exacerbated by the effects of climate change (CC). -
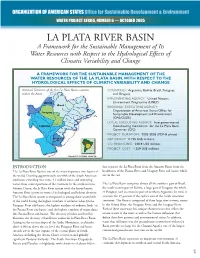
LA PLATA RIVER BASIN a Framework for the Sustainable Management of Its Water Resources with Respect to the Hydrological Effects of Climatic Variability and Change
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES Office for Sustainable Development & Environment WATER PROJECT SERIES, NUMBER 6 — OCTOBER 2005 LA PLATA RIVER BASIN A Framework for the Sustainable Management of Its Water Resources with Respect to the Hydrological Effects of Climatic Variability and Change A FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES OF THE LA PLATA BASIN,WITH RESPECT TO THE HYDROLOGICAL EFFECTS OF CLIMATIC VARIABILITY AND CHANGE National Territories of the five La Plata Basin countries COUNTRIES: Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, within the Basin and Uruguay IMPLEMENTING AGENCY: United Nations Environment Programme (UNEP) REGIONAL EXECUTING AGENCY: Organization of American States/Office for Sustainable Development and Environment (OAS/OSDE) LOCAL EXECUTING AGENCY: Intergovernmental Coordinating Committee for the La Plata Basin Countries (CIC) PROJECT DURATION: 2003-2005 (PDF-B phase) GEF GRANT: 0.725 US$ millions CO-FINANCING: 0.834 US$ millions PROJECT COST: 1.559 US$ millions INTRODUCTION that separate the La Plata Basin from the Amazon Basin, form the The La Plata River Basin is one of the most important river basins of headwaters of the Parana River and Uruguay River sub-basins which the world. Draining approximately one-fifth of the South American rise in the east. continent, extending over some 3.1 million km2, and conveying waters from central portions of the continent to the south-western The La Plata Basin comprises almost all the southern part of Brasil, Atlantic Ocean, the la Plata River system rivals the better-known the south-eastern part of Bolivia, a large part of Uruguay, the whole Amazon River system in terms of its biological and habitat diversity. -

(Testudines: Chelidae) in Southern Brazil
Herpetology Notes, volume 11: 147-152 (2018) (published online on 10 February 2018) New records, threats and conservation of Phrynops williamsi (Testudines: Chelidae) in Southern Brazil Tobias S. Kunz1,2, Ivo R. Ghizoni-Jr.1, Jorge J. Cherem1, Raissa F. Bressan1,2,*, Simone B. Leonardi2 and Juliana C. Zanotelli2 Abstract. We present new records of Phrynops williamsi in southern Brazil and field observations that point to at least three threats to the species in the Upper Uruguay River Basin. Our report provides for the first time direct observation of death and injuries as a consequence of falls from dams and walls of hydroelectric plants shortly after the reservoir formation, apparently as an attempt to abandon the artificial lakes; it also corroborates the species’ dependence on lotic environments, justifying the increasing concern with its conservation in southern Brazil. Keywords: Geographic distribution, freshwater turtle, hydroelectric dams, environmental licensing, Uruguay River Introduction quality. This is mainly due to the sequential formation of hydroelectric dams in the Iguaçu and Uruguay river Phrynops williamsi Rhodin and Mittermeier, 1983 basins, respectively; because it has disappeared from is a poorly known freshwater turtle that inhabits free areas of these basins which were flooded after the flowing rivers with rocky bottoms in southern Brazil, formation of hydroelectric reservoirs, apparently due Uruguay, north-eastern Argentina and south-eastern to the transformation of a lotic to a lentic environment. Paraguay (Turtle Taxonomy Working Group, 2014). As a contribution to the knowledge of distribution and Even though it has not been globally assessed for conservation status of P. williamsi, we present new the IUCN Red List, P. -

Territorial Planning an La Plata Basin Borders
© 2018 Editors Antonio Paulo Cargnin Aldomar Arnaldo Rückert Bruno de Oliveira Lemos Editorial Board Carla Giane Soares da Cunha Fernando Dreissig de Moraes Irma Carina Macolmes Language Review Marlise Margô Henrich Layout Diego MeneghettI Ronaldo Machado Cover Design Laurie Fofonka Cunha Institutional support Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGEA) Instituto de Geociências (IGEO) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Brazil Dados Internacionais de Publicação Bibliotecária Regina de Carvalho Pereira CRB8/91772 T327 Territorial planning and La Plata Basin borders / Antonio Paulo Cargnin, Aldomar Arnaldo Rückert, Bruno www.editoraletra1.com.br de Oliveira Lemos (Eds.) . – Porto Alegre : Editora Letra1, [email protected] 2018. 232p. (+5551) 3372 9222 ISBN 978-85-63800-35-0 DOI 10.21826/9788563800350 Rua Lopo Gonçalves, 554 1. Brasil - Fronteiras.2. La Plata - Fronteira. 3. Território. I. Cidade Baixa 90050-350 Cargnin, Antonio Paulo. II. Rückert, Aldomar Arnaldo. III Porto Alegre, RS, Brazil Lemos, Bruno de Oliveira. III. Título. CNPJ 12.062.268/0001-37 CDD 320.12 III LA PLATA REGION TRIPOINTS: STATE OF THE MATTER AND DESCRIPTIVE COMPARISON Alejandro Benedetti ABSTRACT Where the Paraná and Iguazú rivers meet, the most important and studied trinational region of South America is located: the Triple Frontier. However, this is only one of the 13 tripartite points that were formed in that continental region from the process of interstate delimitation which occurred, centrally, between the late 19th and early 20th century. Five out of these involve the countries of La Plata Basin, and will be called: Quareim (Argentina-Brazil-Uruguay); Iguazú (Argentina-Brazil-Paraguay); Esmeralda (Argentina-Bolivia-Paraguay); Zapaleri (Argentina-Bolivia-Chile); and Bahía Negra (Argentina- Bolivia-Brazil). -

Co-312 the Riverhead of Uruguai River: Origins of A
CO-312 THE RIVERHEAD OF URUGUAI RIVER: ORIGINS OF A CONTROVERSY RESENDE A.C.D.R.B., SANTOS C.J.B.D., MATHIAS M.D.A. IBGE, RIO DE JANEIRO, BRAZIL 1. BACKGROUND AND OBJECTIVES The accuracy of the geographic names in a map much contributes to the accuracy of the cartographic information, making a large contribution to savings and efficiency in the operation of government, business and industry, communication, and education. Geographic names play an important role in issues such as access to disaster-stricken areas, efficiency in communication, not to mention land property and territorial disputes. In Brazil, the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and the Brazilian Army, the main institutions responsible for the official mapping of the country often face problems with the standardization of the names of rivers, which is one of the most critical issues in the field of Geographic Names, once the country lacks a national institution directly responsible for the standardization of the denominations of these geographic features and their springs. In addition, as rivers often demarcate the boundaries between territories and/or countries, their names are likely to vary along the years, since the action of naming is closely linked to issues of political power. In some cases, the geographic name is the crucial factor in accurately establishing the spring of a river. This is the case of one of the most important rivers in the south of Brazil: the Uruguai River, whose riverhead is claimed to be located both in the confluence of rivers Pelotas and Canoas and Pelotas and Peixe. -

THE URUGUAY PAPER PULP MILL DISPUTE: HIGHLIGHTING the GROWING IMPORTANCE of NGOS and PUBLIC PROTEST in the ENFORCEMENT of INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW by Michael K
Sustainable Development Law & Policy Volume 7 Article 24 Issue 1 Fall 2006: Ocean & Fisheries Law The rU uguay Paper Pulp Mill Dispute: Highlighting the Growing Importance of NGOs and Public Protest in the Enforcement of International Environmental Law Michael K. Lee Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wcl.american.edu/sdlp Part of the Environmental Law Commons, International Law Commons, Law of the Sea Commons, and the Litigation Commons Recommended Citation Lee, Michael K. “The rU uguay Paper Pulp Mill Dispute: Highlighting the Growing Importance of NGOs and Public Protest in the Enforcement of International Environmental Law.” Sustainable Development Law & Policy, Fall 2006, 71-73. This Litigation Update is brought to you for free and open access by the Washington College of Law Journals & Law Reviews at Digital Commons @ American University Washington College of Law. It has been accepted for inclusion in Sustainable Development Law & Policy by an authorized administrator of Digital Commons @ American University Washington College of Law. For more information, please contact [email protected]. LITIGATION UPDATE THE URUGUAY PAPER PULP MILL DISPUTE: HIGHLIGHTING THE GROWING IMPORTANCE OF NGOS AND PUBLIC PROTEST IN THE ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW by Michael K. Lee* INTRODUCTION 1975 Statute of the River Uruguay. Argentina further argued that or the past two years the governments and the affected the two mills were being built in the “worst imaginable” place in peoples of Argentina and Uruguay have been in conflict terms of protection of the river, that there is “a very serious prob- over the potential environmental hazards that the con- ability” of environmental damage, and that the damage would be F 1 struction of two mega paper pulp mills would bring to the “irreparable.” Uruguay replied that the mills will apply the Uruguay River and neighboring area. -

Geodetic Method to Obtain a Digital Elevation Model Associated to the Brazilian Geodetic System
International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR) ISSN: 2321-0869 (O) 2454-4698 (P) Volume-7, Issue-9, September 2017 Geodetic method to obtain a digital elevation model associated to the Brazilian Geodetic System Robert Martins da Silva, Virnei Silva Moreira, Alexandre Bernardino Lopes Abstract— The present paper presents a geodetic environment that shows as consequence impossibility of the methodological proposal used to link limnimetric ruler to the areas near rivers and creeks absorb floods [13]. Brazilian Geodetic System (SGB) and obtain a Digital Elevation It is important to highlight that, in addition to the lack of Model (MDE) applied to flood areas also linked to the GBS. The financial resources to be invested in the municipality, there is bond of the rules to the GBS was given by the geometric an almost frequent expense with the damages caused by the levelling using as a starting point a Reference of Level (RN) of the Basic Altimetric Network of Brazil (RAFB) and finalizing in increase in river level. Most riverside families live in one of the limnimetric rules implanted by the Geological Service so-called flying houses, these are wooden houses and can be of Brazil (CPRM) the margins of the Uruguay River. The transported from one place to another. But in some extreme coordinates within the study area were determined by the events such as the one occurred in the year 2014, some relative static positioning of the GNSS, using as reference a families lost all their belongings and in some cases, even their forced centering frame whose coordinates were obtained by homes, leaving to the public power to help with the expenses Positioning by Precision Point (PPP) made available by the of these families. -

Transboundary River Basin Overview – La Plata
0 [Type here] Irrigation in Africa in figures - AQUASTAT Survey - 2016 Transboundary River Basin Overview – La Plata Version 2016 Recommended citation: FAO. 2016. AQUASTAT Transboundary River Basin Overview – La Plata. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, Italy The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO. FAO encourages the use, reproduction and dissemination of material in this information product. Except where otherwise indicated, material may be copied, downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given and that FAO’s endorsement of users’ views, products or services is not implied in any way. All requests for translation and adaptation rights, and for resale and other commercial use rights should be made via www.fao.org/contact-us/licencerequest or addressed to [email protected]. -

DREF Emergency Plan of Action (Epoa) Brazil: Floods
DREF Emergency Plan of Action (EPoA) Brazil: Floods DREF Operation: Floods in southern Brazil (MDRBR007) Glide no. FL-2015-000092-BRA Date issued: 31 July 2015 Date of disaster: 14 July 2015 Operation manager (responsible for this EPoA): Pabel Ángeles Point of Contact: Andre Araujo, Risk IFRC Disaster Management Coordinator for South America and Disaster Management Coordinator [email protected] of the Brazilian Red Cross Operation start date: 15 July 2015 Expected timeframe: 3 months Overall operation budget: 186,625 Swiss francs (CHF) Number of people affected: 109,740 persons Number of people to be assisted: 2,500 (500 families) Host National Society presence: 1 Headquarters, 21 branches, 5,000 volunteers and 300 staff members Red Cross Red Crescent Movement partners actively involved in the operation: International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and the International Committee of the Red Cross (ICRC) Other partner organisations actively involved in the operation Governmental Organizations: Civil Defence, Secretariat of Government, Social Assistance, Secretariat of Health, Secretariat of Works, Secretariat of Urban Mobilization, Secretariat of Security Non-governmental Organizations: Rio Grandense de Saneamiento Company, Rio Grande Energy (RGE), Boy Scouts, Club de las Madres, National Organization for Animal Protection (ONDA is its acronym in Portuguese) <Click here to view the DREF budget. Here for the map of the affected area. Here for the contact information> A. Situation Analysis Description of the Disaster On 14 July 2015 Rio Grande Do Sul Civil Defence declared an emergency at the municipal level, reporting floods in several cities. The Uruguay River’s water levels reached 13.57 meters, whose average levels are barely five or six meters.