Um Panorama Do Universo Cyberpunk, O Anime E O Ciborgue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Research Commons at The
http://waikato.researchgateway.ac.nz/ Research Commons at the University of Waikato Copyright Statement: The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). The thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: Any use you make of these documents or images must be for research or private study purposes only, and you may not make them available to any other person. Authors control the copyright of their thesis. You will recognise the author’s right to be identified as the author of the thesis, and due acknowledgement will be made to the author where appropriate. You will obtain the author’s permission before publishing any material from the thesis. FROM 'AMBIGUOUSLY GAY DUOS' TO HOMOSEXUAL SUPERHEROES: THE IMPLICATIONS FOR MEDIA FANDOM PRACTICES A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Screen and Media At The University of Waikato By GEMMA CORIN The University of Waikato 2008 Abstract Despite traversing the fine line between homosocial and homosexual (Brooker, 2000) in his controversial text Seduction of the Innocent, Fredric Wertham’s (1954) description of Batman and Robin as a ‘wish dream of two homosexuals living together’ (Lendrum, 2004, p.70) represents one of the first published queer readings of superhero characters. This text can also be interpreted as the commencement of, and subsequent intense interest in the way superhero characters often portray a ‘camp’ sensibility (Medhurst, 1991) representative of a queer performative identity (Butler, 1993). -

Listeréalisateurs
A Crossing the bridge : the sound of Istanbul (id.) 7-12 De lʼautre côté (Auf der anderen Seite) 14-14 DANIEL VON AARBURG voir sous VON New York, I love you (id.) 10-14 DOUGLAS AARNIOKOSKI Sibel, mon amour - head-on (Gegen die Wand) 16-16 Highlander : endgame (id.) 14-14 Soul kitchen (id.) 12-14 PAUL AARON MOUSTAPHA AKKAD Maxie 14 Le lion du désert (Lion of the desert) 16 DODO ABASHIDZE FEO ALADAG La légende de la forteresse de Souram Lʼétrangère (Die Fremde) 12-14 (Ambavi Suramis tsikhitsa - Legenda o Suramskoi kreposti) 12 MIGUEL ALBALADEJO SAMIR ABDALLAH Cachorro 16-16 Écrivains des frontières - Un voyage en Palestine(s) 16-16 ALAN ALDA MOSHEN ABDOLVAHAB Les quatre saisons (The four seasons) 16 Mainline (Khoon Bazi) 16-16 Sweet liberty (id.) 10 ERNEST ABDYJAPOROV PHIL ALDEN ROBINSON voir sous ROBINSON Pure coolness - Pure froideur (Boz salkyn) 16-16 ROBERT ALDRICH Saratan (id.) 10-14 Deux filles au tapis (The California Dolls - ... All the marbles) 14 DOMINIQUE ABEL TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA voir sous GUTIÉRREZ La fée 7-10 Rumba 7-14 PATRICK ALESSANDRIN 15 août 12-16 TONY ABOYANTZ Banlieue 13 - Ultimatum 14-14 Le gendarme et les gendarmettes 10 Mauvais esprit 12-14 JIM ABRAHAMS DANIEL ALFREDSON Hot shots ! (id.) 10 Millenium 2 - La fille qui rêvait dʼun bidon dʼessence Hot shots ! 2 (Hot shots ! Part deux) 12 et dʼune allumette (Flickan som lekte med elden) 16-16 Le prince de Sicile (Jane Austenʼs mafia ! - Mafia) 12-16 Millenium 3 - La reine dans le palais des courants dʼair (Luftslottet som sprangdes) 16-16 Top secret ! (id.) 12 Y a-t-il quelquʼun pour tuer ma femme ? (Ruthless people) 14 TOMAS ALFREDSON Y a-t-il un pilote dans lʼavion ? (Airplane ! - Flying high) 12 La taupe (Tinker tailor soldier spy) 14-14 FABIENNE ABRAMOVICH JAMES ALGAR Liens de sang 7-14 Fantasia 2000 (id. -

Censorship of Anime in Italian Distribution Ilaria Parini
Document generated on 10/02/2021 1:04 a.m. Meta Journal des traducteurs Translators’ Journal Censorship of Anime in Italian Distribution Ilaria Parini La manipulation de la traduction audiovisuelle Article abstract The Manipulation of Audiovisual Translation Editing of anime – Japanese cartoons – is a process through which the product Volume 57, Number 2, June 2012 is altered in order to make it appropriate for the public. Such a practice is quite common all over the Western world, and Italy is no exception. Japanese anime URI: https://id.erudit.org/iderudit/1013948ar are not designed only for an audience of children, and there exist different DOI: https://doi.org/10.7202/1013948ar types of products aimed at viewers of different ages; consequently, in Japan anime are shown at various time slots according to their characteristics. In Italy, on the contrary, cartoons are generally considered a product targeted See table of contents exclusively at children, and even those anime which were originally designed for an older audience are broadcast during the protected time slot and therefore have to comply to certain standards regarding their content and the Publisher(s) type of language spoken. Censorship thus tends to take place both on the visual and the verbal levels: scenes considered inappropriate are removed from the Les Presses de l’Université de Montréal story, the plot is often changed, the text is frequently domesticated in its references to the Japanese culture, and the language is flattened. Italian ISSN translators take an active part in the editing of anime: as they are the first ones 0026-0452 (print) to actually see the episodes, they are supposed to report to their commissioners 1492-1421 (digital) any ambiguous element they come across, and they perform (self)censorship on the verbal level, manipulating the dialogue exchanges as is expected by the translation company. -

The Magical Boy As Queering Device Alexandre Girard Vermeil a Thesis
Moon Prism Boys: The Magical Boy as Queering Device Alexandre Girard Vermeil A Thesis In The Mel Hoppenheim School of Cinema Presented in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts (Film Studies) at Concordia University Montreal, Quebec, Canada June 2020 © Alexandre Girard Vermeil, 2020 CONCORDIA UNIVERSITY School of Graduate Studies This is to certify that the thesis prepared By: Alexandre Girard Vermeil Entitled: Moon Prism Boys: The Magical Boy as Queering Device and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts (Film Studies) Complies with the regulations of the University and meets the accepted standards with respect to originality and quality. Signed by the final Examining Committee: Chair Marc Steinberg, PhD Examiner (Internal) Beenash Jafri, PhD Examiner (External) Bryan Hikari Hartzheim, PhD Supervisor Marc Steinberg, PhD Approved by Marc Steinberg, PhD, Graduate Program Director 2020 Annie Gérin, PhD, Dean of Faculty iii ABSTRACT Moon Prism Boys: The Magical Boy as Queering Device Alexandre Girard Vermeil Through a queer lens, this thesis examines the role that the magical boy character plays in the manga Magical Boy Majorian (2007-2008), and in season 15 of the popular magical girl genre anime franchise Pretty Cure, entitled Hugtto! PreCure (2018-2019). Using queer theory and gender studies research, this thesis argues that the magical boy figure challenges problematic forms of masculinity by performing what I call ‘shōjoness,’ a particular form of feminine aesthetic mainly found in shōjo (for girls) manga, and anime. The thesis contends that henshin (transformation) sequences allow a space for gender negotiation, which disrupts a heteronormative structure through the crossing, and blending, of gender expression and form. -
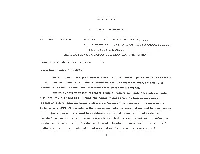
Abstract Political Science Fuller, Frank R. B.A
ABSTRACT POLITICAL SCIENCE FULLER, FRANK R. B.A. OGLETHORPE U1JIVERSITY, 2000 M.S. GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2001 THE ATOMIC BOMB: REFLECTIONS IN JAPANESE MANGA AND ANIME Committee Chair: Robert B. DeJanes, Ph.D. Dissertation dated May 2012 This study examines post-World War II “anime” and manga based on the bomb’s after-effects and changes in Japanese mindsets resulting from the War, especially as inspired by Osamu Tezuka and later artists influenced by his works. This study theorized that Japanese political culture elements, through particular plotlines, could be traced in manga and anime themes carrying hidden messages repeatedly referencing the bomb’s effects on Japan, citing Tezuka’s influence, in the 1945-65 and 1985-95 periods, in the post-apocalyptic, science fiction, and fantasy genres. Case studies were used to qualitatively assess data for historical evidence of Tezuka’s influence across specific genres, from scholarly studies and reviews of manga. comics, and related media. Evidence ofTezuka-inspired themes, such as hope out of endless devastation (the phoenix analogy) and man’s destructive obsession with technology by conquering nature (dependent variables), were analyzed from a comparativist, historical viewpoint, as influenced by atomic bomb-related themes. The researcher explains the Japanese fascination with technology and why many anime show status quo disagreements. Japan absorbed trauma from the bomb, was invaded by foreigners, and faced a complete overhaul. Post-war, the economy grew rapidly, but Japan must reduce rigidity and social conformity. The Japanese are aware of the US role in their dual defense arrangement; Japan felt discomfort as a junior-partner in the 1950s-60s. -

The Japanimated Folktale: Analysis Concerning the Use and Adaptation of Folktale Characteristics in Anime
Western Kentucky University TopSCHOLAR® Masters Theses & Specialist Projects Graduate School 8-2012 The aJ panimated Folktale: Analysis Concerning the Use and Adaptation of Folktale Characteristics in Anime Amber N. Slaven Western Kentucky University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wku.edu/theses Part of the Folklore Commons Recommended Citation Slaven, Amber N., "The aJ panimated Folktale: Analysis Concerning the Use and Adaptation of Folktale Characteristics in Anime" (2012). Masters Theses & Specialist Projects. Paper 1198. http://digitalcommons.wku.edu/theses/1198 This Thesis is brought to you for free and open access by TopSCHOLAR®. It has been accepted for inclusion in Masters Theses & Specialist Projects by an authorized administrator of TopSCHOLAR®. For more information, please contact [email protected]. THE JAPANIMATED FOLKTALE: ANALYSIS CONCERNING THE USE AND ADAPTATION OF FOLKTALE CHARACTERISTICS IN ANIME A Thesis Presented to The Faculty of the Department of Folklore and Anthropology Western Kentucky University Bowling Green, Kentucky In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Arts By Amber N. Slaven August 2012 For Tom, who introduced me to anime. ACKNOWLEDGEMENTS A written work is never really a product of one individual, but it is a thing created by many. Several layers of revision and suggestion from an abundance of friends, professors, and knowledgeable folk help to make a written thing whole. For this particular essay, I had the very best individuals who helped direct my thoughts into something both feasible and worthwhile. And, therefore, I will give these individuals the recognition that is their due. Firstly, without the support of my committee members Drs. -

Dragon Ball Z: 26 Free Download
DRAGON BALL Z: 26 FREE DOWNLOAD Akira Toriyama | 208 pages | 29 Apr 2010 | Viz Media, Subs. of Shogakukan Inc | 9781421506364 | English | San Francisco, United States Dragon Ball Z Problems playing this file? Comments Section Load Comment Section. Reinhard note that "Western fans flocked to Dragon Ball Z because it offered exciting action not found in movies or television shows animated or otherwise at that Dragon Ball Z: 26. I know every volume there is always fighting and I am writing constantly how badly these fights out but its true worth the read to witness these different fighting sequences. April 9, Alternate Versions. You must be a registered user to use the IMDb rating plugin. Retrieved February 2, Dragon Ball 1 - 10 of 42 books. Error rating book. Kid Boo is destroyed and the Earth is saved. June So in the end Goku becomes Oob's master and they fly far away so they can begin their training and help the next generation of fighters. July 18, Toriyama elevated comics fighting to an art form. No one more evil, danger, and peace to the galaxy. Dragon Ball Z remains a cultural icon through numerous adaptations and re-releases, including a more-recent remastered broadcast titled Dragon Ball Z: 26 Ball Kai. Dragon Ball Z continues the adventures of Gokuwho, along with his companions, defend the Earth against villains ranging from aliens Friezaandroids Cell and Dragon Ball Z: 26 creatures Majin Buu. The story goes:- Goku is the main protagonist of the series and he is approached by a girl named Bulma who's in search for the dragon balls Dragon Ball Z: 26 their way they meet an old man who tries to gets seduced, Kame Sama. -

The Economies of Anime Anime As
The Economies of Anime Anime as a soft power, a cultural product and a (trans)national medium Uyoyo Onemu - 1236065 MPhil - Screen Media Research Brunel University London ii Contents Acknowledgments v Abstract vi Chapter 1. Literature review and methodology 1 Chapter 2. Anime as a Japanese cultural product 33 and a (trans)national medium Chapter 3. The cultural and economic influence of Studio Ghibli 51 Chapter 4. Neo-nationalism and pacifism in anime 83 Chapter 5. International anime fandom & subculture 97 Chapter 6. Final conclusions 113 Bibliography & media 119 iii iv Acknowledgments I would like to note my appreciation and thankfulness to my supervisor, Dr. Leon Hunt, Senior Lecturer in Arts and Humanities at Brunel University. Throughout the process of writing this thesis, Leon has always been a tremendous help. Not only did his broad knowledge in the field, his suggestions, corrections and advice make this thesis what it is now, but I also would like to express my appreciation for his support, which always helped me to regain my enthusiasm and determination. v Abstract Japanese animation, from here on referred to as anime, occupy an important and unique position in Japanese contemporary media. In my thesis, I will discuss and explore the following questions and current debates about anime as national Japanese product: - What is the importance of anime for the Japanese economy? - Has anime - as part of Japanese popular culture - become a soft power for Japan? - What is the cultural and national identity of anime? - Is anime a transnational product? Anime is the Japanese word for animation (brought to the screen, through series or film). -

Animation Studies – Vol.3, 2008 33
Animation Studies – Vol.3, 2008 María Lorenzo Hernández Visions of a Future Past Ulysses 31, a Televised Re-interpretation of Homer’s Classic Myth This paper gives an overview of the animated series Ulysses 31 (1981), a French-Japanese co- production based on the epic poem The Odyssey, which introduced children and young audiences to Greek myths, relocating the original narratives into futuristic contexts such as the 31st century. Twenty-five years later Ulysses 31 remains a cult series, however it is also largely unknown since the images it invokes are buried in the memories of childhood. Although the series substitutes the wooden ships with spacecrafts crossing the universe of Olympus, Ulysses 31 manages to capture some of the original relationships within Homer’s thesis, in spite of their eccentric portrait. The heavy use of pastiche takes us back to the 1980s and the emergence of the ‘new’ fantasy-driven science fiction cinema; thus it is important to examine and discuss the series’ employment of futurist aesthetics and technology in its exposé of classic mythology. Ulysses 31 is a good example of a successful series from that period. Employing traditional animation throughout -such as painting on cells, cut-outs and the use of the multiplane camera- the art of the series offers a distinctive style that would be virtually impossible to reproduce through more recent technology. This paper will examine this aesthetic and compare it to similar shows from that period in order to locate its place in ‘the future past’. Ulysses as a Cosmic Adventurer One of the characteristics of the series that becomes apparent initially is the noticeable coherence of the series’ concept. -

Newsletter 11/11 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 11/11 DIGITAL EDITION Nr. 294 - Juni 2011 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 11/11 (Nr. 294) Juni 2011 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, Auf Seite ??? in diesem Newsletter le- “Im Übrigen stimmte auch nicht die liebe Filmfreunde! sen Sie in der Rubrik “Wolfram Hanne- Info vom Verleih, dass der Film „in Ein Blick in den Kalender verrät es: In manns Film-Blog” dessen Kritik zu dem den allerletzten Zügen liegt“. Aber genau einem Jahr feiert die LASER neuen deutschen Film ARSCHKALT, das wusste der Verleih da auch noch HOTLINE ihr 20jähriges Bestehen! Da- die seit 7. Juni 2011 bereits online un- nicht. Der Schnitt und die Dramatur- mit hätten wir selbst in unseren kühn- ter www.wolframhannemann.de zu le- gie und auch die Musik hat sich da- sten Träumen nicht gerechnet, als wir sen ist. Am 17. Juni erreichte unseren nach noch einmal radikal geändert. Anfang August 1992 unseren Versand- Film-Blogger nun per E-Mail eine Stel- Glauben Sie mir, ich war vom handel für LaserDiscs amtlich angemel- lungnahme des Komponisten René 1.Screening genauso enttäuscht wie det haben. Ehrlich gesagt trauern wir Dohmen, der für die Filmmusik von Sie! Jetzt ist es ein wirklich toller heute noch jenen Zeiten nach, in denen ARSCHKALT verantwortlich zeichnet. Film geworden!” die Sammlerherzen Woche für Woche Dieser schreibt: höher schlagen durften angesichts der Ob sich der Filmverleih allerdings an- oft so faszinierenden “Special “Lieber Wolfram Hannemann, gesichts dieser radikalen Veränderun- Editions” auf den großen Silber- ich habe Ihre Kritik zu „Arschkalt“ gen gegenüber der Erstfassung des scheiben. -

Landscapes of Globalization
T. R. KADIR HAS UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES M.A. PROGRAM IN COMMUNICATION SCIENCES LANDSCAPES OF GLOBALIZATION: ANIMANGA OTAKU CULTURE IN ISTANBUL AND BERLIN M.A. in Communication Sciences ZEYNEP ALTUNDAĞ Istanbul, 2009 T. R. KADIR HAS UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES M.A. PROGRAM IN COMMUNICATION SCIENCES LANDSCAPES OF GLOBALIZATION: ANIMANGA OTAKU CULTURE IN ISTANBUL AND BERLIN M.A. in Communication Sciences ZEYNEP ALTUNDAĞ Advisor Associate Professor LEVENT SOYSAL Istanbul, 2009 ABSTRACT LANDSCAPES OF GLOBALIZATION: ANIMANGA CULTURE IN ISTANBUL AND BERLIN Zeynep Altundağ M.A. Program in Communication Studies Advisor: Assoc. Prof. Dr. Levent Soysal June 2009 Anime, manga and otaku culture, which drew considerable attention from the world youth culture in the 1990s, was formed within the popular culture wave that emerged in Japan especially after the 1970s, and has achieved its own market internationally within the new world policy of Japan after World War II. The alternative types, colorful and ideal characters and worlds provided has attracted the attention of world youth, academicians, and researchers. As this study focuses on the effects of anime, manga, and otaku cultures on the youth living in Istanbul, it aimed to evaluate this effect within the context of the boundaries of globalization. The fundamental problematic of this study is to evaluate and present this culture with its new, exclusive form of locality as a result of the interactions in each locality. This study was conducted as comparative one, with field studies performed in Istanbul and Berlin within the scope of anime and manga culture, and explains the existence and characteristics of manga and otaku cultures in Istanbul and Berlin through global culture, and to some academicians and researchers, it is a critical perspective on some views as to the problem of belonging related to different cultural formations in the world, in-betweenness, cultural schizophrenia, and being the other. -

Quelques Dessins Animés Et Longs Métrages
Quelques dessins animés et longs métrages Dessins animés (série) - Goldorak / Masamune Ochiai, 1975 Lorsque Vega, Grand Stratéguerre de la planète Stykadès, détruit la planète d'Euphor, exterminant tout le monde sur son passage, Actarus, le fils du roi, parvient à s'échapper après avoir récupéré Goldorak, le plus perfectionné des robots créé sur sa planète. Recueilli sur Terre par le professeur Procyon, il est rapidement obligé d'utiliser Goldorak pour combattre Vega, installé sur la lune. Adapté du manga éponyme, Goldorak est un film d'animation et d'action explosif, qui nous entraîne dans une guerre entre humains et robots, pour la sauvegarde de l'humanité. - Signé Cat’s eyes / Terence Feely, 1983 (2 saisons) Sylia, Tam et Alex sont les sœurs Cat's Eyes. Afin de retrouver leur père disparu, elles tentent de rassembler les œuvres de sa collection, dispersées entre musées et collectionneurs douteux. Mais l'inspecteur Quentin Chapuis a juré les attraper. Rendez- vous avec bon nombre de situations farfelues et abracadabrantes ! Humour et action jalonnent les aventures policières trépidantes de ce trio de charme et de choc. - Lucile, Amour et Rock’n Roll / Osamu Kasai, Kaoru Tada, 1983 (titre original : Aï Shité Knight, titre de 1ère diffusion française : Embrasse-moi Lucile) Lucile est une jeune fille qui vit avec son père : M. Duronchon qui est veuf depuis la naissance de sa fille et qui tient un restaurant. Il est très protecteur vis-à-vis d'elle et ne supporte pas de la voir parler avec des garçons, ni même qu'elle rentre tard. Lucile suit des cours du soir tout en aidant son père au restaurant, au début de la série elle est amoureuse de Tristan, le compositeur du groupe de rock les Bee Hive.