7 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Centro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

237158245015.Pdf
Revista Caatinga ISSN: 0100-316X ISSN: 1983-2125 Universidade Federal Rural do Semi-Árido Freitas, Morgana Andrade; Lucena, Eliseu Marlônio Pereira de; Bonilla, Oriel Herrera; Silva, Andrieli Lima da; Sampaio, Valéria da Silva SEED, SEEDLING AND FRUIT MORPHOLOGY AND SEED GERMINATION OF Psidium sobralianum PLANTS OF THE SÃO FRANCISCO VALLEY, BRAZIL1 Revista Caatinga, vol. 31, no. 4, October-December, 2018, pp. 926-934 Universidade Federal Rural do Semi-Árido DOI: 10.1590/1983-21252018v31n415rc Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237158245015 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Project academic non-profit, developed under the open access initiative Universidade Federal Rural do Semi-Árido ISSN 0100-316X (impresso) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ISSN 1983-2125 (online) https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga http://dx.doi.org/10.1590/1983-21252018v31n415rc SEED, SEEDLING AND FRUIT MORPHOLOGY AND SEED GERMINATION OF Psidium sobralianum PLANTS OF THE SÃO FRANCISCO VALLEY, BRAZIL1 MORGANA ANDRADE FREITAS2*, ELISEU MARLÔNIO PEREIRA DE LUCENA3, ORIEL HERRERA BONILLA3, ANDRIELI LIMA DA SILVA3, VALÉRIA DA SILVA SAMPAIO4 ABSTRACT - The Northeast region of Brazil has the second highest number of species of the Myrtaceae family. It is mostly covered by the Caatinga biome, which is very degraded, making it difficult to preserve species of this family. Thus, the objective of this work was to describe the seed, seedling, and fruit morphology, and seed germination of Psidium sobralianum Landrum & Proença plants of the São Francisco Valley, Brazil. -

Genera in Myrtaceae Family
Genera in Myrtaceae Family Genera in Myrtaceae Ref: http://data.kew.org/vpfg1992/vascplnt.html R. K. Brummitt 1992. Vascular Plant Families and Genera, Royal Botanic Gardens, Kew REF: Australian – APC http://www.anbg.gov.au/chah/apc/index.html & APNI http://www.anbg.gov.au/cgi-bin/apni Some of these genera are not native but naturalised Tasmanian taxa can be found at the Census: http://tmag.tas.gov.au/index.aspx?base=1273 Future reference: http://tmag.tas.gov.au/floratasmania [Myrtaceae is being edited at mo] Acca O.Berg Euryomyrtus Schaur Osbornia F.Muell. Accara Landrum Feijoa O.Berg Paragonis J.R.Wheeler & N.G.Marchant Acmena DC. [= Syzigium] Gomidesia O.Berg Paramyrciaria Kausel Acmenosperma Kausel [= Syzigium] Gossia N.Snow & Guymer Pericalymma (Endl.) Endl. Actinodium Schauer Heteropyxis Harv. Petraeomyrtus Craven Agonis (DC.) Sweet Hexachlamys O.Berg Phymatocarpus F.Muell. Allosyncarpia S.T.Blake Homalocalyx F.Muell. Pileanthus Labill. Amomyrtella Kausel Homalospermum Schauer Pilidiostigma Burret Amomyrtus (Burret) D.Legrand & Kausel [=Leptospermum] Piliocalyx Brongn. & Gris Angasomyrtus Trudgen & Keighery Homoranthus A.Cunn. ex Schauer Pimenta Lindl. Angophora Cav. Hottea Urb. Pleurocalyptus Brongn. & Gris Archirhodomyrtus (Nied.) Burret Hypocalymma (Endl.) Endl. Plinia L. Arillastrum Pancher ex Baill. Kania Schltr. Pseudanamomis Kausel Astartea DC. Kardomia Peter G. Wilson Psidium L. [naturalised] Asteromyrtus Schauer Kjellbergiodendron Burret Psiloxylon Thouars ex Tul. Austromyrtus (Nied.) Burret Kunzea Rchb. Purpureostemon Gugerli Babingtonia Lindl. Lamarchea Gaudich. Regelia Schauer Backhousia Hook. & Harv. Legrandia Kausel Rhodamnia Jack Baeckea L. Lenwebia N.Snow & ZGuymer Rhodomyrtus (DC.) Rchb. Balaustion Hook. Leptospermum J.R.Forst. & G.Forst. Rinzia Schauer Barongia Peter G.Wilson & B.Hyland Lindsayomyrtus B.Hyland & Steenis Ristantia Peter G.Wilson & J.T.Waterh. -
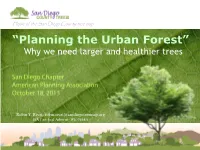
I-Tree Canopy
Home of the San Diego County tree map “Planning the Urban Forest” Why we need larger and healthier trees Robin Y. Rivet: [email protected] ISA Certified Arborist- WE-7558A What is Urban Forestry? • Why does it matter? • Where to get information? • What has gone wrong? • How can we improve? This is a nice place… BUT DIFFICULT TO RETROFIT FOR MOST CITIES It’s NOT just about trees… SAN DIEGO URBAN FOREST Watersheds golf courses graveyards Schoolyards Private homes Streets and alleys flower fields orchards Places of worship Government lands Beaches and dunes Commercial business The legal “definition” from California code PUBLIC RESOURCES CODE SECTION 4799.06-4799.12 4799.09. As used in this chapter the following terms have the following meanings: (c) "Urban forestry" means the cultivation and management of native or introduced trees and related vegetation in urban areas for their present and potential contribution to the economic, physiological, sociological, and ecological well-being of urban society. (d) "Urban forest" means those native or introduced trees and related vegetation in the urban and near-urban areas, including, but not limited to, urban watersheds, soils and related habitats, street trees, park trees, residential trees, natural riparian habitats, and trees on other private and public properties. The Urban Forestry Act was passed in 1978, OPR page launched 2012 Urban Forestry Act (PRC 4799.06 - 4799.12) American Forests Urban Ecosystem Analysis conducted over six years in ten select cities An estimated 634,407,719 trees are currently missing from metropolitan areas across the United States – National Urban Tree Deficit In 1986, the National Urban and Community Forest Advisory Council conducted a 20-city survey to understand the condition of the nation’s street trees. -

Universidade Do Estado De Santa Catarina, Centro De Ciências Agroveterinárias, Programa De Pós-Graduação Em Produção Vegetal, Lages, 2016
JULIANO PEREIRA GOMES PADRÕES FLORÍSTICO-ESTRUTURAIS, ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE MYRTACEAE ARBÓREAS E ARBUSTIVAS NA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de doutor no Curso de Pós- Graduação em Produção Vegetal da Universidadedo Estado de Santa Catarina - UDESC. Orientadora: Profª. Drª. Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi LAGES, SC 2016 2 Pereira Gomes, Juliano PADRÕES FLORÍSTICO-ESTRUTURAIS, ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE MYRTACEAE ARBÓREAS E ARBUSTIVAS NA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA / Juliano Pereira Gomes. Lages - 2016. 244 p. Orientadora: Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi Co-orientador: Adelar Mantovani Co-orientador: Pedro Higuchi Tese (Doutorado) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Lages, 2016. 1. Floresta Atlântica. 2. Planalto Sul Catarinense. 3. Biodiversidade. 4. Influência ambiental. 4. Análises multivariadas. I. Lopes da Costa Bortoluzzi, Roseli. II. Mantovani, Adelar. Higuchi, Pedro. III. Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. IV. Título. Ficha catalográfica elab,orada pelo autor, com auxílio do programa de geração automática da Biblioteca Setorial do CAV/UDESC Ao Amanhecer Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão, que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados, otimismo diante das ocorrências que surgirão, coragem nos confrontos das lutas naturais, recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. -

MYRTACEAE ENDÉMICAS DEL PERÚ El Libro Rojo De Las Plantas Endémicas Del Perú
Rev. peru. biol. Número especial 13(2): 463s - 468s (Diciembre 2006) MYRTACEAE ENDÉMICAS DEL PERÚ El libro rojo de las plantas endémicas del Perú. Ed.: Blanca León et al. Versión Online ISSN 1727-9933 © Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM Myrtaceae endémicas del Perú Lucia Kawasaki 1 y Bruce K. Holst 2 1 Department of Botany, The Field Museum, 1400 S Lake Resumen Shore Drive, Chicago, IL 60605, EE.UU. La familia Myrtaceae es reconocida en el Perú por presentar 20 géneros y 165 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), la mayoría arbustos y árboles. En este [email protected] trabajo reconocemos 39 especies y una variedad como endemismos en diez géneros. El 2 Mary Selby Botanical género más rico en especies endémicas es Eugenia. Las Myrtaceae endémicas se Gardens, 811 S Palm Ave., encuentran principalmente en las regiones Bosques Húmedos Amazónicos y Mesoandina, Sarasota, FL 34236, EE.UU. [email protected] entre los 100 y 3600 m de altitud. Seis especies endémicas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Palabras claves: Myrtaceae, Eugenia, Perú, endemismo, plantas endémicas. Abstract The Myrtaceae are represented in Peru by 20 genera and 165 species (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), mostly shrubs and trees. Here we recognize 39 species and one variety in ten genera as Peruvian endemics. Eugenia is the genus with the largest number of endemic species. Endemic Myrtaceae are found mainly in Humid Lowland Amazonian Forests and Mesoandean regions, between 100 and 3600 m elevation. Six endemic species have been registered to date within Peru’s protected areas system. -

Australian Nursery Industry Myrtle Rust Management Plan 2011
Australian Nursery Industry Myrtle Rust (Uredo rangelii) Management Plan 2011 Developed for the Australian Nursery Industry Production Wholesale Retail Acknowledgements This Myrtle Rust Management Plan has been developed by the Nursery & Garden Industry Queensland (John McDonald - Nursery Industry Development Manager) for the Australian Nursery Industry. Version 01 February 2011 Photographs sourced from I&I NSW and Queensland DEEDI. Various sources have contributed to the content of this plan including: • Nursery Industry Accreditation Scheme Australia (NIASA) • BioSecure HACCP • Nursery Industry Guava Rust Plant Pest Contingency Plan • DEEDI Queensland Myrtle Rust Fact Sheets • I&I NSW Myrtle Rust Fact Sheets and Updates Preparation of this document has been financially supported by Nursery & Garden Industry Queensland, Nursery & Garden Industry Australia and Horticulture Australia Ltd. Published by Nursery & Garden Industry Australia, Sydney 2011 © Nursery & Garden Industry Queensland 2011 While every effort has been made to ensure the accuracy of contents, Nursery & Garden Industry Queensland accepts no liability for the information. For further information contact: John McDonald Industry Development Manager NGIQ Ph: 07 3277 7900 Email: [email protected] 2 Nursery Industry Myrtle Rust Management Plan - 2011 Table of Contents 1. Managing Myrtle Rust in the Australian Nursery Industry 4 2. Myrtaceae Family – Genera 5 3. Myrtle Rust (Uredo rangelii) 6 4. Known Hosts of Myrtle Rust in Australia 7 5. Fungicide Treatment 8 5.2 Myrtle Rust Fungicide Treatment Rotation Program 8 5.3 Fungicide Application 9 6. On-site Biosecurity Actions 9 6.1 Production Nursery 10 6.2 Propagation (specifics) 11 6.3 Greenlife Markets/Retailers 12 7. Monitoring and Inspection Sampling Protocol 12 7.1 Monitoring Process 12 7.2 Sampling Process 13 8. -

13 Germinação De Sementes E Qualidade De Mudas 1
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Biblioteca Digital de Periódicos da UFPR (Universidade Federal do Paraná) GERMINAÇÃO DE SEMENTES E QUALIDADE DE MUDAS DE Plinia trunciflora (JABUTICABEIRA) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS Überson Boaretto Rossa 1, Gilmar Paulinho Triches 1, Fernando Grossi 2, Antonio Carlos Nogueira 2, Carlos Bruno Reissmann 3, Michele Ribeiro Ramos 4 1Lic. em Ciências Agrárias, M.Sc., Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, IFET, Rio do Sul, SC, Brasil - [email protected]; [email protected] 2Eng. Florestal, Dr., Depto. de Ciências Florestais, UFPR, Curitiba, PR, Brasil - [email protected] - [email protected] 3Eng. Florestal, Dr., Depto. de Solos, UFPR, Curitiba, PR, Brasil - [email protected] 4Eng a Agrônoma, M.Sc., Doutoranda em Eng. Florestal, UFPR - [email protected] Recebido para publicação: 05/11/2008 – Aceito para publicação: 30/09/2009 A formação de mudas florestais de boa qualidade morfofisiológica envolve os processos de germinação de sementes, que por sua vez é dependente de potencialidades genéticas. Algumas ações no tratamento prévio de sementes podem auxiliar na germinação. Este trabalho objetivou avaliar a germinação de sementes e qualidade inicial de mudas de jabuticabeira sob diferentes tratamentos pré- germinativos: T1 – sementes completamente limpas; T2 – sementes oxidadas com o fruto macerado; T3 – sementes com polpa; e T4 – semeadura do fruto com semente. O experimento foi conduzido durante o período de outubro de 2007 a agosto de 2008. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições. Realizou-se a avaliação da percentagem de germinação aos 40, 60 e 90 dias da semeadura, e o cálculo do índice de velocidade de emergência realizado ao final do período. -

How Rich Is the Flora of Brazilian Cerrados? Author(S): A. A. J. F. Castro, F
How Rich is the Flora of Brazilian Cerrados? Author(s): A. A. J. F. Castro, F. R. Martins, J. Y. Tamashiro and G. J. Shepherd Source: Annals of the Missouri Botanical Garden, Vol. 86, No. 1 (Winter, 1999), pp. 192-224 Published by: Missouri Botanical Garden Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2666220 Accessed: 18-06-2015 18:22 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Missouri Botanical Garden Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Annals of the Missouri Botanical Garden. http://www.jstor.org This content downloaded from 143.106.108.174 on Thu, 18 Jun 2015 18:22:09 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions HOW RICH IS THE FLORA A. A. J. F. Castro,2 F. R. Martins,*3J. E OF BRAZILIAN CERRADOS?1 Tamashiro,3and G. J. Shepherd3 ABSTRACT An attempt is made to summarize what is known about the richness of the total terrestrialangiosperm flora of the "cerrados" (as a complex of formations)in Brazil, based on published surveys and species lists. A "refined" list of arboreal and shrubby species was compiled froma total of 145 individual lists from78 localities, taking into account synonymyand recent taxonomic changes. -

THE GENERA of AMERICAN MYRTACEAE — AN
THE GENERA OF AMERICA:;\" MYRTACEAE - A.\" IVfERIM REPORT Rogers McVaugh " J. Introduction . 3.54 II. Proposed realignment of the American Myrtcae 361 Ill. Enumeration of the genera 373 a. Tribe Myrteae . 373 b. Tribe Leptospermeae 409 e. Imperfectly known genera 409 d. Excluded genus 412 IV. Key to accepted genera of Tribe Myrtear- 412 V. Index to generic names. 417 1. INTRODUCTION Generic concepts developed slowly in the Myrtaceae. At the beginning of the 19th century few species were known, and these were traditionallv distributed among ten or twelve genera. Willdenow, for example (Sp. PI. 2: 93.5. 1800), knew among the capsular-fruited Myrtaceae 12 species of Leptospermum, 14 of Metrosideros, and 12 of Eucalyptus. The Myrtaceae with baccate fruits he referred to Eugenia 130 species), Psidium 18 species), jtlyrtus 128 species), Calyptranthes (6 species) and Plinia II species). The American Myrtaceae, except for the monotypic Chilean genus Tepualia, belong to the fleshy-fruited group that since the time of De Candolle has been recognized as a tribe, Myrteae. Outstanding contributions to the knowlrdge of the ~lJc~ies an'] genera of the American Myrteae were made bv De Candolle in 1828 r nd hv Berg in 18.55-62, but since Berg's time no one persc n 1,;., hed 2n ormor.uni;v In ~Jccome familiar with the group as a whole. The numh:r rf ,.le-~rihed ~~'ecie; i~ v-rv large. especially in tropical South America, and avail.v'il» h"r\~riu:~ material until rereut years consisted chiefly of the classical spe"::;)"n" H,;,'1er"rl ihrou-r'i Eurojern herbaria. -

Resumen Ejecutivo. Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Prospección Sísmica 2D Y Construccion De 12 Plataformas Y Perfor
RESUMEN EJECUTIVO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PROSPECCIÓN SÍSMICA 2D Y CONSTRUCCION DE 12 PLATAFORMAS Y PERFORACION DE 24 POZOS EXPLORATORIOS EN EL LOTE 121 SUR Y NORTE FEBRERO 2010 ________________________________________________________________________________________________ EIA del Proyecto prospección sísmica 2D y construcción de 12 plataformas y perforación de 24 pozos 1 Exploratorios en el Lote 121 Sur y Norte TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................. 4 VOLUMEN I ................................................................................................................ 4 1.1 Aspectos generales..................................................................................... 4 1.2 Ubicación .................................................................................................... 4 1.3 Marco legal.................................................................................................. 5 1.4 Delimitación del área de influencia del Proyecto ........................................ 9 1.5 Descripción del Proyecto .......................................................................... 12 1.5.1 Prospección sísmica 2D............................................................................ 12 1.5.2 Perforación exploratoria............................................................................ 15 VOLUMEN II ............................................................................................................ -

222. MYRTACEAE Juss
222. MYRTACEAE Juss. SINOPSIS DE GÉNEROS Y TAXONES SUPRAGENÉRICOS DE ARGENTINA Subfamilia I. LEPTOSPERMOIDEAE Burnett (2 gén.) Tribu Leptospermeae DC. Tepualia Griseb. * Eucalyptus L’Herit. Subfamilia II. MYRTOIDEAE Sweet (22 gén.) Tribu Myrteae DC. a. Subtribu I. Myrtinae O. Berg Siphoneugena O. Berg Myrciaria O. Berg Myrrhinium Schott Paramyrciaria Kausel Amomyrtella Kausel Calycorectes O. Berg Amomyrtus (Burret) D. Legrand Eugenia L. et Kausel Myrcianthes O. Berg Ugni Turcz. Myrteola O. Berg c. Subtribu III. Myrciinae O. Berg Psidium L. Blepharocalyx O. Berg Gomidesia O. Berg Campomanesia Ruiz et Pav. Calyptranthes Sw. Myrcia DC. ex Guill. b. Subtribu II. Eugeniinae O. Berg Myrceugenia O. Berg Hexachlamys O. Berg Incertae sedis: Plinia L. Guapurium Juss. Luma A. Gray Subfam. II. MYRTOIDEAE Sweet (parte 2) 1, 2 R. Sweet, Fl. australas.: ad t. 10. 1827 Árboles o arbustos con frutos carnosos (bayas o drupáceos). Semillas 1- numerosas; embrión de forma y tamaño variables, globoso, subgloboso o más o menos curvo, en forma de letra C. 1. Embrión cilíndrico, más o menos curvo, en forma de letra C. Cotiledones de 1/3 a 1/2 del largo total del embrión o reducidos a escamas pequeñas en el extremo del hipocótile carnoso y largo Subtribu I. Myrtinae (gén. 3-10) 1’. Embrión globoso o subgloboso 2. Hipocótile no diferenciado o reducido a unos pocos mm. Cotiledones carnosos bien desarrollados, conferruminados o libres y plano-convexos Subtribu II. Eugeniinae (gén. 11-19) 2’. Hipocótile tan largo como los cotiledones, o mayor 3. Cotiledones foliáceos, contortuplicados Subtribu III. Myrciinae 3’. Cotiledones foliáceos, no contortuplicados, subcarnosos, adosados entre sí Incertae sedis: Luma A. -

Nomenclatural and Taxonomic Changes in Tribe Myrteae (Myrtaceae) Spurred by Molecular Phylogenies
eringeriana 14(1): 49−61. 2020. H http://revistas.jardimbotanico.ibict.br/ Jardim Botânico de Brasília Nomenclatural and taxonomic changes in tribe Myrteae (Myrtaceae) spurred by molecular phylogenies Carolyn Elinore Barnes Proença1*, Jair Eustáquio Quintino Faria2, Augusto Giaretta3, Eve Jane Lucas4, Vanessa Graziele Staggemeier5, Amélia Carlos Tuler6 & Thais Nogales Costa Vasconcelos7 ABSTRACT: Phylogenetic studies have highlighted incongruous generic placement and the usage of inappropriate names for species within tribe Myrteae (Myrtaceae). The genera affected are Calycolpus, Eugenia, Myrcia and Psidium. Eugenia aubletiana is legitimized by the designation of a lectotype and its usage proposed instead of Calycorectes bergii. Two generic transfers are proposed: Psidium sessiliflorum based on Calycolpus sessiliflorus and Myrcia neosericea, based on Eugenia neosericea. The re-instatement of Psidium cupreum, currently a synonym of Psidium rufum as an accepted species is proposed. Illustrations of the four affected species are furnished, as well as a map of occurrences of Psidium sessiliflorum. Tetramery associated to inflorescences reduced to 1(-3) flowers, an unusual combination of characters in Myrcia sect. Gomidesia, is identified in both Myrcia glaziovii and Myrcia neosericea, and a key to distinguish them is provided. Key words: Atlantic Forest, Campo rupestre, Cerrado, Flora, Integrative systematics, Taxonomy. RESUMO (Alterações nomenclaturais e taxonômicas na tribo Myrteae (Myrtaceae) impulsionadas por filogenias moleculares): Estudos filogenéticos têm destacado espécies com posicionamento genérico incongruente ou uso de nomes inapropriados na tribo Myrteae (Myrtaceae). Os gêneros afetados são: Calycolpus, Eugenia, Myrcia e Psidium. O uso de Eugenia aubletiana em vez de Calycorectes bergii é proposto, legitimado pela designação de um lectótipo. Duas transferências de gênero são propostas: Psidium sessiliflorum baseado em Calycolpus sessiliflorus e Myrcia neosericea, baseado em Eugenia neosericea.