Revista Brasileira 76
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Castro Alves E a Lírica Amorosa Romântica
Castro Alves e a lírica o amorosa romântica 1. A existência de uma imagem predominante em um artista — resultado da preferência dos críticos e/ou seus admiradores por par te de sua obra — impede, quase sempre, a devida atenção para que se veja a outra face, já não digo oculta, mas a face sem a qual ter mina-se por criar-lhe uma imagem parcial, desintegrada. O poeta Antônio de Castro Alves (1847-1871), tão "baiano" e tão "condoreiro" no alto da estátua, sofre precisamente desse mal. Uma prova? A cidade de Castro Alves (a antiga Curralinho, feudo dos Castro e dos Castro Tanajura) dedicou-lhe uma bela estátua quase um século depois do ano em que lá viveu o poeta, onde fora em busca de ares bons para a saúde perdida. Pois bem: no pedes tal estão inscritos no mármore o verso inicial de “O Navio Negreiro" e o título de dez poemas... Nenhum deles, nenhum, lembra o lírico amoroso que também foi Castro Alves. O exemplo não é isolado. Em toda parte, quando se fala em Castro Alves, imediatamente ele é tido e havido como "o poeta dos escravos", o poeta libertário, condoreiro ousado e arrebatado... 85 O que não é sem razão!... Mas essa imagem cunhada impede (pelo menos ofusca) a imagem do lírico amoroso, vista só como apêndice. Não obstante tratar-se de um lírico amoroso inovador no Romantis mo brasileiro, Mário de Andrade foi quem ressaltou essa parti cularidade (1). Curioso é que existe uma imagem amorosa (um tanto cliché) do homem Castro Alves que era ^poeta (ou seja, amoroso porque fa zia poesia). -

Castro Alves
v t^'. • £ o CASTRO ALVES 4"2., 4 Exposição comemorativa do centenário da morte de Antonio de Castro Alves (1871-1971) organizada pela Seção de Exposições e inaugurada em 2 de julho de 1971. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA MINISTRO DE ESTADO SENADOR JARBAS GONÇALVES PASSARINHO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS DIRETOR RENATO SOEIRO BIBLIOTECA NACIONAL DIRETOR JANNICE DE MELLO MONTE-MÓR DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO Chefe — Wilson Lousada Seção de Publicações Chefe — Nellie Figueira Seção de Exposições Chefe — Ilda Centeno de Oliveira Seção de Ecdótica Chefe — Maria Filgueiras Gonçalves MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA f CASTRO ALVES Catálogo da exposição RIO DE JANEIRO BIBLIOTECA NACIONAL DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO 19 7 1 D IL 4 SUMARIO Pág. Obras de Castro Alves Manuscritos autógrafos 11-13 Correspondência : Manuscrita (autógrafos) 13-14 Impressa 14 Desenhos, pintura, caricaturas 14-16 Obras completas 16-19 Poesias completas 19-20 Obras reunidas 20-22 Obras e poemas isolados : Obras 22-30 Poemas 31-32 Poemas musicados (partituras) 32-33 Avulsos (poesia e prosa) 33-37 Antologias 37-38 Traduções 39 Jornais 39 Influências literárias 40-41 Documentário 41-43 Bibliografia 43-64 Retratos de Castro Alves 64-65 Outros retratos 65-66 Ilustrações 66-68 ABREVIATURAS Coleções da Biblioteca Nacional B.N. — S.B. Seção Brasiliana B.N. — S.E. " de Exposições B.N. — S.I. " de Iconografia B.N. — S.L. " de Leitura B.N. — S.L.R. " de Livros Raros B.N. — S.M. " de Música B.N. — S.Mss. " de Manuscritos B.N. — S.P. " de Periódicos B.N. — S.R. -

II L Movimiento De Mas Trascendencia En La Historia
< \ \ EL ROMANTICISMO EN LA LITERATURA BRASILENA L movimiento de mas trascendencia en la historia IIliteraria del Brasil ha sido el romanticismo, al cual =====-se le ha Hamada en portugues "romantismo" y que d om in 6 1a literatura diecinuevesca par media siglo. El romantismo no foe solamente un movimiento literario en el Brasil sino, en realidad, el com1enzo de una litera ura verdaderamente brasilefia. No caso brasileiro, o Romantismo nao veio fecundar un romance porventura existente. Veio criar o romance.. Com o romantismo, pois, nasceu a nove/fstica brasileira ... 1 o Romantismo, no Brasil, tern una importancia extraordinaria, porquanto foi a e/e que deveu o pa fs a sua indepenencia literaria, conquistando una liberdade de pensamento e de expressao sem precedentes... 2 Anteriormente, las manifestaciones literarias del Brasil eran reflejos de lo que venfa de Europa par via de Portugal, o simplemente brotes rudimentarios de una colonia que apenas iba adquiriendo vida propia. (1) A franio Coutinho, A /iteratura no Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Sul Americana S.A., 1955, 12 p. 840- 41 (2) Ibid., p. 575. 85 . ' '1 Al mismo tiempo que el B~as il \ obtuvo su independencia politica, se afirm6 su independencia'· literaria. El movimiento romantico se inspir6 en el p at~iotismo de la epoca y se manifesto en temas locales. Surgieron los poetas regionalistas. El m ovimi en to romantico y el movimiento nacionalista se mezclaron hasta confundirse y dominar, momentaneamente, la tendencia literaria de la joven naci6n. Vamos a estudiar el romantismo brasilefio siguiendo la subdivision cronol6gi~a aceptada por Coutinho. Configurase o Romantismo, no Brasil, entre as datas do 7808 e 7836 para o Pre-romantismo; de 7836 a 7860 para o Romantismo pr6priamente dito, sendo que o apogeu do movimento se situa entre 7846 e 7856. -

ALEXANDRE PILATI Bruna
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE LETRAS DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURAS PROFESSOR: ALEXANDRE PILATI Bruna Guedes C. Costa Estudante de letras (UNB) – matrícula 07/60081 Trabalho apresentado como requisito para a conclusão do curso de letras Português. UNB 1/2012 Sumário Introdução Pág. 1. Capitulo 1 Pág. 2. Capitulo 2 Pág. 10. Capitulo 3 Pág. 15. Considerações finais Pág. 21. Introdução O objetivo desta pesquisa é trazer de forma quantitativa e qualitativa o que vem sendo tratado em sala de aula quando o assunto é romantismo brasileiro para os alunos do segundo ano do ensino médio. O estudo trará quais autores são estudados, quais textos, e se os métodos de ensino estão adequados à idade e nível estudantil dos alunos analisando os livros didáticos indicados pelo Mec com o objetivo de verificar se o material é apto para ajudar os professores nas salas de aula. Serão analisados três livros didáticos: 1)Português Linguagens: Literatura - Produção de textos – Gramática: Volume 2/ William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães. - 6 Edição - São Paulo: Atual Editora, 2005; 2) Novas Palavras: Português, Volume 2/ Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite, Severino Antônio. 2 Edição – São Paulo: FTD, 2003; 3)Linguagem em Movimento: Literatura, Gramática, Redação: Ensino Médio, Volume 2/ Izete Fragata Torralvo, Carlos Cortêz Minchillo. São Paulo: FTD,2008, utilizando o método qualitativo para analisar todos os três livros. O trabalho está dividido em três capítulos e cada livro didático representa um capítulo. 1 CAPÍTULO 1. 1. Português Linguagens: Literatura - Produção de textos – Gramática: Volume 2/ William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães. - 6ª Edição - São Paulo: Atual Editora, 2005. -
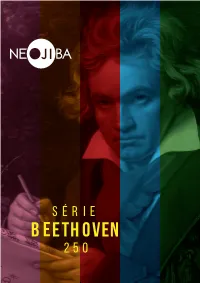
Neojiba Online.Pdf
Endereço: R. Saldanha Marinho No 10-32, Bairro Liberdade, Parque do Queimado CEP: 40.323-010 Salvador, Bahia, Brasil Telefone:(71) 3044-2959 Que tal já ir se preparando ouvindo algumas músicas de Beethoven? Abra o seu Spotify e, no campo de busca, tire uma foto do scan abaixo. AGORA É SÓ CURTIR! Vida Ludwig van Beethoven foi um compositor alemão que viveu entre 1770 e 1827. Suas primeiras conquistas como compositor e intérprete mostram-no como continuador da tradição vienense clássica, que ele herdara de Mozart e Haydn. Na medida em que suas aflições pessoais, como a surdez e a incapacidade de entrar em relacionamentos pessoais felizes, se tornavam maiores, ele começou a compor em um estilo cada vez mais individual. No final da vida, escreveu suas obras mais sublimes e profundas. Em razão de seu sucesso em combinar tradição, experimentações e expressão pessoal, é considerado a figura musical dominante do século XIX. Nenhum compositor significativo desde seu tempo escapou da sua influência, ou deixou de reconhecê-la. Pelo respeito que suas obras provocam em músicos, e pela popularidade que sua música tem desfrutado entre um público mais vasto, Beethoven é um dos compositores mais admirados na História da Música. BEETHOVEN CURIOSIDADES Perdeu sua Seu signo é audição entre sagitário. os 26-45 anos. Seu sobrenome Quando criança (Beethoven), de era fisicamente origem holandesa agredido significa por seu pai “do quintal das ao educá-lo beterrabas”. musicalmente Além do piano, Católico também sabia tocar religioso. violino, viola e órgão. BEETHOVEN é o quê? O GÊNIO MUSICAL Ainda criança, Ludwig van Beethoven (1770-1827) era um prodígio. -

O Romantismo: Castro Alves E a Contradição Escravista
0 O ROMANTISMO: CASTRO ALVES E A CONTRADIÇÃO ESCRAVISTA NUNES, Diego de Santana. [email protected] BASTOS, José Reginaldo Rodrigues. legioná[email protected] SANTOS, Wellington Lino dos. [email protected] SANTOS, Maria Cristina Santana dos. (orientadora) Graduada em Letras Português/Inglês; especialista em didática do ensino superior – pela Faculdade Pio X; mestranda em Literatura Brasileira – pela UFAL. [email protected] RESUMO Este artigo tem como objetivo analisar a vida do cidadão Castro Alves para entender a contradição entre a poesia abolicionista e o convívio com os escravos. Para que isso seja ratificado, observar-se-á a relação, desde criança até adulto, dele com os negros – que tinha em casa. Também notar-se-á que o “poeta dos escravos” desenvolveu a chamada “Síndrome de Narciso”. Esta surgiu a partir da identificação com a situação do escravo. Levando-o ao desprezo total: dele mesmo e do objeto de estudo. Palavras-chave: Romantismo, Castro Alves e a escravidão 1 Abstract This article has as objective to analyze the life of the citizen Castro Alves to understand the contradiction between the referring to abolitionism poetry and the conviviality with the slaves. So that this is ratified, it will be observed relation, since child until adult, of it with the slaves - that it had in house. Also one will notice that the “poet of the slaves” developed the call “Syndrome of Narcissus”. This appeared from the identification with the situation of the slave. Taking it the total disdain: of he himself and the object of study. Word-key: Romanticism, Castro Alves and the slavery INTRODUÇÃO Este artigo apresenta uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica. -

ASTOR PIAZZOLLA (100 Anos De Nascimento)
Músico Homenageado ASTOR PIAZZOLLA (100 anos de nascimento) DE CURITIBA PARA O MUNDO 17 A 23 JAN 17 JAN (DOM) MÚSICA ERUDITA E ANTIGA 17 DE JANEIRO (DOM), 12H Transmissão pelo site do evento: www.oficinademusica.org.br/aovivo Contato da apresentação da live – Hala do Cairo (fala inglês) 00 20 100 101 0031 LIVE DE ABERTURA DA OFICINA DE MÚSICA, COM REPRESENTANTES (MAESTRO E MEMBROS) DA ASSOCIAÇÃO E ORQUESTRA: EGYPTIAN BLIND GIRLS CHAMBER ORCHESTRA AL NOUR WAL AMAL (ORQUESTRA DE CÂMARA EGÍPCIA DE MENINAS CEGAS) Amal Fikry – Presidente do Music Institute and Al Nour Wal Amal Chamber Orchestra, Dr. Mohamed Saad Basha, - Maestro da Al Nour Wal Amal Chamber Orchestra, Musicistas Membros da Orquestra - Shaimaa Yehia, Marwa Soliman e Mariam Kamal Mediadora - Fabiana Bonilha, Participação – Luiz Amorim Haverá tradução da live 17 DE JANEIRO (DOM), 17H30 Transmissão pelo site do evento: www.oficinademusica.org.br/aovivo VÍDEO CONCERTO EM HOMENAGEM À LÚCIA GLÜCK CAMARGO (IN MEMORIAM) (1944-2020) – FUNDADORA DA OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), Requiem em Ré menor K. 626 Movimentos Lachrimosa e Cum sanctis tuis Regência Tobias Volkmann ENCONTRO VIRTUAL NACIONAL DE ORQUESTRAS ABRAÇO NO TEMPO: HOMENAGEM A BEETHOVEN ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA (Produção do Teatro Castro Alves) Regência Carlos Prazeres 17 DE JANEIRO (DOM), 20H Transmissão pelo site do evento: www.oficinademusica.org.br/aovivo CONCERTO DE ABERTURA DA 38ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA VÍDEO DE ABERTURA COM DANIEL BINELLI (BANDEONISTA DE ASTOR PIAZZOLA) Daniel Binelli é um mestre do bandoneon internacionalmente reconhecido. Expoente máximo da música de Astor Piazzolla, em 1989 juntou-se ao Sexteto Nuevo Tango de Piazzolla, com o qual realizou várias turnês internacionais. -

Junqueira Freire E Gonçalves Dias
A IRONIA NA POESIA ROMÂNTICA: JUNQUEIRA FREIRE E GONÇALVES DIAS Patrícia Martins Ribeiro de Oliveira (PIBIC/UEMS- UUC) [email protected] Danglei de Castro Pereira (UEMS/UUNA) [email protected] RESUMO Buscaremos, nesta pesquisa, encontrar dentro do discurso de Gonçalves Dias e Junqueira Freire os mecanismos utilizados para a materialização da ironia romântica na lírica destes poetas e, com isso, discutir em que medida a ironia contribui para diversidade da lírica romântica brasileira. PALAVRAS-CHAVE: Poesia romântica, revisão do cânone, ironia. ABSTRACT We will look for, in this research, to find inside of Gonçalves Dias speech and Junqueira Freire the mechanisms used for the materialização of the romantic irony in the lyrical of these poets and, with that, to discuss in that measured the irony contributes to Brazilian romantic diversity of the lyrical KEYWORDS: Romantic poetry, Revision of the canon, Irony INTRODUÇÃO Durante o século XVIII a Europa passava por um dos grandes momentos de sua história: A Revolução Industrial, na Inglaterra e, no final do mesmo século, a Revolução Francesa. Os ideais de Igualdade, Fraternidade e Liberdade criaram novas perspectivas no homem europeu, fato que em pouco tempo se prolongou como movimento político e estético no século XIX. Esse movimento libertário e revolucionário recebeu o nome de Romantismo. A pesquisa comentou em que medida pode-se pensar a ironia como elemento constitutivo da diversidade romântica. Para tanto discorreremos sobre o conceito de ironia romântica e, posteriormente, aplicaremos um olhar investigativo as poesias selecionadas no projeto. Como se trata de um trabalho de fôlego curto, desenvolvido dentro do prazo de doze meses, optamos por abordar os poemas “Canção do Exílio”, “Marabá” e “Leito de folhas verdes”, de Gonçalves Dias e “A freira”, “O jesuíta”, e “Meu filho no claustro”, de Junqueira Freire. -

Antônio Frederico Castro Alves
ANTÔNIO FREDERICO CASTRO ALVES Antônio Frederico Castro Alves nasceu em Muritiba, Bahia, em 14 de março de 1847, e faleceu em Salvador em 6 de julho de 1871. É o patrono da cadeira n. 7 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Valentim Magalhães. Era filho do médico Antônio José Alves, mais tarde professor na Faculdade de Medicina de Salvador, e de Clélia Brasília da Silva Castro, falecida quando o poeta tinha 12 anos, e, por esta, neto de um dos grandes heróis da Independência da Bahia. Por volta de 1853, ao mudar-se com a família para a capital, estudou no colégio de Abílio César Borges, futuro Barão de Macaúbas, onde foi colega de Rui Barbosa, demonstrando vocação apaixonada e precoce para a poesia. Mudou-se em 1862 para o Recife, onde concluiu os preparatórios e, depois de duas vezes reprovado, matriculou-se finalmente na Faculdade de Direito em 1864. Cursou o 1º ano em 1865, na mesma turma que Tobias Barreto. Logo integrado na vida literária acadêmica e admirado graças aos seus versos, cuidou mais deles e dos amores que dos estudos. Em 1866, perdeu o pai e, pouco depois, iniciou apaixonada ligação amorosa com atriz portuguesa Eugênia Câmara, dez anos mais velha, que desempenhou importante papel em sua lírica e em sua vida. Nessa época Castro Alves entrou numa fase de grande inspiração e tomou consciência do seu papel de poeta social. Escreveu o drama Gonzaga e, em 1868, transferiu-se para o sul do país em companhia da amada, matriculando-se no 3º ano da Faculdade de Direito de São Paulo, na mesma turma de Rui Barbosa. -

1 Combined Comprehensive Reading List Brazilian
1 COMBINED COMPREHENSIVE READING LIST BRAZILIAN LITERATURE Department of Spanish and Portuguese Vanderbilt University I. COLONIAL • Pêro Vaz de Caminha: “Carta do Achamento”. • Literatura dos Jesuítas: Padre Manoel da Nóbrega. “Diálogo Sobre a Conversão dos Gentios”. Barroco • Gregório de Matos: a) “Triste Bahia” e b) “À Cidade da Bahia”. • Padre Antônio Vieira: “Sermão da Sexagésima”. II. ARCADISMO • Tomás Antônio Gonzaga: Marília de Dirceu. • José Basílio da Gama: O Uraguai III. SÉCULO XIX ROMANTISMO A. Poesia • Castro Alves: a) “Vozes d’África” e b) “Navio Negreiro”. • Gonçalves Dias: a) “Canção do Exílio” e b) “I-Juca Pirama”. • Álvaro de Azevedo: a) “A Lira dos Vinte Anos”. B. Prosa • José de Alencar: Iracema. Literatura de Transição • Manuel Antônio de Almeida: Memórias de um Sargento de Milícias. MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria José • Dom Casmurro. • Memórias Póstumas de Brás Cubas. • Conto: “O Alienista”. NATURALISMO • Aluísio de Azevedo: O Cortiço. SIMBOLISMO • João da Cruz e Souza: a) “Antífona” e b) “Emparedado”. PARNASIANISMO • Olavo Bilac: a) “Profissão de Fé”. 2 IV. SÉCULO XX PRÉ-MODERNISMO • Lima Barreto: Triste Fim de Policarpo Quaresma. • Euclides da Cunha: Os Sertões, capítulos “O Homem” e “Últimos Dias”. • Monteiro Lobato: Urupês. MODERNISMO: PRIMEIRA FASE A. Poesia • Mário de Andrade: a) “Ode Ao Burguês” e b) “Inspiração”. • Oswald de Andrade: a) “Erro de Português”, b) “Pronominais” e c) “Canto de Regresso à Pátria.” • Manuel Bandeira: a) “Vou-me Embora pra Pasárgada”, b) “Trem de Ferro” e c) “Os sapos”. • Jorge de Lima: a) “Essa Negra Fulô” e b) “Volta à Casa Paterna”. B. Prosa • Mário de Andrade: “Prefácio Interessantíssimo” (ensaio). • Oswald de Andrade: “Manifesto Antropófago”. -

“O Navio Negreiro", De Castro Alves Autor(Es): Fernandes, Ana
“O navio negreiro", de Castro Alves Autor(es): Fernandes, Ana Publicado por: Universidade Católica Portuguesa, Departamento de Letras URL persistente: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/23464 Accessed : 1-Oct-2021 20:25:29 A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos. Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença. Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra. Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso. impactum.uc.pt digitalis.uc.pt MÁTHESIS 20 2011 19-29 “O NAVIO NEGREIRO”, DE CASTRO ALVES ANA FERNANDES Palavras-chave: Mar, literatura de viagens, poesia brasileira, escravatura, alteridade. Keywords: Sea, Travel literature, Brazilian poetry, slavery, otherness. Sendo a nossa área de investigação a literatura de viagens, relemos com agrado alguns títulos da colecção “98 mares” surgida aquando da Expo 98. -

Universidade Federal Da Paraíba Centro De Ciências
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DISSERTAÇÃO DE MESTRADO VALTER GOMES DIAS JUNIOR POESIA E IDENTIDADE EM CASTRO ALVES JOÃO PESSOA 2010 VALTER GOMES DIAS JUNIOR POESIA E IDENTIDADE EM CASTRO ALVES Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Letras, na área de concentração Literatura e Cultura. ORIENTADORA: Profa. Dra. Zélia Monteiro Bora JOÃO PESSOA 2010 D541p Dias Júnior, Valter Gomes. Poesia e identidade em Castro Alves / Valter Gomes Dias Júnior.- João Pessoa, 2013. 217f. Orientadora: Zélia Monteiro Bora Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA 1. Castro Alves, Antônio Frederico de, 1847- 1871 - crítica e interpretação. 2. Literatura brasileira - crítica e interpretação. 3. Literatura e cultura. 4. Poemas abolicionistas. 5. Identidade nacional. UFPB/BC CDU: 869.0(81)(043) VALTER GOMES DIAS JUNIOR POESIA E IDENTIDADE EM CASTRO ALVES Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Letras, na área de concentração Literatura e Cultura. BANCA EXAMINADORA _________________________________________________________________________ Profa. Dra. Zélia Monteiro Bora – UFPB (Orientadora) _________________________________________________________________________ Profa. Dra. Maria