Narcissus Cavanillesii A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nomenclatura De Narcissus L
Nomenclatura de Amaryllidaceae J. St.-Hil. Amaryllidaceae J. St.-Hil., Expos. Fam. Nat. 1: 134 (1805) [nom. cons.], validated by a description in French. Nombres que aparecen en las observaciones Amaryllis belladonna L., Sp. Pl.: 293 (1753), en las observaciones de la fam. Amaryllidaceae iberica Flora 1 Nomenclatura de Galanthus L. Galanthus L., Sp. Pl.: 288 (1753) T.: G. nivalis L. Galanthus nivalis L., Sp. Pl.: 288 (1753) Ind. Loc.- “Habitat as radices Alpium Veronae, Tridenti, Viennae” [lectótipo designado por A.P. Davis in Regnum Veg. 127: 48 (1993): LINN 409.1] {} = Galanthus fontii Sennen, Pl. Espagne 1915, n.º 2851 (1915-1916), in sched., nom. nud. iberica Flora 2 Nomenclatura de Lapiedra Lag. Lapiedra Lag. in Gen. Sp. Pl.: [14] (1816) T.: L. martinezii Lag. Lapiedra martinezii Lag. in Gen. Sp. Pl.: [14] (1816) Ind. Loc.- “Hab. ad saxorum rimas subhumidas, in monte Arcis Saguntinae, prope Sanctuarium de la Fuen Santa juxta Algezares oppidum in Murciae Regno, atque non procul á Malacensi urbe legit acerrimus Naturae scrutator D. Felix Haenseler” [neótipo designado por R. Gonzalo & al. in Candollea 63: 206 (2008): MA 731958] ≡ Crinum martinezii (Lag.) Spreng., Syst. Veg. 2: 56 (1825) Nombres necesarios para el índice Crinum L., Sp. Pl.: 291 (1753) iberica Flora 3 Nomenclatura de Leucojum L. Leucojum L., Sp. Pl.: 289 (1753) LT.: L. vernum L. [cf. Hitchock, Prop. Brit. Bot. 144 (1929)] Leucojum aestivum L., Syst. Nat. ed. 10: 975 (1759) Ind. Loc.- “Habitat in Pannonia, Hetruria, Monspelii” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 414 (1762)] ≡ Leucojum aestivum subsp. aestivum L., Syst. Nat. ed. -

Phylogenetic Reconstruction of the Evolution of Stylar Polymorphisms in Narcissus (Amaryllidaceae)1
American Journal of Botany 91(7): 1007±1021. 2004. INVITED SPECIAL PAPER PHYLOGENETIC RECONSTRUCTION OF THE EVOLUTION OF STYLAR POLYMORPHISMS IN NARCISSUS (AMARYLLIDACEAE)1 SEAN W. G RAHAM2,4 AND SPENCER C. H. BARRETT3 2UBC Botanical Garden and Centre for Plant Research, 6804 SW Marine Drive, The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1Z4; and 3Department of Botany, University of Toronto, 25 Willcocks Street, Toronto, Ontario, Canada M5S 3B2 We investigated the origin of stylar polymorphisms in Narcissus, which possesses a remarkable range of stylar conditions and diverse types of ¯oral morphology and pollination biology. Reconstruction of evolutionary change was complicated by incomplete resolution of trees inferred from two rapidly evolving chloroplast regions, but we bracketed reconstructions expected on the fully resolved plastid- based tree by considering all possible resolutions of polytomies on the shortest trees. Stigma-height dimorphism likely arose on several occasions in Narcissus and persisted across multiple speciation events. As proposed in published models, this rare type of stylar polymorphism is ancestral to distyly. While there is no evidence in Narcissus that dimorphism preceded tristyly, a rapid transition between them may explain the lack of a phylogenetic footprint for this evolutionary sequence. The single instances of distyly and tristyly in Narcissus albimarginatus and N. triandrus, respectively, are clearly not homologous, an evolutionary convergence unique to Amaryllidaceae. Floral morphology was likely an important trigger for the evolution of stylar polymorphisms: Concentrated-changes tests indicate that a long, narrow ¯oral tube may have been associated with the emergence of stigma-height dimorphism and that this type of tube, in combination with a deep corona, likely promoted, or at least was associated with, the parallel origins of heterostyly. -

Transversal Pattern of the Leaves of Eighteen Species of the Genus Narcissus L
Flora Montiberica 79: 28-31 (III-2021) ISSN1138-5952 – eISSN1988-799X TRANSVERSAL PATTERN OF THE LEAVES OF EIGHTEEN SPECIES OF THE GENUS NARCISSUS L. (ASPARAGALES: AMARYLLIDACEAE) IN SPAIN Pedro GÓMEZ-MURILLO1 & Irene ARELLANO-MARTÍN2 1Independent Researcher. C/Caridad, 8. planta 2, pta. 8. 29680-Estepona (Málaga, Spain) [email protected]; [email protected] ABSTRACT: Data on the pattern of the cross section of the leaves and additional information on 18 wild species of the genus Narcissus L. observed and analyzed in-situ in Spain are shown. Keywords: Daffodils; Narcissus; classification; speciation; Extremadura; Andalucía; Spain. RESUMEN: Patrón transversal de las hojas de dieciocho especies del género Narcissus L. (Asparagales: Amaryllidaceae) en España. Se muestran datos sobre patrón del corte transversal de las hojas e información adicional de 18 especies silvestres del género Narcissus L. observadas y analizadas in-situ en España. Palabras clave: Narcissus; narcisos; especiación; Clasificación; Extremadura; Andalucía; España. INTRODUCTION It is not currently listed by IUCN. The genus Narcissus L. expresses its greatest diversi- Narcissus blancoi Barra & G. López ty in the Iberian Peninsula (BLANCHARD, 1990; MAR- JAÉN: Vilches, 30SVH52, 15-02-2019. QUES & al., 2017). Currently, the real number of species Endemic species of Spain, member of Sect. Bulboco- is far from being known, due to the great variability of dii (BARRA & al., 2011). some groups. The cross section of the leaves is semicircular (fig. 1c). The taxonomy of the genus Narcissus L. has proven It is not currently listed by IUCN. to be very complex and difficult to solve (WEBB, 1980; MATHEW, 2002). Historically, the number of accepted Narcissus cantabricus DC. -

Generic Classification of Amaryllidaceae Tribe Hippeastreae Nicolás García,1 Alan W
TAXON 2019 García & al. • Genera of Hippeastreae SYSTEMATICS AND PHYLOGENY Generic classification of Amaryllidaceae tribe Hippeastreae Nicolás García,1 Alan W. Meerow,2 Silvia Arroyo-Leuenberger,3 Renata S. Oliveira,4 Julie H. Dutilh,4 Pamela S. Soltis5 & Walter S. Judd5 1 Herbario EIF & Laboratorio de Sistemática y Evolución de Plantas, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile, Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Chile 2 USDA-ARS-SHRS, National Germplasm Repository, 13601 Old Cutler Rd., Miami, Florida 33158, U.S.A. 3 Instituto de Botánica Darwinion, Labardén 200, CC 22, B1642HYD, San Isidro, Buenos Aires, Argentina 4 Departamento de Biologia Vegetal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Postal Code 6109, 13083-970 Campinas, SP, Brazil 5 Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, Florida 32611, U.S.A. Address for correspondence: Nicolás García, [email protected] DOI https://doi.org/10.1002/tax.12062 Abstract A robust generic classification for Amaryllidaceae has remained elusive mainly due to the lack of unequivocal diagnostic characters, a consequence of highly canalized variation and a deeply reticulated evolutionary history. A consensus classification is pro- posed here, based on recent molecular phylogenetic studies, morphological and cytogenetic variation, and accounting for secondary criteria of classification, such as nomenclatural stability. Using the latest sutribal classification of Hippeastreae (Hippeastrinae and Traubiinae) as a foundation, we propose the recognition of six genera, namely Eremolirion gen. nov., Hippeastrum, Phycella s.l., Rhodolirium s.str., Traubia, and Zephyranthes s.l. A subgeneric classification is suggested for Hippeastrum and Zephyranthes to denote putative subclades. -

TELOPEA Publication Date: 13 October 1983 Til
Volume 2(4): 425–452 TELOPEA Publication Date: 13 October 1983 Til. Ro)'al BOTANIC GARDENS dx.doi.org/10.7751/telopea19834408 Journal of Plant Systematics 6 DOPII(liPi Tmst plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/Telopea • escholarship.usyd.edu.au/journals/index.php/TEL· ISSN 0312-9764 (Print) • ISSN 2200-4025 (Online) Telopea 2(4): 425-452, Fig. 1 (1983) 425 CURRENT ANATOMICAL RESEARCH IN LILIACEAE, AMARYLLIDACEAE AND IRIDACEAE* D.F. CUTLER AND MARY GREGORY (Accepted for publication 20.9.1982) ABSTRACT Cutler, D.F. and Gregory, Mary (Jodrell(Jodrel/ Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, England) 1983. Current anatomical research in Liliaceae, Amaryllidaceae and Iridaceae. Telopea 2(4): 425-452, Fig.1-An annotated bibliography is presented covering literature over the period 1968 to date. Recent research is described and areas of future work are discussed. INTRODUCTION In this article, the literature for the past twelve or so years is recorded on the anatomy of Liliaceae, AmarylIidaceae and Iridaceae and the smaller, related families, Alliaceae, Haemodoraceae, Hypoxidaceae, Ruscaceae, Smilacaceae and Trilliaceae. Subjects covered range from embryology, vegetative and floral anatomy to seed anatomy. A format is used in which references are arranged alphabetically, numbered and annotated, so that the reader can rapidly obtain an idea of the range and contents of papers on subjects of particular interest to him. The main research trends have been identified, classified, and check lists compiled for the major headings. Current systematic anatomy on the 'Anatomy of the Monocotyledons' series is reported. Comment is made on areas of research which might prove to be of future significance. -

I. Marques, A. Rosselló-Graell & D. Draper Narcissus ×Perezlarae (Amaryllidaceae) New for the Portuguese Flora
I. Marques, A. Rosselló-Graell & D. Draper Narcissus ×perezlarae (Amaryllidaceae) new for the Portuguese flora Abstract Marques, I., Rosselló-Graell, A., Drape, D.: Narcissus ×perezlarae (Amaryllidaceae) new taxon for the Portuguese flora. — Fl Medit. 15: 211-217. 2005. — ISSN 1120-4052. Narcissus ×perezlarae Font Quer is a natural hybrid between N. cavanillesii A. Barra & G. López and N. serotinus L, two autumnal flowering geophytes. Although scarce populations had been found in Spain since 1882, in the areas where the distribution of the two parental species overlaps, this is the first report of this taxon in Portugal. N. ×perezlarae was found in the con- text of conservation projects regarding the effects of the Alqueva dam in vascular plants, espe- cially on N. cavanillesii, a species considered as Critically Endangered (CR) in Portugal. Its his- tory, morphology, ecology and distribution is here illustrated as well as a brief discussion con- cerning the evolutionary implications of the presence of N. ×perezlarae in Portugal. Introduction Narcissus is considered a genus endemic to the Mediterranean region, presenting its highest diversity in the Iberian Peninsula. There is no global consensus concerning the number of species included in this genus but most authors agree in a number between 30 and 70 species (Fernandes 1975; Blanchard 1990; Barrett et al. 1996; Dobson et al. 1997). A recent review reports a number of 43 species endemic to the Iberian Peninsula (Moreno Saiz & Sainz Ollero 1992). This number could even rise if we considered the frequency and importance of natural hybridization in this genus (Fernandes 1951). Narcissus ×perezlarae is a natural hybrid between the two autumnal geophytes, N. -

Amaryllidaceae) in Iraq
Anales del Jardín Botánico de Madrid 74(1): e053 2017. ISSN: 0211-1322. doi: http://dx.doi.org/10.3989/ajbm.2451 On the genus Sternbergia (Amaryllidaceae) in Iraq Sami Youssef1, Ahmed Mahmood1 & Errol Vela2* 1 Department of Recreation and Ecotourism, College of Agriculture, University of Duhok, Sumail-Duhok 1063 BD, Kurdistan Region, Iraq 2 University of Montpellier, UMR AMAP (Botany and Modelisation of Plant Architecture), CIRAD TA A51/PS2, 34398 Montpellier cedex 5, France; [email protected] Abstract Resumen Youssef, S., Mahmood, A. & Vela, E. 2017. On the genus Sternbergia Youssef, S., Mahmood, A. & Vela, E. 2017. Sobre el género Sternbergia (Amaryllidaceae) in Iraq. Anales Jard. Bot. Madrid 74(1): e053. (Amaryllidaceae) en Iraq. Anales Jard. Bot. Madrid 74(1): e053. Sternbergia is a genus containing mostly remarkable autum flowering taxa Sternbergia contiene, sobre todo, extraordinarios táxones con floración oto- within Amaryllidaceae. Its distribution ranges from the Mediterranean ñal de las amarilidáceas. Su distribución abarca desde la región mediterránea, region through the Irano-Anatolian region to Caucasus and Central a través de la región irano-anatólica, hasta el Cáucaso y el Asia central. En la Asia. In Flora of Iraq, the information about the occurrence, habitat, and Flora de Iraq, la información sobre la presencia, el hábitat y la distribución de distribution of its species is outdated or incomplete. The main aim of sus especies está obsoleta o incompleta. El principal objetivo de este trabajo this study has been to contribute with new data from the field in order ha sido contribuir con datos nuevos tomados en el campo a actualizar su esta- to update its status in the Kurdistan Region. -

Comparative Plastomics of Amaryllidaceae: Inverted Repeat
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.21.449227; this version posted June 21, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Comparative plastomics of Amaryllidaceae: Inverted 2 repeat expansion and the degradation of the ndh 3 genes in Strumaria truncata Jacq. 4 5 6 Kálmán Könyves1, 2*, Jordan Bilsborrow2, Maria D. Christodoulou3, Alastair 7 Culham2, and John David1 8 9 1 Royal Horticultural Society, RHS Garden Wisley, Woking, United Kingdom 10 2 Herbarium, School of Biological Sciences, University of Reading, Reading, United Kingdom 11 3 Department of Statistics, University of Oxford, Oxford, United Kingdom 12 13 Corresponding Author: 14 Kálmán Könyves 15 Email address: [email protected] 1 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.21.449227; this version posted June 21, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 16 Abstract 17 18 Amaryllidaceae is a widespread and distinctive plant family contributing both food and 19 ornamental plants. Here we present an initial survey of plastomes across the family and report on 20 both structural rearrangements and gene losses. Most plastomes in the family are of similar gene 21 arrangement and content however some taxa have shown gains in plastome length while in 22 several taxa there is evidence of gene loss. -

Research on the Alkaloids of Amaryllidaceae Plants: Genera Lycoris and Hippeastrum
Research on the Alkaloids of Amaryllidaceae Plants: Genera Lycoris and Hippeastrum Ying Guo ADVERTIMENT . La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX ( www.tdx.cat ) i a través del Dipòsit Digital de la UB ( diposit.ub.edu ) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en a ctivitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposici ó des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB . No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autor a. ADVERTENCIA . La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR ( www.tdx.cat ) y a través del Repositorio Digital de la UB ( diposit.ub.edu ) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde u n sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB . -

A Three-Genome Five-Gene Comprehensive Phylogeny of The
1 A three-genome five-gene comprehensive phylogeny of the 2 bulbous genus Narcissus (Amaryllidaceae) challenges current 3 classifications and reveals multiple hybridization events 4 5 Isabel Marques1,2*, Javier Fuertes Aguilar3, Maria Amélia Martins-Louçao4, Farideh 5 3 6 Moharrek , Gonzalo Nieto Feliner 7 1Department of Agricultural and Environmental Sciences, High Polytechnic School of 8 Huesca, University of Zaragoza, Carretera Cuarte km 1, 22071 Huesca, Spain. 9 2UBC Botanical Garden & Centre for Plant Research and Department of Botany, 10 University of British Columbia, 3529-6270 University Blvd, Vancouver BC V6T 1Z4, 11 Canada. 12 3Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2, Madrid 28014, Spain. 13 4Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes. Faculdade de Ciências. 14 University of Lisbon. Lisbon, Portugal. 15 5Department of Plant Biology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares 16 University, Tehran 14115-154, Iran. 17 *Corresponding author: Isabel Marques ([email protected]) 18 19 Running title: A three-genome phylogeny of Narcissus 20 1 21 Abstract 22 Besides being one of the most popular ornamental bulbs in western horticulture, the 23 Mediterranean genus Narcissus has been the subject of numerous studies focusing on a 24 wide scope of topics, including cytogenetics, hybridization and the evolution of 25 polymorphic sexual systems. Phylogenetic hypotheses based on chloroplast data have 26 provided a backbone for the genus but a detailed phylogenetic framework is still 27 lacking. To fill this gap, we present a phylogenetic study of the genus using five 28 markers from three genomes: ndhF and matK (chloroplast DNA), cob and atpA 29 (mitochondrial DNA), and ITS (nuclear ribosomal DNA). -
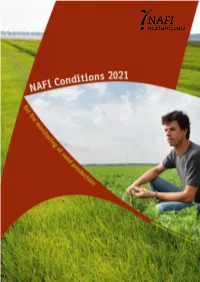
NAFI Conditions 2021 Compared to NAFI Conditions 2020)
Authorized Field Inspection Naktuinbouw Conditions 2021 Table of contents Introduction ............................................................................................................................................ 3 NAKTUINBOUW MODULE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS .......................... 4 1. Identity ...................................................................................................................................... 4 2. Scope ....................................................................................................................................... 4 3. Quality management system (QMS) ........................................................................................ 4 4. Quality manual ......................................................................................................................... 4 5. Organization ............................................................................................................................. 4 6. Document control ..................................................................................................................... 5 7. Control of records ..................................................................................................................... 5 8. Audits ....................................................................................................................................... 5 9. Complaints .............................................................................................................................. -

Contents: I. Calendar Overview II. Keynote
Contents: I. Calendar Overview II. Keynote Presentations III. Conference Program IV. Changes to program Suggested changes contact Bob Thomson (email: [email protected]; tweet @rcthomson) Evolution 2013 Calendar of Events Color Key: Meetings/Small Room/No Service; Meetings, Breaks, Receptions/Service; Symposia/No Service; Workshops, Meetings, Lectures/No Service Columbine in Snowbird Center Nursing room Wardrobe A and B in Cliff Lodge Nursing room Little Pine Conference office Event Tent Coffee Breaks White/RedPine Practice room for talk preparation Ballroom Mezzanine Registration. Thursday, June 20 Location Time Event Event Tent 8:00 AM–5:00 PM Exhibitor Load-In Mezzanine 6:00-8:00 PM Registration Open Friday, June 21 Event Tent 8:00 AM–5:00 PM Exhibitor Load-In Superior A/B 8:30 AM–5:00 PM Professional Development for Undergraduate Educators Workshop/Breakfast (Kristin Jenkins and Louise Mead) Wasatch A/B 8:00 AM–Noon ASN/SSE/SSB Joint Council Meeting/Breakfast Superior A/B Noon–1:30 PM Professional Development Workshop Lunch Ballroom 1:00–5:00 PM Phylogenetics Workshop (Bryan Carstens) Wasatch A/B Noon–2:30 PM Molecular Ecology Editorial Board Meeting/Lunch Board Room Noon–5:00 PM SSE Lunch/Council Meeting Magpie B Noon-5:00 PM ASN Lunch/Council meeting Magpie A 1:00–5:00 PM SSB Council Meeting Superior A/B 3:00–3:30 PM Professional Development Workshop Coffee Break Wasatch A/B 2:30–5:30 PM Molecular Ecology Resources Editorial Board/Coffee Break Event Tent 6:00–8:00 PM Opening Reception Ballroom 8:00–9:30 PM S.J.