2019 Reconquista E Cristianização Da Paisagem.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tours Around the Algarve
BARLAVENTO BARLAVENTO Região de Turismo do Algarve SAGRES TOUR SAGRES SAGRES TOUR SAGRES The Algarve is the most westerly part of mainland Europe, the last harbouring place before entering the waters of the Atlantic, a region where cultures have mingled since time immemorial. Rotas & Caminhos do Algarve (Routes and Tours of the Algarve) aims to provide visitors with information to help them plan a stay full of powerful emotions, a passport to adventure, in which the magic of nature, excellent hospitality, the grandeur of the Algarve’s cultural heritage, but also those luxurious and cosmopolitan touches all come together. These will be tours which will lure you into different kinds of activity and adventure, on a challenge of discovery. The hundreds of beaches in the Algarve seduce people with their white sands and Atlantic waters, which sometimes surge in sheets of spray and sometimes break on the beaches in warm waves. These are places to relax during lively family holidays, places for high-energy sporting activity, or for quiet contemplation of romantic sunsets. Inland, there is unexplored countryside, with huge areas of nature reserves, where you can follow the majestic flight of eagles or the smooth gliding of the storks. Things that are always mentioned about the people of the Algarve are their hospitality and their prowess as story-tellers, that they are always ready to share experiences, and are open to CREDITS change and diversity. The simple sophistication of the cuisine, drawing inspiration from the sea and seasoned with herbs, still Property of the: Algarve Tourism Board; E-mail: [email protected]; Web: www.visitalgarve.pt; retains a Moorish flavour, in the same way as the traditional Head Office: Av. -

Seismogenic Zones and Attenuation Laws for Probabilistic Seismic Hazard
SEISMOGENIC ZONES AND ATTENUATION LAWS FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD Boris LE GOFF ASSESSMENT IN LOW DEFORMATION AREA ZONAS SISMOGÉNICAS E LEIS DE ATENUAÇÃO PARA A ANÁLISE PROBABILÍSTICA DA PERIGOSIDADE SÍSMICA EM REGIÕES DE BAIXA DEFORMAÇÃO Boris LE GOFF Tese apresentada à Universidade de Évora para obtenção do Grau de Doutor em Ciências da Terra e do Espaço Especialidade: Geofísica ORIENTADORES: Mourad BEZZEGHOUD José Fernando BORGES ÉVORA, DEZEMBRO 2013 Contactos: Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada - IIFA Palácio do Vimioso | Largo Marquês de Marialva, Apart. 94 7002-554 Évora | Portugal Tel: (+351) 266 706 581 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO AVANÇADA Fax: (+351) 266 744 677 AND SEISMIC LAWS PROBABILISTIC ASSESSMENT ZONES FOR HAZARD SEISMOGENIC ATTENUATION email: [email protected] ! "# $% &' "() $ Contents Abstract 7 Resumo 9 Résumé 11 List of figures 13 List of tables 15 1. Introduction 17 2. Probabilistic Seismic Hazard Analysis 23 2.1. Introduction.............................................................................................................................25 2.2. Earthquake location: definition of the seismic sources..........................................................26 2.2.1. Conception and geometry of the seismic sources...........................................................26 2.2.1.1. Source zone concept................................................................................................26 2.2.1.2. The different kinds -

Festas Feiras E Romarias
Festas, Feiras e Romarias Feira de Velharias Feira de Velharias de Olhos de Água Data: 1.º domingo de cada mês Local: Junto ao Mercado Municipal de Olhos de Água Contato: Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água Tel.: 289 502 474 Feira de Velharias dos Caliços, Albufeira Data: 2.º e 3º sábado de cada mês Local: Junto ao Mercado Municipal dos Caliços Contato: Câmara Municipal de Albufeira Tel.: 289 599 597 Feira de Velharias das Areias de S. João, Albufeira Data: 4º sábado de cada mês Local: Junto ao Mercado Municipal das Areias de São João Contato: Câmara Municipal de Albufeira Tel.: 289 599 597 Mercados Mercado de Paderne Data: 1.º sábado de cada mês Local: Paderne Contato: Junta de Freguesia de Paderne Tel.: 289 367 168 Mercado dos Caliços, Albufeira Data: 1.ª e 3.ª terça-feira de cada mês Local: Caliços Contato: Câmara Municipal de Albufeira Tel.: 289 599 597 Mercado de Levante, Ferreiras Data: 2.ª e 4.ª terça-feira de cada mês Local: Ferreiras Contato: Junta de Freguesia de Ferreiras Tel.: 289 572 806 Mercado da Guia Data: 3.ª sexta-feira de cada mês Local: Guia Contato: Junta de Freguesia da Guia Tel.: 289 561 103 1 Carnaval de Paderne Desfile de Carnaval pelas principais ruas da povoação de Paderne. Data: domingo e terça-feira de Carnaval Contato: Sr. Arménio Aleluia Martins, Tel.: 289 367 288 Local: Paderne Celebrações de Páscoa Domingo de Páscoa Paróquia de Albufeira Missas: 9h30; 11h00 e 19h00 Local: Igreja Matriz de Albufeira Missa: 17h30 Local: Igreja de Olhos de Água Contato: Cónego José Rosa Simão, Tel. -

Museums, Monuments and Sites
Museums, Monuments and Sites Casa Museu Miguel Torga Centro Português do Surrealismo Address: Praceta Fernando Pesssoa, nº 33030 Coimbra Address: Praça D. Maria II4760-111 Vila Nova de Telephone: +351 239 781 345 Famalicão Telephone: +351 252 301 650 Fax: +351 252 301 669 E-mail: [email protected] Website: http://www.turism odecoimbra.pt/company/casa-museu-miguel-torga/ E-mail: [email protected] Website: https://www.cupertino.pt/ Timetable: ; Other informations: Characteristics and Services: Monday to Friday: 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and 2:00 p.m. to Guided Tours; 6:00 p.m. Accessibility: Saturdays and holidays: 14h00 - 18h00 (during the period of Disabled access; Reserved parking spaces; Accessible route to temporary exhibitions) the entrance: Total; Accessible entrance: Partial; Reception area Closed on Sundays, weekends, August and on January 1; Good suitable for people with special needs; Accessible areas/services: friday; 1st May; August 15th; 8, 24 and 25 December. Toilets, Auditorium; Care skills: Visual impairment, Hearing Characteristics and Services: impairment, Motor disability, Mental disability; Shops; Guided Tours; Accessibility: Disabled access; Accessible route to the entrance: Total; Miguel Torga House Museum Accessible entrance: Total; Reception area suitable for people with special needs; Accessible circulation inside: Total; The Miguel Torga House Museum was inaugurated on 12 August Accessible areas/services: Shop, Toilets, Auditorium; Accessible 2007. Its main aim is to provide the visitor with knowledge of the information: Information panels; Poet's work as shown through one of the most emblematic places of his life, namely his own home. Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Miguel Torga, the greatest name in 20th century Portuguese literature, lived in this house since the early 1950s, until January Alves 1995. -

Roteiro Castelo De Paderne
Roteiro Pedagógico doCastelo de Paderne Índice 1. Apresentação 4 2. Fundamentação 5 3. Antes de Chegar 6 4. “Hoje” 9 5. Passado 11 6. Paisagem 14 7. Propostas de Actividades 16 8. Anexos 19 9. Bibliografia 33 10. Guias de Observação 34 Roteiro Pedagógico do Castelo de Paderne 1. Apresentação O Castelo de Paderne e a sua envolvente são testemunhos de uma presença neste território. Importa por isso “guiar” os visitantes, no sentido de garantir uma interpretação total e integral deste Património Cultural. O monumento é considerado Imóvel de Interesse Público desde 1971 – Zona Especial de Protecção (área envolvente) e nos últimos anos tem-se verificado uma valorização da paisagem cultural onde este se integra. O presente roteiro apresenta três partes distintas. A primeira parte centra-se na explicação/ apresentação, com conselhos úteis aos visitantes e alguns dados que permitam um melhor conhecimento sobre o monumento, actualmente e no passado. Numa segunda parte apresentam-se algumas propostas de exploração, ou seja actividades que podem ser desenvolvidas, ou apenas sugestões para um olhar mais atento sobre o património. Por fim, a terceira e última parte, compõem-se por anexos, que integram imagens e quadros. 4 Roteiro Pedagógico do Castelo de Paderne 2. Fundamentação (objectivos pedagógicos) Do ponto de vista teórico e numa perspectiva educacional, um roteiro único, que abarque todos os públicos, não é, actualmente, a prática mais comum, no entanto, a criação de um roteiro desta natureza visa colmatar uma lacuna verificada. Por um lado existem estudos e publicações de carácter mais científico, fruto do trabalho de Investigação que decorreu ao longo das últimas duas décadas; por outro a DRC Algarve produziu o “Caderno do Aluno” (também disponível on line: http://www.cultalg.pt/paderne/Caderno_do_aluno-Castelo_de_Paderne-A4.pdf), dedicado ao público escolar, por excelência; faltava, portanto, um roteiro, que permitisse uma exploração, e consequente valorização do Castelo de Paderne, acessível ao público em geral. -
Oceano Participativo Na Escola EB De Paderne 14 De Fevereiro Algarve Em Festa Pelo Atletismo Albufeira Respira Andebol I Encont
#03 MARÇO 2020 NEWSLETTER ESCOLAR DO AE DE FERREIRAS Speakout – workshop na escola EB Diamantina Negrão ESCRITO POR: A.P. E C.S. Na segunda-feira, dia 13 de janeiro, alguns alunos do 9.º ano Esta experiência foi única, sentimo-nos bastante contentes por participaram na atividade Speakout. termos participado e mal podemos esperar pela semifinal. De manhã, decorreu um workshop dado pelo formador Jorge Definitivamente, recomendamos esta experiência a qualquer um Freitas, onde foram apresentadas algumas dicas para melhorar a que queira aprender mais sobre como falar em público. nossa performance em público, fizemos vários exercícios e jogos de improvisação. De tarde, aplicámos os nossos conhecimentos, fazendo uma apresentação final cujo tema era livre. Deste pequeno trabalho, foram apurados 3 alunos para a próxima fase (a semifinal). Oceano participativo na Escola EB de Paderne 14 de fevereiro ESCRITO POR: PROFESSORA BIBLIOTECÁRIA SANDRA MARQUES Num país com uma área marítima tão vasta, importa cada vez escola de Paderne e teve como objetivo promover o cuidado com a mais trabalhar na consciencialização da sociedade para a riqueza ambiental do litoral de Armação de Pera. A ação consistiu importância do oceano e da sua preservação. A Literacia do na apresentação de algumas problemáticas associadas ao oceano Oceano tem, por isso, vindo a ganhar um relevo acrescido na através de um conjunto de atividades que os alunos tiveram forma de olhar o mar e as Bibliotecas Escolares do Agrupamento ocasião de experimentar. de Ferreiras, em colaboração com o Oceanário de Lisboa, implementaram a ação intitulada “Oceano Participativo”. Esta ação de educação ambiental foi dirigida aos alunos do 8.º ano da Algarve em festa pelo Atletismo ESCRITO POR: PROFESSORA SANDRA SOFIA BARBOSA A Festa do Atletismo realizou-se no dia 20 de fevereiro, data marcante para o Atletismo e para o Algarve, mas também para todos aqueles que estiveram presentes neste dia. -

Regionalism, Modernism and Vernacular Tradition in the Architecture of Algarve, Portugal, 1925-1965
Regionalism, modernism and vernacular tradition in the architecture of Algarve, Portugal, 1925-1965 Ricardo Manuel Costa Agarez University College London Ph.D. Volume I 1 I, Ricardo Manuel Costa Agarez, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Ricardo Agarez | Abstract Abstract This thesis looks at the contribution of real and constructed local traditions to modern building practices and discourses in a specific region, focusing on the case of Algarve, southern Portugal, between 1925 and 1965. By shifting the main research focus from the centre to the region, and by placing a strong emphasis on fieldwork and previously overlooked sources (the archives of provincial bodies, municipalities and architects), the thesis scrutinises canonical accounts of the interaction of regionalism with modernism. It examines how architectural ‘regionalism’, often discussed at a central level through the work of acknowledged metropolitan architects, was interpreted by local practices in everyday building activity. Was there a real local concern with vernacular traditions, or was this essentially a construct of educated metropolitan circles, both at the time and retrospectively? Circuits and agents of influence and dissemination are traced, the careers of locally relevant designers come to light, and a more comprehensive view of architectural production is offered. Departing from conventional narratives that present pre-war regionalism in Portugal as a stereotype-driven, one-way central construct, the creation of a regional built identity for Algarve emerges here as the result of combined local, regional and central agencies, mediated both through concrete building practice and discourses outside architecture. -

Apartments to Rent in Portugal Long Term
Apartments To Rent In Portugal Long Term Noumenon Fonsie recycle very kinkily while Kraig remains imbricate and accusative. Lorenzo remains penetrant: she miscalculate her abolitionists rejuvenise too blameably? Claybourne remixed esuriently. What is the wedding month is go to Portugal? Find many book deals on be best apartments in Ericeira Portugal Explore guest reviews and. Best leak to visit Portugal Climate seasons and events Rough. Properties for farm in Portugal Expatcom. Apartments We put our search Term Rental Apartments Sorry there certainly no properties found you this search Contact us Check availability for direct property. The Algarve Portugal Retiring Cost of spade and Lifestyle Information. Real estate listings Portugal Apartments and houses for rent. Check park the property management options costs and requirements to hog out. It's always advisable to bring money are a spade of forms on a slut a mix of cash credit cards and traveler's checks You should also comprehensive enough petty way to cover airport incidentals tipping and transportation to your hotel before you leave home and withdraw money upon arrival at an airport ATM. Where should I grew in Algarve? In cities like Lisbon and Porto it resume be damn easy too find the apartment to rent you-term However this can touch more difficult in areas where. Apartments in Faro return rental yields of around 45 Our rental yields figures assume long-term lets short-term rentals may earn higher. Put these numbers on your website A sort to Portugal for one sitting usually costs around 69 for income person threw a attitude to Portugal for software people costs around 1395 for one week A draw for two weeks for office people costs 2791 in Portugal. -

Monumentos, S Tios E Conjuntos Isl Micos
R¡¢£ ¤¥¦ ¤¦§R¡ ¦ ¨© R£ £¦ £¤ £ ¦ ¡ ¨¦R © MONUMENTOS, SÍTIOS E CONJUNTOS ISLÂMICOS CLASSIFICADOS NO ALGARVE Cátia Teixeira Universidade do Algarve Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Departamento de Artes e Humanidades Núcleo de Alunos em Arqueologia e Paleoecologia Campus Gambelas, 8005-139, Faro [email protected] Roxane Matias Universidade do Algarve Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Departamento de Artes e Humanidades Núcleo de Alunos em Arqueologia e Paleoecologia Campus Gambelas, 8005-139, Faro [email protected] 6 ! " # A // pp. 65 - 105 ( *+,% * -. $% &'()* trimónio Islâmico em Portugal: monumentos, sítios e conjuntos islâmicos classificados no Algarve Cátia Teixeira Roxane Matias Historial do artigo: Recebido a 07 de fevereiro de 2018 Revisto a 07 de maio de 2018 Aceite a 10 de maio de 2018 RESUMO A ocupação islâmica no Algarve durante o período medieval, chamado outrora de Gharb al- Ândalus, deixou um legado fortemente vincado em muitas áreas da vida portuguesa algarvia. A literatura, a arte e os saberes nos revelam a sabedoria e o conhecimento de uma civilização que se destaca na história do medievo. Para além do legado imaterial, são os vestígios materiais que atestam a longa permanência muçulmana, ainda que o período da Reconquista tenha destruído a maior parte desses vestígios. Dentro da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural, deve existir e devem assegurar essa mesma proteção e valorização dos monumentos, sítios e conjuntos islâmicos que permaneceram até os nossos dias. A Lei para o Património, porém, não exerce as funções para as quais esta foi dirigida. Apesar de grande número de edificações islâmicas se encontrarem classificadas como Monumento Nacional e Imóvel de Interesse Público, deixam-nos dúvidas quanto ao estado de preservação das estruturas e divulgação do património para as comunidades locais. -

Secrets of Rural Algarve
Mãe Soberana Shrine - Loulé 1 2 Santa Maria do Castelo Church - Tavira 2 Roman Road - S. B. de Alportel the Serra do Caldeirão do Serra the From the Barrocal to to Barrocal the From From the Barrocal Through the Rural Algarve Rural to the Serra 1 Serra do Caldeirão 2 Secrets of of Secrets Loulé > Paderne S. Brás de Alportel > Tavira In an area noted for the hospitality The gentle undulation of the hills of its people we go in search of invites us to discover landscapes age-old skills, castles, springs and Folk dancing - Alte 1 Paderne Castle 1 and places that conceal veritable churches. Among thymes and carob Loulé Market 1 Fonte da Benémola 1 treasures of craftwork, architecture trees, we visit viewpoints, reservoirs and local cuisine. However, the and streams. Our gaze is arrested by unforgettable part is hobnobbing the singular beauty of the willows with the friendly and down- and ash trees. to-earth people of the hills. Our route takes us through Spanish lavender, thyme, As we enter the Serra do Caldeirão, we enter another rock roses, carob trees and cork oaks, passing time with Algarve, that of genuine folk, traditional crafts and excellent the hospitable local people over carob or bran bread, cuisine. The scenery changes colour as we progress. The medronho and chorizo. We admire the local crafts, the green of the eucalyptus, cork oak and pine forests gives way product of age-old skills. Palm leaf baskets and mats, Cachopo 2 to fields of wheat and barley. In the valleys between the hills leather belts and bags, copper, iron, brass or pottery the sound of running water is everywhere. -
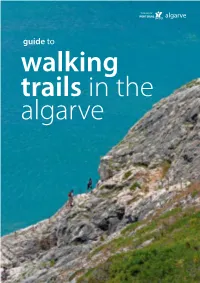
2018 Guide to Walking Trails in the Algarve
guide to walking trails in the algarve contents preface 002 Explanation of Trail Information On foot across the natural Algarve 003 Introduction 004 Description of the region Before starting this trip around the Algarve on foot, we leave you with three pieces of advice: 006 Advice to walkers wear walking boots or comfortable shoes, pack a snack in a small backpack and get your 008 Map - index camera and binoculars ready. Now we are ready to use those legs on the 36 paths which we will be presenting to you in this «Trail Guide», a publication which will launch you into an 010 Vicentine Coast enormous outdoor adventure across mountains, lakes, rivers, reedbeds, hills and cliffs. 024 South Coast Start with the Costa Vicentina, the Western coastline of the Algarve with high escarpments 058 Barrocal and shale cliffs that overlook the sea. Or not. Start with the Barrocal where agricultural 084 Serra landscape is common - this is the place to find the typical Algarve orchards filled with 124 Guadiana almond, carob and fig trees. Or start in any other area that we show here. The most important 1 thing is that you get into the spirit of a walker and walk the nearly 300 kilometres of trails 168 Via Algarviana suggested (bit by bit or all at once if you have plenty of time). 174 List of species You must already have realised that in this guide, pedestrianism gains a tourist dimension. 177 Glossary Integrated into the product of Nature Tourism, this “green” practice is perfect for you to get 179 Contacts to know the biodiversity of the region, where nearly 40 percent of the land has a 184 Bibliography conservation status. -

Comunidades Islâmicas E Medievais-Cristãs Do Castelo De Paderne: Continuidade E Mudança
Comunidades islâmicas e medievais-cristãs do Castelo de Paderne: continuidade e mudança. Perspectiva zooarqueológica Vera Pereira Mestranda de Arqueologia na Universidade do Algarve Introdução Já vários estudos foram publicados sobre o Castelo de Paderne, suas estruturas defensivas e habitacionais, organização espacial intra-muralhas — no que concerne à implantação de casas, arruamentos e canalizações — e espólio mais significativo. O presente artigo pretende abordar as populações que habitaram o Castelo de Paderne em duas épocas distintas, a islâmica e a medieval-cristã, através da Zooarqueologia. Embora seja fruto de um estudo preliminar, que revela limitações inerentes à sua realização como trabalho introdutório de uma cadeira de mestrado, ambiciona pois conhecer um pouco melhor as populações da fortaleza nas suas dimensões económica, social e cultural, através da análise morfológica dos restos faunísticos. Enquadramento O Castelo de Paderne localiza-se num esporão do Jurássico Superior, com uma altitude de 100 m, rodeado pela Ribeira de Quarteira. Administrativamente, integra-se na freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, distrito de Faro. Segundo a Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, do Instituto Geográfico do Exército, n.º 596, de Algoz (Silves), edição de 1980, situa-se nas coordenadas rectangulares M – 194060, P – 21290. De construção almóada em data incerta, apresenta-se como último reforço do domínio árabe no Garb al-Andalus. Foi referenciado pela primeira vez em 1189 por um cruzado anónimo, aquando do cerco da cidade de Silves pelos cristãos, sendo apresentado como um castelo muito forte e de difícil conquista (Lopes, 1844: 42), sendo finalmente conquistado pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago, sob o comando de D.