Lembrar Contar Recontar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
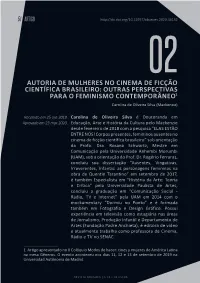
AUTORIA DE MULHERES NO CINEMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRO: OUTRAS PERSPECTIVAS PARA O FEMINISMO CONTEMPORÂNEO1 Carolina De Oliveira Silva (Mackenzie)
51 ARTIGO http://dx.doi.org/10.12957/abusoes.2020.46132 02 AUTORIA DE MULHERES NO CINEMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRO: OUTRAS PERSPECTIVAS PARA O FEMINISMO CONTEMPORÂNEO1 Carolina de Oliveira Silva (Mackenzie) Recebido em 25 out 2019. Carolina de Oliveira Silva é Doutoranda em Aprovado em 23 mar 2020. Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie desde fevereiro de 2018 com a pesquisa “ELAS ESTÃO ENTRE NÓS! Corpos presentes, femininos ausentes no cinema de ficção científica brasileiro” sob orientação da Profa. Dra. Rosana Schwartz, Mestre em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM), sob a orientação do Prof. Dr. Rogério Ferraraz, concluiu sua dissertação “Ausentes, Vingativas, Irreverentes, Infantis: as personagens femininas na obra de Quentin Tarantino” em setembro de 2017, é também Especialista em “História da Arte: Teoria e Crítica” pela Universidade Paulista de Artes, concluiu a graduação em “Comunicação Social - Rádio, TV e Internet” pela UAM em 2014 com o mockumentary “Dormiu no Ponto” e é formada também em Fotografia e Design Gráfico. Possui experiência em televisão como estagiária nas áreas de Jornalismo, Produção Infantil e Departamento de Artes (Fundação Padre Anchieta), é editora de vídeo e atualmente trabalha como professora de Cinema, Rádio e TV no SENAC. 1 Artigo apresentado no II Colóquio Modos de hacer: cines y mujeres de América Latina na mesa Gêneros. O evento aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2019 na Universidad Autônoma de Madrid. REVISTA ABUSÕES | n. 11 v. 11 ano 06 52 ARTIGO http://dx.doi.org/10.12957/abusoes.2020.46132 Resumo: Este artigo pretende desenvolver uma reflexão acerca da perspectiva de cineastas mulheres no cinema brasileiro a partir de um recorte que abarque a cinematografia de ficção científica nacional. -

Do Teatro Ao Cinema – Três Olhares Sobre O Auto Da Compadecida1
Do Teatro ao Cinema – três olhares sobre o Auto da Compadecida1 Cláudio Bezerra2 Universidade Católica de Pernambuco Sinopse O presente trabalho faz um estudo comparativo das três adaptações cinematográficas da peça Auto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna. A análise observa e compara as características gerais dos três filmes em relação a alguns elementos narrativos como fábula, trama, caracterização dos personagens, presença do narrador, pontos de vista e montagem. Sem qualquer julgamento de valor, procura-se entender a adaptação como um processo que envolve opções estéticas pessoais, relacionadas a certas tendências dominantes na linguagem audiovisual. Palavras-chave: cinema; adaptação; narrativa; Auto da Compadecida. Introdução A transposição de um texto literário ou dramático para o audiovisual, chamada adaptação3, é uma operação complexa e envolve uma série de detalhes, sutilezas e possibilidades criativas, muitas vezes não levadas em consideração quando da análise de obras adaptadas. Durante muito tempo, o debate em torno da adaptação esteve concentrado no problema da fidelidade ao texto de origem e, não raro, os críticos julgavam o trabalho do cineasta com critérios específicos ao campo literário (as propriedades sensíveis do texto) e procuravam sua tradução no que é específico do cinema (fotografia, trilha, ritmo da montagem, composição das personagens, etc). Mas, os estudos sobre as adaptações têm passado por um processo evolutivo, com novos aportes teóricos sendo incorporados à análise cinematográfica. É nesse contexto em que a metalinguagem tem sido apontada como um elemento central para o entendimento da obra fílmica, e as análises das adaptações passaram a dar uma atenção especial aos deslocamentos entre as culturas. Através da metalinguagem, a adaptação de um texto 1 Trabalho apresentado ao NP 07 – Comunicação Audiovisual, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. -

TABATA GALINDO HONORATO Os Transtornos Da Personalidade No
TABATA GALINDO HONORATO Os Transtornos da Personalidade no Cinema Brasileiro SÃO PAULO 2018 TABATA GALINDO HONORATO Os Transtornos da Personalidade no Cinema Brasileiro Projeto apresentado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre. Área de concentração: Psicologia Clínica Linha de pesquisa: Práticas clínicas: fundamentos, procedimentos e interlocuções. Orientador: Prof. Dr. Francisco Lotufo Neto SÃO PAULO 2018 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. Catalogação na publicação Biblioteca Dante Moreira Leite Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo Dados fornecidos pelo(a) autor(a) Galindo Honorato, Tabata OS TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE NO CINEMA BRASILEIRO / Tabata Galindo Honorato; orientador Francisco Lotufo Neto. -- São Paulo, 2018. 95 f. Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2018. 1. Transtornos da personalidade. 2. Cinema. 3. Filmes. 4. Psicopatologia. 5. Ensino. I. Lotufo Neto, Francisco, orient. II. Título. Nome: Honorato, Tabata Galindo Título: Os Transtornos da Personalidade no Cinema Brasileiro. Trabalho apresentado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Ciências. Aprovado em: Banca Examinadora Prof. Dr. __________________________________________________ Instituição:________________________________________________ -

Resumen De La Tesis Doctoral
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa (A.I.P.S.E.) RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL El Séptimo Arte en Brasil y la Educación: la importancia del cine como una práctica educativa y la intervención pedagógica en educación primaria y secundaria AUTOR Edison Pereira da Silva DIRECTORA María Carmen Pereira Domínguez Ourense, 2013 Resumen Pretendo informar sucintamente del contenido de la Tesis doctoral titulada el Séptimo Arte en Brasil y la educación: la importancia del cine como una práctica educativa y la intervención pedagógica en educación primaria y secundaria, desarrollada en Brasil, y matriculada en la Universidad de Vigo (España) bajo la dirección de la Doctora María del Carmen Pereira Domínguez. Después de años de investigación sobre el Séptimo Arte, sobre su surgimiento, crecimiento y consolidación como un poderoso medio de comunicación, creo que lo que mejor describe a este concepto, el símbolo y la metáfora que más se aproxima a su esencia, es su propio universo. Universo que debe ser descubierto cada día, en cada producción, en cada intervención desarrollada por fantásticos directores y en cada uno de los pensadores que se atreven a utilizar este arte como instrumento innovador para sus clases. Educar es crear oportunidades; es hacer de las oportunidades la posibilidad de crear realidades innovadoras. No sólo el universo considerado como un espacio físico, como podría sugerir el término Séptimo Arte, sino el universo como la unidad que reúne la diversidad, el movimiento y la vida. Un todo orgánico y no simplemente mecánico, en constante transformación. La industria del cine mundial, cuya base es la imaginación, me parece un universo en constante expansión. -

FAMECOS Mídia, Cultura E Tecnologia Metodologias
Revista FAMECOS mídia, cultura e tecnologia Metodologias A legião dos rejeitados: notas sobre exclusão e hegemonias no cinema brasileiro dos anos 20001 The legion of rejected: notes on exclusion and hegemonies in the years 2000 Brazilian cinema JOÃO GUILHERME BARONE REIS E SILVA Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM-PUCRS) – Porto Alegre, RS, Brasil. <[email protected]> RESUMO ABSTRACT Este artigo retoma questões relacionadas ao desempenho dos This paper reworks on questions related with the performance filmes de longa metragem nacionais lançados no mercado of the Brazilian feature film released in the theatrical market, de salas, entre os anos 2000-2009, os quais não atingiram a in the years 2000-2009, whose box office did not reach the marca de 50 mil espectadores, propondo algumas reflexões mark of 50 thousand spectators, in order to propose some sobre a ocorrência de processos hegemônicos e de exclusão reflections about a process of hegemonies and exclusion que parecem ter se estabelecido no cinema brasileiro that seems to be settled in the contemporary Brazilian contemporâneo. cinema. Palavras-chaves: Cinema brasileiro; Distribuição; Indústria Keywords: Brazilian cinema; Distribuition; Film industry. cinematográfica. Porto Alegre, v. 20, n. 3, pp. 776-819, setembro/dezembro 2013 Baronea, J. G. – A legião dos rejeitados Metodologias a identificação de hegemonias e assimetrias DDurante o projeto de pesquisa Comunicação, tecnologia e mercado. Assimetrias, desempenho e crises no cinema brasileiro contemporâneo, iniciado em 2009, uma das principais constatações foi o estabelecimento de um cenário de assimetrias profundas entre os lançamentos nacionais que chegavam ao mercado de salas, no período compreendido entre os anos 2000-2009. -

Half Title>NEW TRANSNATIONALISMS in CONTEMPORARY LATIN AMERICAN
<half title>NEW TRANSNATIONALISMS IN CONTEMPORARY LATIN AMERICAN CINEMAS</half title> i Traditions in World Cinema General Editors Linda Badley (Middle Tennessee State University) R. Barton Palmer (Clemson University) Founding Editor Steven Jay Schneider (New York University) Titles in the series include: Traditions in World Cinema Linda Badley, R. Barton Palmer, and Steven Jay Schneider (eds) Japanese Horror Cinema Jay McRoy (ed.) New Punk Cinema Nicholas Rombes (ed.) African Filmmaking Roy Armes Palestinian Cinema Nurith Gertz and George Khleifi Czech and Slovak Cinema Peter Hames The New Neapolitan Cinema Alex Marlow-Mann American Smart Cinema Claire Perkins The International Film Musical Corey Creekmur and Linda Mokdad (eds) Italian Neorealist Cinema Torunn Haaland Magic Realist Cinema in East Central Europe Aga Skrodzka Italian Post-Neorealist Cinema Luca Barattoni Spanish Horror Film Antonio Lázaro-Reboll Post-beur Cinema ii Will Higbee New Taiwanese Cinema in Focus Flannery Wilson International Noir Homer B. Pettey and R. Barton Palmer (eds) Films on Ice Scott MacKenzie and Anna Westerståhl Stenport (eds) Nordic Genre Film Tommy Gustafsson and Pietari Kääpä (eds) Contemporary Japanese Cinema Since Hana-Bi Adam Bingham Chinese Martial Arts Cinema (2nd edition) Stephen Teo Slow Cinema Tiago de Luca and Nuno Barradas Jorge Expressionism in Cinema Olaf Brill and Gary D. Rhodes (eds) French Language Road Cinema: Borders,Diasporas, Migration and ‘NewEurope’ Michael Gott Transnational Film Remakes Iain Robert Smith and Constantine Verevis Coming-of-age Cinema in New Zealand Alistair Fox New Transnationalisms in Contemporary Latin American Cinemas Dolores Tierney www.euppublishing.com/series/tiwc iii <title page>NEW TRANSNATIONALISMS IN CONTEMPORARY LATIN AMERICAN CINEMAS Dolores Tierney <EUP title page logo> </title page> iv <imprint page> Edinburgh University Press is one of the leading university presses in the UK. -

José Carlos Felix Caos Controlado: a Tensão Entre Controle Técnico E Liberdade Criativa Em Mistérios E Paixões E Cidade De
JOSÉ CARLOS FELIX CAOS CONTROLADO: A TENSÃO ENTRE CONTROLE TÉCNICO E LIBERDADE CRIATIVA EM MISTÉRIOS E PAIXÕES E CIDADE DE DEUS CAMPINAS, 2013 i ii UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM JOSÉ CARLOS FELIX CAOS CONTROLADO: A TENSÃO ENTRE CONTROLE TÉCNICO E LIBERDADE CRIATIVA EM MISTÉRIOS E PAIXÕES E CIDADE DE DEUS Orientador: Prof. Dr. Fabio Akcelrud Durão Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de doutor em Teoria e História Literária, na área de: Teoria e Crítica Literária. CAMPINAS, 2013 iii FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA POR CRISLLENE QUEIROZ CUSTODIO – CRB8/8624 - BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM - UNICAMP Felix, José Carlos, 1974- F335c Caos controlado: a tensão entre controle técnico e liberdade criativa em Mistérios e paixões e Cidade de Deus / José Carlos Felix. -- Campinas, SP : [s.n.], 2013. Orientador : Fabio Akcelrud Durão. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. 1. Mistérios e paixões (Filme). 2. Cidade de Deus (Filme). 3. Cinema - Estética - Técnica. 4. Indústria cultural. 5. Liberdade na arte. I. Durão, Fábio Akcelrud, 1969-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. III. Título. Informações para Biblioteca Digital Título em inglês: Controlled chaos: the tension between technical control and artistic freedom in Naked Lunch and City of God. Palavras-chave em inglês: Naked lunch (Motion picture) Cidade de Deus (Motion picture) Moving-pictures - Aesthetics - Technique Cultural industry Liberty in art Área de concentração: Teoria e Crítica Literária. Titulação: Doutor em Teoria e História Literária. Banca examinadora: Fabio Akcelrud Durão [Orientador] Ravel Giordano Paz Washington Luis Lima Drummond Danielle dos Santos Corpas Robson Loureiro Data da defesa: 14-03-2013. -

Campus Iv – Jacobina-Ba Curso De Licenciatura Em Letras – Habilitação Em Língua Portuguesa E Literaturas
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS IV – JACOBINA-BA CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS – HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS GÉSSICA PIRES SANTANA A REPRESENTAÇÃO DO SERTANEJO E A IMAGEM DO SERTÃO NORDESTINO NO CINEMA NACIONAL JACOBINA/BA 2016 GÉSSICA PIRES SANTANA A REPRESENTAÇÃO DO SERTANEJO E A IMAGEM DO SERTÃO NORDESTINO NO CINEMA NACIONAL Trabalho monográfico apresentado a Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas - Campus IV, como requisito à conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. Orientador: Prof.º Dr.º Valter Gomes Santos de Oliveira JACOBINA/BA 2016 GÉSSICA PIRES SANTANA A REPRESENTAÇÃO DO SERTANEJO E A IMAGEM DO SERTÃO NORDESTINO NO CINEMA NACIONAL Trabalho monográfico apresentado a Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas- Campus IV, como requisito parcial à conclusão do Curso de licenciatura Plena em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. Aprovada por: BANCA EXAMINADORA __________________________________________________ Profº. Dr. Valter Gomes Santos de Oliveira - Orientador UNEB/Campus IV ___________________________________________________ Profª. Ma. Joelma Ferreira dos Santos UNEB/ Campus IV ___________________________________________________ Profº. Dr. José Carlos Felix UNEB/ Campus IV Jacobina, 07 de Junho de 2016 Em dedicação a minha família e amigos pelo apoio e incentivo... AGRADECIMENTOS Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui concluindo esse trabalho com força, saúde e determinação, a todos que me apoiaram nesse trabalho, amigos, familiares e professores. Agradecer ao professor Antenor Rita Gomes ao qual me mostrou esse universo das analises fílmicas do sertão. Ao professor Félix do colegiado de inglês e a professora Joelma do colegiado de história, que colaboraram com meu trabalho seja com um conselho ou com um livro. -

RETOMADA DO CINEMA BRASILEIRO – 1995 a 2005 Gustavo
RETOMADA DO CINEMA BRASILEIRO – 1995 A 2005 Gustavo Ferreira da Silva*1 Resumo: O objetivo do presente trabalho é produzir um passeio histórico durante uma década (1995- 2005) pelo cinema brasileiro, sobretudo a partir do chamado período da “retomada”, que sucedeu uma fase após o presidente Fernando Collor fechar a Empresa Brasileira de Filmes, em que o cinema nacional ficou com as produções quase inativas. A criação das Leis Rouanet e a do Audiovisual possibilitou investimentos que dão apoio aos filmes e a partir daí as atividades cinematográficas são retomadas. A expressão “retomada” começou a ser utilizada freqüentemente em 1995, após o sucesso do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brazil. O investimento da Globo Filmes e grandes distribuidoras internacionais possibilitaram mais divulgações no meio televisivo, gerando filmes com boa aceitação nas críticas e com bilheterias superando produções Hollywoodianas. A análise do panorama do cinema no Brasil nesta época foi feita a partir das obras de Pedro Butcher, Daniel Caetano e do Luiz Zanin Oricchio. Palavras-chave: Cinema brasileiro; Leis de incentivo; Retomada O IMPACTO DAS LEIS DE INCENTIVO Com a estagnação e crise criativa do cinema nacional, no final da década de 80, o filme brasileiro fora visto como morto e sem esperanças, após o fechamento da Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme). A Embrafilme, que surgiu em 1969, criada pelo regime militar, apoiava os longas-metragens nacionais à época do “cinema novo”, como os filmes de Glauber Rocha. Durante a década de 70 e meados dos anos 80, a Embrafilme faturou muito em suas produções, como o insuperável em bilheteria nacional: Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, levando mais de 11 milhões de espectadores ao cinema (BUTCHER, 2005, p. -

Listagem Dos Filmes Brasileiros Lançados Comercialmente Em Salas De Exibição 1995 a 2019 Ano De Lançamento Certificado De Pr
Listagem dos Filmes Brasileiros Lançados Comercialmente em Salas de Exibiçã o 1995 a 2019 Ano de Certificado de Produto Título Direção Gênero Empresa Produtora Brasileira Majoritária UF Empresa Produtora Minoritária Brasileira UF Distribuidora Máximo de Salas Público Renda (R$) Lançamento Brasileiro (CPB) 1995 B0400064200000 A Causa Secreta Sérgio Bianchi Ficção Agravo Produções Cinematográficas SP - - RioFilme ND 3.000 15.000,00 1995 B0500310700000 Carlota Joaquina, Princesa do Brazil Carla Camurati Ficção Copacabana Filmes e Produções RJ - - Elimar 33 1.286.000 6.430.000,00 1995 B0500264600000 Carmen Miranda - Bananas is my Business Helena Solberg Documentário Radiante Filmes RJ - - RioFilme ND 15.470 90.000,00 1995 - Cinema de Lágrimas Nelson Pereira dos Santos Ficção Meta Vídeo Produções RJ - - RioFilme ND 1.575 7.500,00 1995 B0300012900000 Efeito Ilha Luiz Alberto Pereira Ficção Lapfilme SP - - RioFilme ND 3.000 15.000,00 1995 B0500311400000 Louco por Cinema André Luiz Oliveira Ficção Asacine Produções DF - - RioFilme ND 12.991 60.000,00 1995 B0700675000000 Menino Maluquinho - O Filme Helvécio Ratton Ficção Grupo Novo de Cinema e TV RJ - - S. Ribeiro/RioFilme 31 397.023 1.532.509,00 1995 B1101392800000 O Mandarim Julio Bressane Ficção Julio Bressane RJ - - RioFilme ND 7.616 35.000,00 1995 B0500309200000 O Quatrilho Fábio Barreto Ficção Filmes do Equador RJ - - S. Ribeiro 64 1.117.154 4.513.302,00 1995 B0500434300000 Perfume de Gardênia Guilherme de Almeida Prado Ficção Star Filmes SP - - RioFilme ND 9.077 55.000,00 1995 - Super Colosso Luiz Ferré Ficção Play Vídeo Produções para Cinema e Televisão SP - - Paris 216 154.762 506.027,00 1995 B0500277600000 Sábado Ugo Giorgetti Ficção Iguana Filmes SP - - Mais Filmes ND 155.000 906.750,00 1995 B0500310300000 Terra Estrangeira Daniela Thomas/Walter Salles Ficção Videofilmes RJ - - RioFilme ND 112.840 500.000,00 1995 B0400073200000 Yndio do Brasil Sylvio Back Documentário Usina de Kyno RJ - - RioFilme ND 3.000 15.000,00 B0400061500000/ B0400085400000/ 1996 A Felicidade É.. -

Governadores Do NE Reafirmam Força De Consórcio
126 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa Ano CXXVI NúmeroA 170 UNIÃOJoão Pessoa, Paraíba - QUInTa-FEIRa, 22 de agosto de 2019 – R$ 1,50 - Assinatura anual R$ 200,00 País caminha para número recorde de privatizações Anúncio feito ontem coloca no pacote uma série de estatais, além de parques ecológicos e presídios federais. Página 4 Foto: Evandro Pereira Paraíba Foto: José Marques / Secom-PB Lombadas eletrônicas na Paraíba já voltaram a multar Ao todo, são 15 as lombadas espalhadas pelas estradas federais que cruzam o território paraibano, indo desde o Litoral até o Sertão. Página 7 Foto: Divulgação Esportes Governadores do NE reafirmam força de consórcio Encontro finalizado no Piauí termina com “Carta de Teresina” em que os gestores definiram as primeiras ações conjuntas e discutiram agenda internacional. Página 3 Foto: Ortilo Antônio Brasileiro de Handebol de Areia começa amanhã Etapa de abertura da competição nacional vai acontecer na Praia de Cabo Branco e irá reunir equipes de cinco estados diferentes. Página 22 Conferência Direitos das crianças e dos adolescentes são discutidos em evento em João Pessoa. Página 5 Foto: João Couto o Sandra Raquew Azevêdo 2 Caderno Xenofobia O desemprego Os processos de estigmatização pela linguagem, sob a ótica da a gamificação do mundo, a cultura das armas, comédia musical o nacionalismo e a marginalização cultural dos João Caldas imigrantes são pontos que necessitam entrar no Peça de Leonardo Cortez Foto: currículo das mídias e no cotidiano. Enquanto estreia hoje na capital com sátira sobre o atual momento escrevo há 121 náufragos, resgatados pela do Brasil. Página 9 Open Arms que seguem para Espanha depois de muitos apelos para pisar em solo. -

“Novíssimo” Cinema Brasileiro: Práticas, Representações E Circuitos De Independência
“Novíssimo” cinema brasileiro: práticas, representações e circuitos de independência Maria Carolina Vasconcelos Oliveira Série: Produção Acadêmica Premiada Maria Carolina Vasconcelos Oliveira “Novíssimo” cinema brasileiro: práticas, representações e circuitos de independência FFLCH/USP São Paulo 2016 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Reitor: Prof. Dr. Marco Antonio Zago Vice- Reitor: Prof. Dr. Vahan Agopyan FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS Diretor: Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu Vice-Diretor: Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO FFLCH USP Helena Rodrigues MTb/SP 28840 Diagramação: Julia Kao Igarashi Copyright © Maria Carolina Vasconcelos Oliveira Indicação de Sociologia 2014 Catalogação na Publicação (CIP) Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo Oliveira, Maria Carolina Vasconcelos. O48 “Novíssimo” cinema brasileiro [recurso eletrônico] : práticas, representações e circuitos de independência / Maria Carolina Vasconcelos Oliveira. -- São Paulo : FFLCH/USP, 2016. 6550 Kb ; PDF. -- (Produção Acadêmica Premiada) Originalmente apresentada como Tese (Doutorado) -- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2014. ISBN 978-85-7506-283-8 1. Cinema independente. 2. Produção cinematográfica (Século 21) (Brasil). I. Título. II. Série. CDD 791.43 Agradecimentos A realização desta pesquisa não teria sido possível sem o apoio institucional do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên- cias Humanas da Universidade de São Paulo, de seus professores e funcionários, e sem o apoio financeiro da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no início da pesquisa, e, em seguida, do CNPq (Conselho Nacional de De- senvolvimento Científico e Tecnológico).