Baixar Este Arquivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
![Traditional Uses of Medicinal Plants at Seropédica, Rio De Janeiro [Usos Tradicionales De Plantas Medicinales En Seropédica, Rio De Janeiro] Douglas S.A](https://docslib.b-cdn.net/cover/6206/traditional-uses-of-medicinal-plants-at-serop%C3%A9dica-rio-de-janeiro-usos-tradicionales-de-plantas-medicinales-en-serop%C3%A9dica-rio-de-janeiro-douglas-s-a-396206.webp)
Traditional Uses of Medicinal Plants at Seropédica, Rio De Janeiro [Usos Tradicionales De Plantas Medicinales En Seropédica, Rio De Janeiro] Douglas S.A
© 2017 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, 5 (1), 1-14, 2017 ISSN 0719-4250 http://jppres.com/jppres Original Article | Artículo Original Traditional uses of medicinal plants at Seropédica, Rio de Janeiro [Usos tradicionales de plantas medicinales en Seropédica, Rio de Janeiro] Douglas S.A. Chaves 1*, Rosiane C.S. Siqueira1, Lidiane M. Souza1, Mirza N.G. Sanches1, André M. dos Santos2, Cristiano J. Riger2 1Department of Pharmaceutical Science, Health and Biological Science Institute. Federal Rural University of Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, CEP: 23897-000, Brazil. 2Department of Chemistry. Federal Rural University of Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, CEP: 23897-000, Brazil. *E-mail: [email protected] Abstract Resumen Context: This work had as outcome to deal with the part of the Contexto: Este trabajo tuvo como salida estudiar la parte de la población population of Seropédica, Rio de Janeiro those who use the public health de Seropédica, Río de Janeiro que utiliza el sistema de salud pública y el system and use alternative medicinal plants for the treatment of illness. uso de plantas medicinales como alternativa para el tratamiento de Aims: To evaluate the potential medicinal uses of local plants traditionally enfermedades. used in curing/treatment different diseases and illnesses, and contribute Objetivos: Evaluar los posibles usos medicinales de las plantas locales as a therapeutic option in the public health system of municipality. utilizadas tradicionalmente en la cura-tratamiento de diferentes Methods: A semi-structured questionnaire was used to measure enfermedades y dolencias, y contribuir como una opción terapéutica en el independent variables and issues related to the consumption of medicinal sistema de salud pública del municipio. -

Full-Text (PDF)
Vol. 10(27), pp. 409-416, 17 July, 2016 DOI: 10.5897/JMPR2015.5979 Article Number: F679AE659546 ISSN 1996-0875 Journal of Medicinal Plants Research Copyright © 2016 Author(s) retain the copyright of this article http://www.academicjournals.org/JMPR Full Length Research Paper Phytochemical screening, total phenolic content and antioxidant activity of some plants from Brazilian flora João da Rocha Lins Neto1, Amanda Dias de Araújo Uchôa1,2, Priscila Andrade de Moura1, Clovis Macêdo Bezerra Filho1, Juciara Carneiro Gouveia Tenório1, Alexandre Gomes da Silva2, Rafael Matos Ximenes3, Márcia Vanusa da Silva1,2 and Maria Tereza dos Santos Correia1,2* 1Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil. 2 Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga, Instituto Nacional do Semiárido/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (INSA/MCTI), Campina Grande, Paraíba, Brazil. 3Departamento de Antibióticos, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil. Received 19 October 2015; Accepted 4 April, 2016 The present study evaluated the total phenolic and flavonoid content as well as the antioxidant activity of methanolic leaf extracts of five plants from Brazilian flora: Abarema cochliacarpos, Croton corchoropsis, Myroxylon peruiferum, Stryphnodendron pulcherrimum and Tanaecium cyrtanthum by 2,2’-azino-bis- (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) (ABTS), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and total antioxidant capacity assays. A thin layer chromatography analysis of all plant extracts has also been performed and it showed the presence of different types of secondary metabolites, namely saponins, phenylpropanoids and flavonoids. Among the studied plants, A. cochliacarpos and S. pulcherrimum showed considerable antioxidant radical scavenging activity on all the tested assays and they also exhibited substantial amounts of phenolic compounds. -

WO 2012/000070 Al 5 De Janeiro De 2012 (05.01.2012) PCT
(12) PEDIDO INTERNACIONAL PUBLICADO SOB O TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT) (19) Organização Mundial da Propriedade Intelectual Secretaria Internacional (10) Número de Publicação Internacional (43) Data de Publicação Internacional WO 2012/000070 Al 5 de Janeiro de 2012 (05.01.2012) PCT (51) Classificação Internacional de Patentes : Zenaldo Porfírio [BR/BR]; Rua Américo Vasco, s/n A61K 36/48 (2006.01) A61K 129/00 (2006.01) Riacho Doce, Maceió- AL (BR). A61P 31/20 (2006.0 1) A61K 135/00 (2006.0 1) (81) Estados Designados (sem indicação contrária, para A61P 15/00 (2006.01) todos os tipos de proteção nacional existentes) : AE, AG, (21) Número do Pedido Internacional : AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, PCT/BR20 11/000205 BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, (22) Data do Depósito Internacional : GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, 28 de Junho de 201 1 (28.06.201 1) KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, (25) Língua de Depósito Internacional : Português MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, (26) Língua de Publicação : Português SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, (30) Dados Relativos à Prioridade : TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, 0001 68 1 de Julho de 2010 (01 .07.2010) BR ZW. -
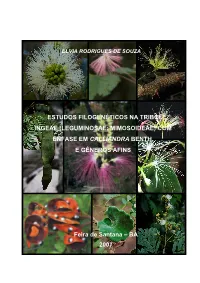
Leguminosae: Mimosoideae) Com Ênfase Em Calliandra Benth
ELVIA RODRIGUES DE SOUZA ESTUDOS FILOGENÉTICOS NA TRIBO INGEAE (LEGUMINOSAE: MIMOSOIDEAE) COM ÊNFASE EM CALLIANDRA BENTH. E GÊNEROS AFINS Feira de Santana – BA 2007 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA ESTUDOS FILOGENÉTICOS NA TRIBO INGEAE (LEGUMINOSAE: MIMOSOIDEAE) COM ÊNFASE EM CALLIANDRA BENTH. E GÊNEROS AFINS ÉLVIA RODRIGUES DE SOUZA Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana como parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutora em Botânica. ORIENTADOR: PROF. DR. LUCIANO PAGANUCCI DE QUEIROZ CO- ORIENTADOR: PROF. DR. CÁSSIO VAN DEN BERG FEIRA DE SANTANA – BA 2007 Ficha catalográfica: Biblioteca Central Julieta Carteado Souza, Élvia Rodrigues de S714e Estudos filogenéticos na tribo Ingeae (Leguminosae: Mimosoideae) com ênfase em Calliandra Benth. e gêneros afins / Élvia Rodrigues de Souza. – Feira de Santana, 2007. 110 f. : il. Orientador: Luciano Paganucci de Queiroz Co-orientador: Cássio van den Berg Tese (Doutorado em Botânica)– Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, 2007. 1. Leguminosae. 2. Mimosoideae. 3. Calliandra. I. Queiroz, Luciano Paganucci. II. Berg, Cássio van den. III. Universidade Estadual de Feira de Santana. IV. Departamento de Ciências Biológicas. V. Título. CDU: 582.736/.737 “Existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer. -

Medicinal Plants in the Treatment of Colitis: Evidence from Preclinical Studies
Reviews Medicinal Plants in the Treatment of Colitis: Evidence from Preclinical Studies Authors ABSTRACT Marília T. Santana, Luana M. Cercato, Janaíne P. Oliveira, Ulcerative colitis is a chronic inflammatory condition whose Enilton A. Camargo treatment includes aminosalicylates, corticosteroids, and im- munomodulators. Medicinal plants seem to be an important Affiliation alternative treatment for this condition. They have been the Department of Physiology, Federal University of Sergipe, subject of a great number of studies in recent years. This São Cristóvão, SE, Brazil study was conducted to systematically review the medicinal plants tested in experimental models of ulcerative colitis. We Key words conducted a systematic literature search through specialized ulcerative colitis, medicinal plant, phytotherapy, flavonoid, databases (PUBMED, SCOPUS, EMBASE, MEDLINE, LILACS, terpene SCIELO, and SCISEARCH) and selected articles published be- tween January 2000 and June 21, 2016 by using “medicinal received November 11, 2016 plants” and “ulcerative colitis” as key words. Sixty-eight stud- revised January 17, 2017 ies were included, and the families Asteraceae and Lamiaceae accepted February 20, 2017 presented the largest number of studies, but plants from sev- Bibliography eral other families were cited; many of them have shown DOI http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-104933 good results in experimental animals. However, only a few Published online March 14, 2017 | Planta Med 2017; 83: 588– species (such as Andrographis paniculata and Punica granatum) 614 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York | have undergone clinical tests against ulcerative colitis, and ISSN 0032‑0943 the observation that many preclinical studies reviewed are purely descriptive has certainly contributed to this fact. -

Abarema Cochliocarpos LC Taxonomic Authority: (Gomes) Barneby & J.W.Grimes Global Assessment Regional Assessment Region: Global Endemic to Region
Abarema cochliocarpos LC Taxonomic Authority: (Gomes) Barneby & J.W.Grimes Global Assessment Regional Assessment Region: Global Endemic to region Upper Level Taxonomy Kingdom: PLANTAE Phylum: TRACHEOPHYTA Class: MAGNOLIOPSIDA Order: FABALES Family: LEGUMINOSAE Lower Level Taxonomy Rank: Infra- rank name: Plant Hybrid Subpopulation: Authority: There is an inland and a coastal form for this species. The coastal form is a tree 10 metres or more in height, and the inland form is up to 4 metres tall with smaller, more coriaceous leaflets (Lewis, 1987). The species differs from Abarema filamentosa in (inter alia) dense capitula of sessile or subsessile flowers and dull blackish, densly papillate pod-valves (Barneby & Grimes 1996). General Information Distribution A. cochliocarpos is found in Brazil (Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraiba, Alagoas, Sao Paulo). Range Size Elevation Biogeographic Realm Area of Occupancy: Upper limit: 1300 Afrotropical Extent of Occurrence: Lower limit: 200 Antarctic Map Status: Depth Australasian Upper limit: Neotropical Lower limit: Oceanian Depth Zones Palearctic Shallow photic Bathyl Hadal Indomalayan Photic Abyssal Nearctic Population No population information available. Total Population Size Minimum Population Size: Maximum Population Size: Habitat and Ecology A. cochliocarpos occurs in coastal woodland, on sandy substrates, and inland on scrubby areas or open grassy slopes and savanna habitats (disturbed mata de cipo, caatinga, cerrado, campo rupestre), and in areas -

(1648) in Contemporary T Brazilian Markets
Journal of Ethnopharmacology 259 (2020) 112911 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Ethnopharmacology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jethpharm Marcgrave and Piso's plants for sale: The presence of plant species and names from the Historia Naturalis Brasiliae (1648) in contemporary T Brazilian markets ∗ Mireia Alcántara Rodrígueza, , Isabela Pombo Geertsmab, Mariana Françozoa,c, Tinde van Andeld,e a Faculty of Archaeology, Leiden University. Einsteinweg 2, 2333, CC, Leiden, the Netherlands b Faculty of Science, University of Amsterdam. Science Park 904, 1098, XH Amsterdam, the Netherlands c Associate Professor in Museum Studies, PI ERC BRASILIAE Project, Faculty of Archaeology, Leiden University, the Netherlands d Clusius Chair in History of Botany and Gardens, Institute for Biology, Leiden University, Sylviusweg 72, 2333, BE, Leiden, the Netherlands e Naturalis Biodiversity Center, PO Box 9517, 2300, RA, Leiden, the Netherlands ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Ethnopharmacological relevance: Parallelisms between current and historical medicinal practices as described in Historical ethnobotany the seventeenth century treatise Historia Naturalis Brasiliae (HNB) provide us with an overview of traditional Market surveys plant knowledge transformations. Local markets reflect the actual plant use in urban and rural surroundings, Indigenous knowledge allowing us to trace cross-century similarities of ethnobotanical knowledge. Aims of the study: We aim to verify Vernacular plant names in how far the HNB, created in seventeenth-century northeastern Brazil, correlates with contemporary plant use Dutch Brazil in the country by comparing the plant knowledge therein with recent plant market surveys at national level. Tupi Materials and methods: We conducted a literature review on ethnobotanical market surveys in Brazil. -

Vanessa Kaplum Fração Enriquecida Em
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Departamento de Farmácia Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas VANESSA KAPLUM FRAÇÃO ENRIQUECIDA EM PROANTOCIANIDINAS DE Stryphnodendron adstringens (Mart.) COVILLE: ATIVIDADE EM LINHAGENS CELULARES DE CÂNCER CERVICAL, TUMOR SÓLIDO DE EHRLICH E ENSAIO CLÍNICO FASE I Maringá – PR 2018 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Fração Enriquecida em Proantocianidinas de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville: Atividade em Linhagens Celulares de Câncer Cervical, Tumor Sólido de Ehrlich e Ensaio Clínico Fase I VANESSA KAPLUM Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Área de Concentração: Produtos Naturais e Sintéticos Biologicamente Ativos), da Universidade Estadual de Maringá, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Doutor em Ciências Farmacêuticas. Orientador: Prof. Dr. Celso Vataru Nakamura. Maringá – PR 2018 ii iii Este trabalho foi realizado no Laboratório de Inovação Tecnológica no Desenvolvimento de Fármacos e Cosméticos, bloco B08 e no Laboratório de Biologia Farmacêutica, bloco K80. iv Parte deste trabalho foi publicado em: KAPLUM, V et al. Proanthocyanidin Polymer-Rich Fraction of Stryphnodendron adstringens Promotes in Vitro and in Vivo Cancer Cell Death via Oxidative Stress. Frontiers in Pharmacology, v. 9, n. 694, p. 1-18, 2018. v Dedico este trabalho aos meus pais, Evaldo e Inês, ao meu esposo, Juliano Henrique e ao meu irmão José Augusto que são meu alicerce e minha fonte de inspiração na busca por novos desafios. vi AGRADECIMENTOS Agradeço a Deus por todos os momentos que me fez forte para superar as dificuldades e, pela fé concedida para acreditar que até o impossível aos meus olhos poderia acontecer; Aos meus pais, Evaldo e Inês, que sempre foram meu alicerce e minha fonte de inspiração. -

Antinociceptive Effects of Abarema Cochliacarpos (BA Gomes) Barneby
Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy 19(1A): 46-50, Jan./Mar. 2009 Received 18 October 2008; Accepted 15 February 2009 Antinociceptive effects of Abarema cochliacarpos (B.A. Gomes) Barneby & J.W.Grimes (Mimosaceae) Nina C. B. Silva,*,1,2 Maria A. Esquibel,1 Iura M. Alves,3 Eudes S. Velozo,3 Mara Z. Artigo Almeida,4 Jaci E. S. Santos,5 Fátima de Campos-Buzzi,6 Aleandra V. Meira,6 Valdir Cechinel-Filho6 1Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ilha do Fundão, 21900-000 Rio de Janeiro-RJ, Brazil, 2,*Departamento de Produção Vegetal, Universidade Federal do Espírito Santo, Alto Universitário s/n, Cx. Postal 16, 29500-000, Alegre-ES, Brazil, 3Laboratório de Pesquisas em Matéria Médica, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Farmácia, 40170- 240 Salvador-BA, Brazil, 4Programa Farmácia da Terra, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal da Bahia, Av Barão de Jeremoabo s/n, sala 231, 40170-240 Salvador-BA, Brazil, 5Associação Comunitária da Barra II, 44859-000 Morro do Chapéu-BA, Brazil, 6Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas, Universidade do Vale do Itajaí, Rua Uruguai 458, Cx.Postal 360, 88302-202 Itajaí-SC, Brazil RESUMO: “Efeito antinociceptivo de Abarema cochliacarpos (B.A. Gomes) Barneby & J.W.Grimes (Mimosaceae)”. No presente trabalho foram avaliados a atividade antinociceptiva e o perfil fitoquímico dos extratos aquosos e metanólico produzidos com a casca do caule de Abarema cochliacarpos, uma espécie de Mata Atlântica com diversas indicações populares. Todos os extratos apresentaram atividade analgésica quando avaliados pelo teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético via intraperitonial, apresentando respostas superiores às drogas usadas como referência, bem como no modelo da dor induzida por capsaicina. -

Ação Antibacteriana E Antiaderente De Pithecellobium Cochliocarpum
Artigo original / Original Artice Ação antibacteriana e antiaderente de pithecellobium Cochliocarpum (gomez) macbr sobre microrganismos orais Antimicrobial and antiadherent activity of pithecellobium cochliocarpum (gomez) macbr tested on oral microorganisms O presente artigo corresponde à parte da tese de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela UFPE. Renata Patrícia Freitas Soares de Jesus1, Maria Regina Macedo Costa2, Isla Vanessa Bastos3, Geraldo Bosco Lindoso Couto4 , Maria do Socorro Vieira Pereira5, Ivone Antônia de Souza6 1Doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela UFPE 2Mestranda em Odontologia Social pela UFPB 3Mestranda em Ciências Farmacêuticas pela UFPE 4Professor Adjunto do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE 5Professora Adjunta do Departamento de Biologia Molecular da UFPB 6Professora Adjunta do Departamento de Antibióticos da UFPE DESCRITORES: RESUMO Pithecellobium cochliocarpum; Atividade O biofi lme dental é o fator de maior importância na etiologia da cárie e das doenças periodontais . Diversos antimicrobiana; Atividade antiaderente. produtos de origem v egetal mostraram ser pot encialmente interessantes no que se r efere a sua atividade antimicrobiana. O objetivo do estudo foi o de avaliar a atividade antibacteriana e antiaderente do Pithecello- bium cochliocarpum (Gomez) Macbr. (babatenon) frente Streptococcus mutans, S. sanguinis, S. salivarius, S. mitis, S. oralis e Lactobacillus casei. Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), os ensaios foram realizados em triplicata, em meio sólido, através da técnica de Ágar-Difusão em placas de Petri. Em rela- ção à determinação da Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) da bactéria ao vidro na presença de sacarose a 5%, utilizou-se a técnica dos tubos inclinados. Em estudo comparativo, foi determinada a CIM e a CIMA do digluconato de clorexidina a 0,12%. -

(Gomes) Barneby & Grimes E Dalbergia Ecastophyllum
Universidade Federal de Alagoas Instituto de Química e Biotecnologia Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia Ricardo Manoel dos Santos Silva Isolamento e identificação de fungos endofíticos de Abarema cochliocarpos (Gomes) Barneby & Grimes e Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub., suas relações antagônicas e atividade antioxidante de seus extratos. Maceió 2011 Ricardo Manoel dos Santos Silva Isolamento e identificação de fungos endofíticos de Abarema cochliocarpos (Gomes) Barneby & Grimes e Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub., suas relações antagônicas e atividade antioxidante de seus extratos. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas, para a obtenção do Título de Doutor em Biotecnologia. Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Caetano Maceió 2011 AGRADECIMENTOS Agradeço a Deus pelo imenso milagre que é estar vivo e pela nítida noção que, inevitavelmente, cada dia é um novo começo. A vida é feita a cada dia, um de cada vez. Agradeço a Fapeal e a Capes por disponibilizarem a minha bolsa de doutorado. Agradeço ao professor Doutor Luiz Carlos Caetano por todo o tempo, paciência e conhecimentos investidos neste empreendimento que foi me orientar nestes anos. Sem você tudo seria diferente. Agradeço ao professor Doutor Luiz Antônio ferreira da Silva e todos do Laboratório de DNA Forense e Diagnóstico Molecular da Universidade Federal de Alagoas pelo trabalho de colaboração na análise molecular dos fungos. Agradeço a todos os professores do Instituto de Química e Biotecnologia por auxiliarem na minha formação acadêmica. Agradeço a minha família por me educar de forma excepcional sempre mostrando valores sólidos, limites e respeito ao próximo em um mundo como o de hoje. -

BIOENSAIOS DE Abarema Cochliocarpa (GOMES) BARNEBY & GRIMES (LEGUMINOSAE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS BIOENSAIOS DE Abarema cochliocarpa (GOMES) BARNEBY & GRIMES (LEGUMINOSAE) RENATA PATRÍCIA FREITAS SOARES DE JESUS RECIFE 2010 2 RENATA PATRÍCIA FREITAS SOARES DE JESUS BIOENSAIOS DE Abarema cochliocarpa (GOMES) BARNEBY & GRIMES (LEGUMINOSAE) Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, da Universidade Federal de Pernambuco, como um dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco. Área de Concentração: Avaliação e Obtenção de Produtos Bioativos e Naturais. Orientadora: Profª Drª. Ivone Antônia de Souza. Co-orientador: Prof. Dr. Fábio Correia Sampaio Prof. Dr. Geraldo Bosco Lindoso Couto. RECIFE 2010 3 4 Jesus, Renata Patrícia Freitas Soares de Bioensaios de Abarema cochliocarpa (Gomes) Barneby & Grimes (Leguminosae) / Renata Patrícia Freitas Soares de Jesus. – Recife : O Autor, 2010. 239 folhas; il., fig., tab., gráf. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCS. Ciências Farmacêuticas, 2010. Inclui bibliografia, apêndices e anexos. 1. Antimicrobianos. 2. Abarema cochliocarpa. 3. Inflamação. 4. Antinociceptivo. 5. Carcinogênese. I. Título. 615 CDU (2.ed.) UFPE 615.1 CDD (20.ed.) CCS2010-148 5 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DOUTORADO EM OBTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS E BIOATIVOS AMARO HENRIQUE PESSOA LINS REITOR GILSON EDMAR GONÇALVES E SILVA VICE-REITOR ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO PRÓ-REITOR PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO JOSÉ THADEU PINHEIRO DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE MÁRCIO ANTÔNIO DE A.