2007 Ciências Básicas Moleculares
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 6,395,889 B1 Robison (45) Date of Patent: May 28, 2002
USOO6395889B1 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 6,395,889 B1 Robison (45) Date of Patent: May 28, 2002 (54) NUCLEIC ACID MOLECULES ENCODING WO WO-98/56804 A1 * 12/1998 ........... CO7H/21/02 HUMAN PROTEASE HOMOLOGS WO WO-99/0785.0 A1 * 2/1999 ... C12N/15/12 WO WO-99/37660 A1 * 7/1999 ........... CO7H/21/04 (75) Inventor: fish E. Robison, Wilmington, MA OTHER PUBLICATIONS Vazquez, F., et al., 1999, “METH-1, a human ortholog of (73) Assignee: Millennium Pharmaceuticals, Inc., ADAMTS-1, and METH-2 are members of a new family of Cambridge, MA (US) proteins with angio-inhibitory activity', The Journal of c: - 0 Biological Chemistry, vol. 274, No. 33, pp. 23349–23357.* (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this Descriptors of Protease Classes in Prosite and Pfam Data patent is extended or adjusted under 35 bases. U.S.C. 154(b) by 0 days. * cited by examiner (21) Appl. No.: 09/392, 184 Primary Examiner Ponnathapu Achutamurthy (22) Filed: Sep. 9, 1999 ASSistant Examiner William W. Moore (51) Int. Cl." C12N 15/57; C12N 15/12; (74) Attorney, Agent, or Firm-Alston & Bird LLP C12N 9/64; C12N 15/79 (57) ABSTRACT (52) U.S. Cl. .................... 536/23.2; 536/23.5; 435/69.1; 435/252.3; 435/320.1 The invention relates to polynucleotides encoding newly (58) Field of Search ............................... 536,232,235. identified protease homologs. The invention also relates to 435/6, 226, 69.1, 252.3 the proteases. The invention further relates to methods using s s s/ - - -us the protease polypeptides and polynucleotides as a target for (56) References Cited diagnosis and treatment in protease-mediated disorders. -
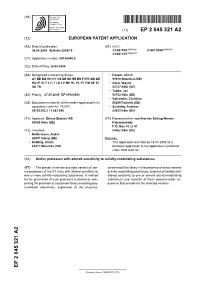
Serine Proteases with Altered Sensitivity to Activity-Modulating
(19) & (11) EP 2 045 321 A2 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: (51) Int Cl.: 08.04.2009 Bulletin 2009/15 C12N 9/00 (2006.01) C12N 15/00 (2006.01) C12Q 1/37 (2006.01) (21) Application number: 09150549.5 (22) Date of filing: 26.05.2006 (84) Designated Contracting States: • Haupts, Ulrich AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 51519 Odenthal (DE) HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI • Coco, Wayne SK TR 50737 Köln (DE) •Tebbe, Jan (30) Priority: 27.05.2005 EP 05104543 50733 Köln (DE) • Votsmeier, Christian (62) Document number(s) of the earlier application(s) in 50259 Pulheim (DE) accordance with Art. 76 EPC: • Scheidig, Andreas 06763303.2 / 1 883 696 50823 Köln (DE) (71) Applicant: Direvo Biotech AG (74) Representative: von Kreisler Selting Werner 50829 Köln (DE) Patentanwälte P.O. Box 10 22 41 (72) Inventors: 50462 Köln (DE) • Koltermann, André 82057 Icking (DE) Remarks: • Kettling, Ulrich This application was filed on 14-01-2009 as a 81477 München (DE) divisional application to the application mentioned under INID code 62. (54) Serine proteases with altered sensitivity to activity-modulating substances (57) The present invention provides variants of ser- screening of the library in the presence of one or several ine proteases of the S1 class with altered sensitivity to activity-modulating substances, selection of variants with one or more activity-modulating substances. A method altered sensitivity to one or several activity-modulating for the generation of such proteases is disclosed, com- substances and isolation of those polynucleotide se- prising the provision of a protease library encoding poly- quences that encode for the selected variants. -

Next Generation Sequencing Identifies Five Major Classes of Potentially Therapeutic Enzymes Secreted by Lucilia Sericata Medical Maggots
Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2016, Article ID 8285428, 27 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/8285428 Research Article Next Generation Sequencing Identifies Five Major Classes of Potentially Therapeutic Enzymes Secreted by Lucilia sericata Medical Maggots Zdenjk Franta,1 Heiko Vogel,2 Rüdiger Lehmann,1 Oliver Rupp,3 Alexander Goesmann,3 and Andreas Vilcinskas1,4 1 Department of Bioresources, Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, Winchesterstraße 2, 35394 Giessen, Germany 2Department of Entomology, Max Planck Institute for Chemical Ecology, Hans-Knoll-Straße¨ 8, 07745 Jena, Germany 3Justus-Liebig-University of Giessen, Bioinformatics and System Biology, Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Giessen, Germany 4Justus-Liebig-University of Giessen, Institute for Insect Biotechnology, Heinrich-Buff-Ring 26-32, 35392 Giessen, Germany Correspondence should be addressed to Andreas Vilcinskas; [email protected] Received 29 January 2016; Accepted 7 March 2016 Academic Editor: Yudong Cai Copyright © 2016 Zdenekˇ Franta et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Lucilia sericata larvae are used as an alternative treatment for recalcitrant and chronic wounds. Their excretions/secretions contain molecules that facilitate tissue debridement, disinfect, or accelerate wound healing and have therefore -
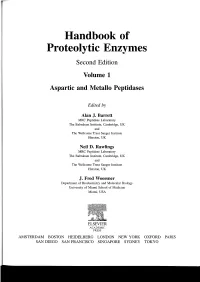
Handbook of Proteolytic Enzymes Second Edition Volume 1 Aspartic and Metallo Peptidases
Handbook of Proteolytic Enzymes Second Edition Volume 1 Aspartic and Metallo Peptidases Alan J. Barrett Neil D. Rawlings J. Fred Woessner Editor biographies xxi Contributors xxiii Preface xxxi Introduction ' Abbreviations xxxvii ASPARTIC PEPTIDASES Introduction 1 Aspartic peptidases and their clans 3 2 Catalytic pathway of aspartic peptidases 12 Clan AA Family Al 3 Pepsin A 19 4 Pepsin B 28 5 Chymosin 29 6 Cathepsin E 33 7 Gastricsin 38 8 Cathepsin D 43 9 Napsin A 52 10 Renin 54 11 Mouse submandibular renin 62 12 Memapsin 1 64 13 Memapsin 2 66 14 Plasmepsins 70 15 Plasmepsin II 73 16 Tick heme-binding aspartic proteinase 76 17 Phytepsin 77 18 Nepenthesin 85 19 Saccharopepsin 87 20 Neurosporapepsin 90 21 Acrocylindropepsin 9 1 22 Aspergillopepsin I 92 23 Penicillopepsin 99 24 Endothiapepsin 104 25 Rhizopuspepsin 108 26 Mucorpepsin 11 1 27 Polyporopepsin 113 28 Candidapepsin 115 29 Candiparapsin 120 30 Canditropsin 123 31 Syncephapepsin 125 32 Barrierpepsin 126 33 Yapsin 1 128 34 Yapsin 2 132 35 Yapsin A 133 36 Pregnancy-associated glycoproteins 135 37 Pepsin F 137 38 Rhodotorulapepsin 139 39 Cladosporopepsin 140 40 Pycnoporopepsin 141 Family A2 and others 41 Human immunodeficiency virus 1 retropepsin 144 42 Human immunodeficiency virus 2 retropepsin 154 43 Simian immunodeficiency virus retropepsin 158 44 Equine infectious anemia virus retropepsin 160 45 Rous sarcoma virus retropepsin and avian myeloblastosis virus retropepsin 163 46 Human T-cell leukemia virus type I (HTLV-I) retropepsin 166 47 Bovine leukemia virus retropepsin 169 48 -

Geobacillus Lituanicus DSM 15325T Kolagenolizinės Peptidazės U32.002 Geno Transkripcijos Analizė Bei Klonavimas
VILNIAUS UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS MIKROBIOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS KATEDRA Mikrobiologijos studijų programos magistrantas Andrius JASILIONIS Magistrinis darbas Geobacillus lituanicus DSM 15325T kolagenolizinės peptidazės U32.002 geno transkripcijos analizė bei klonavimas Darbo vadovė: dr. Nomeda KUISIENĖ Vilnius 2011 Geobacillus lituanicus DSM 15325T kolagenolizinės peptidazės U32.002 geno transkripcijos analizė bei klonavimas Darbas atliktas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedroje Andrius JASILIONIS Darbo vadovė: Nomeda KUISIENĖ 2 TURINYS SANTRUMPŲ SĄRAŠAS // 4 ĮVADAS // 5 1. LITERATŪROS APŢVALGA 1.1 Kolagenai - kolagenolizės substratai // 6 1.2 Kolagenolizinės peptidazės // 10 1.2.1 Eukariotų kolagenoliziniai fermentai // 13 1.2.2 Prokariotų kolagenoliziniai fermentai // 15 1.2.2.1 U32 kolagenolizinių peptidazių šeima // 18 1.3 Kolagenolizė: bendrasis modelis // 23 1.4 Praktinė kolagenolizės svarba // 24 2. METODAI 2.1 Tirti kamienai // 26 2.2. Medţiagos 2.2.1 Medţiagos terpių ir buferių gamybai // 26 2.2.2 Komerciniai rinkiniai // 26 2.2.3 Medţiagos PGR ir nukleorūgščių vizualizavimui // 26 2.2.4 Kitos medţiagos // 27 2.3. Terpės 2.3.1 Terpės biomasės prieaugiui, palaikymui ir kultūros grynumo patikrinimui // 27 2.3.2 Skysta terpė kamieno kultivavimui vykdant transkripcijos analizę // 27 2.4 Metodai 2.4.1 Kultūros grynumo patikrinimas // 28 2.4.2 Suminės RNR preparatų iš G. lituanicus DSM 15325T išskyrimas // 28 2.4.3 kDNR sintezė // 29 2.4.4 U32.002 kolagenolizinės -

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2004/0081648A1 Afeyan Et Al
US 2004.008 1648A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2004/0081648A1 Afeyan et al. (43) Pub. Date: Apr. 29, 2004 (54) ADZYMES AND USES THEREOF Publication Classification (76) Inventors: Noubar B. Afeyan, Lexington, MA (51) Int. Cl." ............................. A61K 38/48; C12N 9/64 (US); Frank D. Lee, Chestnut Hill, MA (52) U.S. Cl. ......................................... 424/94.63; 435/226 (US); Gordon G. Wong, Brookline, MA (US); Ruchira Das Gupta, Auburndale, MA (US); Brian Baynes, (57) ABSTRACT Somerville, MA (US) Disclosed is a family of novel protein constructs, useful as Correspondence Address: drugs and for other purposes, termed “adzymes, comprising ROPES & GRAY LLP an address moiety and a catalytic domain. In Some types of disclosed adzymes, the address binds with a binding site on ONE INTERNATIONAL PLACE or in functional proximity to a targeted biomolecule, e.g., an BOSTON, MA 02110-2624 (US) extracellular targeted biomolecule, and is disposed adjacent (21) Appl. No.: 10/650,592 the catalytic domain So that its affinity Serves to confer a new Specificity to the catalytic domain by increasing the effective (22) Filed: Aug. 27, 2003 local concentration of the target in the vicinity of the catalytic domain. The present invention also provides phar Related U.S. Application Data maceutical compositions comprising these adzymes, meth ods of making adzymes, DNA's encoding adzymes or parts (60) Provisional application No. 60/406,517, filed on Aug. thereof, and methods of using adzymes, Such as for treating 27, 2002. Provisional application No. 60/423,754, human Subjects Suffering from a disease, Such as a disease filed on Nov. -

Alterations in Gene Expression of Renin-Angiotensin System Components and Related Proteins in Colorectal Cancer
Hindawi Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System Volume 2021, Article ID 9987115, 17 pages https://doi.org/10.1155/2021/9987115 Research Article Alterations in Gene Expression of Renin-Angiotensin System Components and Related Proteins in Colorectal Cancer Danial Mehranfard ,1 Gabriela Perez,2 Andres Rodriguez,3 Julia M. Ladna,4 Christopher T. Neagra,5 Benjamin Goldstein,6 Timothy Carroll,7 Alice Tran,8 Malav Trivedi,1 and Robert C. Speth 1 1College of Pharmacy, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL, USA 2Department of Internal Medicine, Palmetto General Hospital, Hialeah, FL, USA 3Department of Internal Medicine, University of Miami/Jackson Memorial Hospital, Miami, FL, USA 4Broward Health Medical Center, Fort Lauderdale, FL, USA 5Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA 6University of Florida, Gainesville, FL, USA 7College of Psychology, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL, USA 8Halmos College of Arts and Sciences, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL, USA Correspondence should be addressed to Robert C. Speth; [email protected] Received 2 February 2021; Revised 13 May 2021; Accepted 7 June 2021; Published 6 July 2021 Academic Editor: Peter Sever Copyright © 2021 Danial Mehranfard et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Hypothesis/Introduction. Recent studies suggest involvement of the renin-angiotensin system (RAS) in cancers, including colorectal cancer (CRC). This study focuses on the association of genes encoding 17 proteins related to the RAS within a Japanese male CRC population. Materials and Methods. Quantitative expression of the RNA of these 17 genes in normal and cancerous tissues obtained using chip arrays from the public functional genomics data repository, Gene Expression Omnibus (GEO) application, was compared statistically. -

Assembly of Bacteriophage 80Α Capsids in a Staphylococcus Aureus
Virology 434 (2012) 242–250 Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Virology journal homepage: www.elsevier.com/locate/yviro Assembly of bacteriophage 80a capsids in a Staphylococcus aureus expression system Michael S. Spilman a,1,2, Priyadarshan K. Damle b,1, Altaira D. Dearborn a,1, Cynthia M. Rodenburg a, Jenny R. Chang a,3, Erin A. Wall b, Gail E. Christie b, Terje Dokland a,n a Department of Microbiology, University of Alabama at Birmingham, 845, 19th St South, BBRB 311, Birmingham, AL 35294, USA b Department of Microbiology and Immunology, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA 23298, USA article info abstract Available online 12 September 2012 80a is a temperate, double-stranded DNA bacteriophage of Staphylococcus aureus that can act as a Keywords: ‘‘helper’’ for the mobilization of S. aureus pathogenicity islands (SaPIs), including SaPI1. When SaPI1 is Molecular piracy mobilized by 80a, the SaPI genomes are packaged into capsids that are composed of phage proteins, but Virus assembly that are smaller than those normally formed by the phage. This size determination is dependent on Size determination SaPI1 proteins CpmA and CpmB. Here, we show that co-expression of the 80a capsid and scaffolding Procapsid proteins in S. aureus, but not in E. coli, leads to the formation of procapsid-related structures, suggesting Electron microscopy that a host co-factor is required for assembly. The capsid and scaffolding proteins also undergo normal Scaffolding protein N-terminal processing upon expression in S. aureus, implicating a host protease. We also find that SaPI1 Ribosomal protein L27 proteins CpmA and CpmB promote the formation of small capsids upon co-expression with 80a capsid Co-expression and scaffolding proteins in S. -

Peptide Sequence
Peptide Sequence Annotation AADHDG CAS-L1 AAEAISDA M10.005-stromelysin 1 (MMP-3) AAEHDG CAS-L2 AAEYGAEA A01.009-cathepsin D AAGAMFLE M10.007-stromelysin 3 (MMP-11) AAQNASMW A06.001-nodavirus endopeptidase AASGFASP M04.003-vibriolysin ADAHDG CAS-L3 ADAPKGGG M02.006-angiotensin-converting enzyme 2 ADATDG CAS-L5 ADAVMDNP A01.009-cathepsin D ADDPDG CAS-21 ADEPDG CAS-L11 ADETDG CAS-22 ADEVDG CAS-23 ADGKKPSS S01.233-plasmin AEALERMF A01.009-cathepsin D AEEQGVTD C03.007-rhinovirus picornain 3C AETFYVDG A02.001-HIV-1 retropepsin AETWYIDG A02.007-feline immunodeficiency virus retropepsin AFAHDG CAS-L24 AFATDG CAS-25 AFDHDG CAS-L26 AFDTDG CAS-27 AFEHDG CAS-28 AFETDG CAS-29 AFGHDG CAS-30 AFGTDG CAS-31 AFQHDG CAS-32 AFQTDG CAS-33 AFSHDG CAS-L34 AFSTDG CAS-35 AFTHDG CAS-L36 AGERGFFY Insulin B-chain AGLQRGGG M14.004-carboxypeptidase N AGSHLVEA Insulin B-chain AIDIDG CAS-L37 AIDPDG CAS-38 AIDTDG CAS-39 AIDVDG CAS-L40 AIEHDG CAS-L41 AIEIDG CAS-L42 AIENDG CAS-43 AIEPDG CAS-44 AIEQDG CAS-45 AIESDG CAS-46 AIETDG CAS-47 AIEVDG CAS-48 AIFQGPID C03.007-rhinovirus picornain 3C AIGHDG CAS-49 AIGNDG CAS-L50 AIGPDG CAS-L51 AIGQDG CAS-52 AIGSDG CAS-53 AIGTDG CAS-54 AIPMSIPP M10.051-serralysin AISHDG CAS-L55 AISNDG CAS-L56 AISPDG CAS-57 AISQDG CAS-58 AISSDG CAS-59 AISTDG CAS-L60 AKQRAKRD S08.071-furin AKRQGLPV C03.007-rhinovirus picornain 3C AKRRAKRD S08.071-furin AKRRTKRD S08.071-furin ALAALAKK M11.001-gametolysin ALDIDG CAS-L61 ALDPDG CAS-62 ALDTDG CAS-63 ALDVDG CAS-L64 ALEIDG CAS-L65 ALEPDG CAS-L66 ALETDG CAS-67 ALEVDG CAS-68 ALFQGPLQ C03.001-poliovirus-type picornain -

Structural and Functional Studies of Synaptic Enzymes
University of Kentucky UKnowledge University of Kentucky Doctoral Dissertations Graduate School 2006 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STUDIES OF SYNAPTIC ENZYMES Eun Jeong Lim University of Kentucky, [email protected] Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Lim, Eun Jeong, "STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STUDIES OF SYNAPTIC ENZYMES" (2006). University of Kentucky Doctoral Dissertations. 259. https://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/259 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in University of Kentucky Doctoral Dissertations by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. ABSTRACT OF DISSERTATION Eun Jeong Lim Department of Molecular and Cellular Biochemistry College of Medicine University of Kentucky 2006 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STUDIES OF SYNAPTIC ENZYMES ABSTRACT OF DISSERTATION A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Molecular and Cellular Biochemistry and College of Medicine at the University of Kentucky By Eun Jeong Lim Lexington, Kentucky Director: Dr. David W. Rodgers Associate Professor of Molecular and Cellular Biochemistry Lexington, Kentucky 2006 Copyright © Eun Jeong Lim, 2006 ABSTRACT OF DISSERTATION STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STUDIES OF SYNAPTIC ENZYMES Thimet oligopeptidase (TOP, EC 3.4.24.15) and neurolysin (EC 3.4.24.16) are zinc dependent metallopeptidases that metabolize small bioactive peptides. The two enzymes share 60 % sequence identity and their crystal structures demonstrate that they adopt nearly identical folds. They generally cleave at the same sites, but they recognize different positions on some peptides, including neurotensin, a 13-residue peptide involved in modulation of dopaminergic circuits, pain perception, and thermoregulation. -

Parasite Prolyl Oligopeptidases and the Challenge of Designing Che- Motherapeuticals for Chagas Disease, Leishmaniasis and African Try- Panosomiasis
Send Orders for Reprints to [email protected] Current Medicinal Chemistry, 2013, 20, 3103-3115 3103 Parasite Prolyl Oligopeptidases and the Challenge of Designing Che- motherapeuticals for Chagas Disease, Leishmaniasis and African Try- panosomiasis 1 1,2 ,3 ,1 I.M.D. Bastos , F.N. Motta , P. Grellier* and J.M. Santana* 1Pathogen-Host Interface Laboratory, Department of Cell Biology, The University of Brasília, Brasília, Brazil; 2Faculty of Ceilândia, The University of Brasília, Brasília, Brazil; 3UMR 7245 CNRS, National Museum Natural History, Paris, France Abstract: The trypanosomatids Trypanosoma cruzi, Leishmania spp. and Trypanosoma brucei spp. cause Chagas disease, leishmaniasis and human African trypanosomiasis, respectively. It is estimated that over 10 million people worldwide suf- fer from these neglected diseases, posing enormous social and economic problems in endemic areas. There are no vac- cines to prevent these infections and chemotherapies are not adequate. This picture indicates that new chemotherapeutic agents must be developed to treat these illnesses. For this purpose, understanding the biology of the pathogenic trypano- somatid-host cell interface is fundamental for molecular and functional characterization of virulence factors that may be used as targets for the development of inhibitors to be used for effective chemotherapy. In this context, it is well known that proteases have crucial functions for both metabolism and infectivity of pathogens and are thus potential drug targets. In this regard, prolyl oligopeptidase and oligopeptidase B, both members of the S9 serine protease family, have been shown to play important roles in the interactions of pathogenic protozoa with their mammalian hosts and may thus be con- sidered targets for drug design. -

Identification of a Metallopeptidase with TOP-Like Activity in Paracoccidioides Brasiliensis, with Increased Expression in A
Medical Mycology January 2012, 50, 81–90 Identifi cation of a metallopeptidase with TOP-like activity in Paracoccidioides brasiliensis, with increased expression in a virulent strain ELLEN T. GRAVI * , THAYSA PASCHOALIN * , BIANCA R. DIAS * , DAYSON F. MOREIRA ‡ , JOS É E. BELIZARIO ‡ , VITOR OLIVEIRA † , ADRIANA K. CARMONA † , MARIA A. JULIANO † , LUIZ R. TRAVASSOS * & ELAINE G. RODRIGUES * * Unidade de Oncologia Experimental (UNONEX), Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, and Downloaded from https://academic.oup.com/mmy/article/50/1/81/989549 by guest on 30 September 2021 † Departamento de Biof í sica, Universidade Federal de S ã o Paulo-Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), Brazil, and ‡ Departamento de Farmacologia, Universidade de S ã o Paulo (USP), Brazil Paracoccidioidomycosis (PCM), caused by the pathogenic fungus Paracoccidioides brasiliensis , is a systemic mycosis with severe acute and chronic forms. The pathology of PCM is not completely understood, and the role of proteases in the infection is not clearly defi ned. In this report, we describe a metallopeptidase activity in P. brasiliensis total and cytosolic protein extracts similar to that of mammalian thimet oligopeptidase (TOP). The analogous enzyme was suggested by analysis of P. brasiliensis genome data- bank and by hydrolytic activity of the FRET peptide Abz-GFSPFRQ-EDDnp which was completely inhibited by o -phenanthrolin and signifi cantly inhibited by the TOP inhibitor, JA-2. This activity was also partially inhibited by IgG purifi ed from patients with PCM, but not from normal individuals. As shown by high-performance liquid chromatography (HPLC), the hydrolysis of bradykinin had the same pattern as that of mammalian TOP, and anti-mammalian TOP antibodies signifi cantly inhibited fungal cytosolic peptidase activity.