Vinicius Renner Lampert Análise De Atributos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landscape and Habitat Characteristics Associated with Fish Occurrence and Richness in Southern Brazil Palustrine Wetland Systems
Environ Biol Fish DOI 10.1007/s10641-013-0152-4 Landscape and habitat characteristics associated with fish occurrence and richness in southern Brazil palustrine wetland systems Leonardo Maltchik & Luis Esteban Krause Lanés & Friedrich Wolfgang Keppeler & Ana Silvia Rolon & Cristina Stenert Received: 18 July 2012 /Accepted: 12 June 2013 # Springer Science+Business Media Dordrecht 2013 Abstract We investigated the influence of environ- The predictors of fish richness were not similarly appli- mental factors in fish communities of 146 palustrine cable to different ecoregions. Our results showed that wetlands, covering a wide range of altitude and wetland the habitat diversity, macroinvertebrate richness, altitude surface area in Neotropical region. Two questions were and hydroperiod were the environmental predictors that analyzed: (1) Are wetland altitude, area, habitat diversi- potentially structure and maintain the fish occurrence ty, hydroperiod (permanent and intermittent), ecoregion, and richness in southern Brazil palustrine wetlands. and macroinvertebrate richness good predictors of oc- Such information is essential to develop wetland con- currence, richness, abundance and composition of fish servation and management programs in this region, species? and (2) Are the predictors of fish richness where more than 90 % of wetland systems have already similarly applicable to different ecoregions in Southern been lost and the remaining ones are still at high risk due Brazil? Our data showed that fish richness was to the anthropogenic activities. related to habitat diversity and macroinvertebrate richness, and fish occurrence was influenced by Keywords South American fishes . Ecoregions . wetland area and macroinvertebrate richness. Fish Ichthyofauna . Biodiversity conservation abundance was influenced by altitude, hydroperiod and macroinvertebrate richness, and the fish composition was jointly associated with ecoregion, and hydroperiod. -

Long Term Evolutionary Responses to Whole Genome Duplication
Unicentre CH-1015 Lausanne http://serval.unil.ch Year : 2016 Long term evolutionary responses to whole genome duplication Sacha Laurent Sacha Laurent, 2016, Long term evolutionary responses to whole genome duplication Originally published at : Thesis, University of Lausanne Posted at the University of Lausanne Open Archive http://serval.unil.ch Document URN : urn:nbn:ch:serval-BIB_8E5536BAC6042 Droits d’auteur L'Université de Lausanne attire expressément l'attention des utilisateurs sur le fait que tous les documents publiés dans l'Archive SERVAL sont protégés par le droit d'auteur, conformément à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). A ce titre, il est indispensable d'obtenir le consentement préalable de l'auteur et/ou de l’éditeur avant toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre ne relevant pas d'une utilisation à des fins personnelles au sens de la LDA (art. 19, al. 1 lettre a). A défaut, tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par cette loi. Nous déclinons toute responsabilité en la matière. Copyright The University of Lausanne expressly draws the attention of users to the fact that all documents published in the SERVAL Archive are protected by copyright in accordance with federal law on copyright and similar rights (LDA). Accordingly it is indispensable to obtain prior consent from the author and/or publisher before any use of a work or part of a work for purposes other than personal use within the meaning of LDA (art. 19, para. 1 letter a). Failure to do so will expose offenders to the sanctions laid down by this law. -
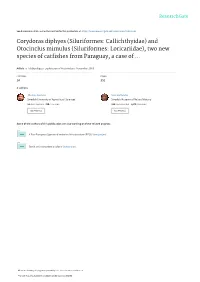
Corydoras Diphyes (Siluriformes: Callichthyidae) and Otocinclus Mimulus (Siluriformes: Loricariidae), Two New Species of Catfishes from Paraguay, a Case of …
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/228490534 Corydoras diphyes (Siluriformes: Callichthyidae) and Otocinclus mimulus (Siluriformes: Loricariidae), two new species of catfishes from Paraguay, a case of … Article in Ichthyological Exploration of Freshwaters · November 2003 CITATIONS READS 24 351 2 authors: Thomas Axenrot Sven Kullander Swedish University of Agricultural Sciences Swedish Museum of Natural History 16 PUBLICATIONS 259 CITATIONS 195 PUBLICATIONS 1,679 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI) View project Stock and ecosystem analysis View project All content following this page was uploaded by Sven Kullander on 22 October 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. 249 Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 14, No. 3, pp. 249-272, 7 figs., 11 tabs., October 2003 © 2003 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany – ISSN 0936-9902 Corydoras diphyes (Siluriformes: Callichthyidae) and Otocinclus mimulus (Siluriformes: Loricariidae), two new species of catfishes from Paraguay, a case of mimetic association Thomas E. Axenrot* and Sven O. Kullander** Corydoras diphyes and O. mimulus, new species, are found in association in tributaries to the Río Monday, a right bank tributary of the Río Paraná, and are conspicuously similar to each other in color pattern. Otocinclus mimulus has been confused with O. flexilis up till now. Otocinclus mimulus mimics O. diphyes. The mimesis is unusual because the two species occupy different microhabitats and it is hypothesized to operate with a primarily visual predator moving between the microhabitats, tentatively identified as the cichlid Crenicichla lepidota. -

Gabinete Do Ministro Instrução Normativa
Diário Oficial da União – Seção I, Nº3, quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, páginas 26 a 42 – ISSN 1677-7042 GABINETE DO MINISTRO INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL N°1, DE 3 DE JANEIRO DE 2012 Estabelece normas, critérios e padrões para a explotação de peixes nativos ou exóticos de águas continentais com finalidade ornamental ou de aquariofilia. O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA e a MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nas Leis n°s 10.683, de 28 de maio de 2003, e 11.959, de 29 de junho de 2009, bem como o constante do Processo IBAMA/Sede nº 02001.002681/04- 06, resolvem: Art.1º - Estabelecer normas, critérios e padrões para a explotação de peixes nativos ou exóticos de águas continentais com finalidade ornamental ou de aquariofilia. Parágrafo único. Esta Instrução Normativa Interministerial não se aplica às seguintes situações: I - exposição em restaurantes, para fins de consumo alimentar de peixes vivos; e II - exposição de peixes vivos em zoológicos, mostras ou similares com finalidade didática, educacional ou científica. CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 2º - Para efeito desta Instrução Normativa Interministerial, considera-se: I - Ornamentação: utilizar organismos vivos ou não, para fins decorativos, ilustrativos ou de lazer; e II - Aquariofilia: manter ou comercializar, para fins de lazer ou de entretenimento, indivíduos vivos em aquários, tanques, lagos ou reservatórios de qualquer tipo. CAPÍTULO II DA CAPTURA E EXPLOTAÇÃO Art. 3º - Fica permitida a captura, o transporte e a comercialização de exemplares vivos de peixes nativos das espécies listadas no Anexo I desta Instrução Normativa Interministerial. -

Corydorasworld
Volume 15, Issue 1. February 2014 The Journal of The CaTfish sTudy Group Furthering the study of catfish PlanetXingu Update Focus on Scleromystax Yorkshire Aquarist Club Tour CSG Autumn Auction An Introduction to Hypancistrus What’s New? The Latest CW Numbers Hot Cory’s Seeing the Light Volume 15, Issue 1. February 2014 Catfish Study Group Committee President – Ian Fuller Secretary – Ian Fuller [email protected] [email protected] [email protected] Editor – Mark Walters Vice-President – Dr. Peter Burgess [email protected] Chairman – Bob Barnes BAP Secretary – Brian Walsh [email protected] [email protected] Treasurer – Danny Blundell Show Secretary – Brian Walsh [email protected] [email protected] Membership Secretary – Mike O’Sullivan Assistant Show Secretary – Ann Blundell [email protected] Website Manager – Allan James Auction Manager – David Barton [email protected] [email protected] Floor Member – Bill Hurst Assistant Auction Manager – Roy Barton [email protected] Scientific Advisor – Dr. Michael Hardman Diary Dates - 2014 Date Meeting Venue February 16th Spring Auction Derwent Hall March 14th/15th/16th Annual Convention Kilhey Court Hotel April 27th Discussion on filtration Darwen Valley Community Centre May 18th Discussion on Catfish breeding Darwen Valley Community Centre June 8th Summer lectures and Sales Meet Derwent Hall July and August -

Felipe Skóra Neto
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ FELIPE SKÓRA NETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDROLÓGICA E INVASÕES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE NA REGIÃO NEOTROPICAL: IMPLICAÇÕES PARA HOMOGENEIZAÇÃO BIÓTICA E HIPÓTESE DE NATURALIZAÇÃO DE DARWIN CURITIBA 2013 FELIPE SKÓRA NETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDROLÓGICA E INVASÕES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE NA REGIÃO NEOTROPICAL: IMPLICAÇÕES PARA HOMOGENEIZAÇÃO BIÓTICA E HIPÓTESE DE NATURALIZAÇÃO DE DARWIN Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Ecologia e Conservação, no Curso de Pós- Graduação em Ecologia e Conservação, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. Orientador: Jean Ricardo Simões Vitule Co-orientador: Vinícius Abilhoa CURITIBA 2013 Dedico este trabalho a todas as pessoas que foram meu suporte, meu refúgio e minha fortaleza ao longo dos períodos da minha vida. Aos meus pais Eugênio e Nilte, por sempre acreditarem no meu sonho de ser cientista e me darem total apoio para seguir uma carreira que poucas pessoas desejam trilhar. Além de todo o suporte intelectual e espiritual e financeiro para chegar até aqui, caminhando pelas próprias pernas. Aos meus avós: Cândida e Felippe, pela doçura e horas de paciência que me acolherem em seus braços durante a minha infância, pelas horas que dispenderem ao ficarem lendo livros comigo e por sempre serem meu refúgio. Você foi cedo demais, queria que estivesse aqui para ver esta conquista e principalmente ver o meu maior prêmio, que é minha filha. Saudades. A minha esposa Carine, que tem em comum a mesma profissão o que permitiu que entendesse as longas horas sentadas a frente de livros e do computador, a sua confiança e carinho nas minhas horas de cansaço, você é meu suporte e meu refúgio. -

Resumenes JCYT 2019
ISSN 2618-3846 RESUMENES Año 22 -Nº 22- Noviembre de 2019 12, 13 y 14 de Noviembre de 2019 Microcine- Biblioteca Central Campus Universitario Universidad Nacional de Formosa FORMOSA - REPUBLICA ARGENTINA 1 2 XXII JORNADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12, 13 y 14 de Noviembre de 2019 Microcine- Biblioteca Central Campus Universitario Universidad Nacional de Formosa FORMOSA - REPUBLICA ARGENTINA 3 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA AUTORIDADES Rector: Esp.Augusto César Parmetler Vice-Rector: Ing. Ftal Vicente Sánchez Decano Facultad de Humanidades: Lic. José Luis Guillén Vice-Decana Facultad de Humanidades: Lic. Nélida Miranda Decano Facultad de Recursos Naturales: Ing. Ftal Gustavo Rhiner Vice-Decana Facultad de Recursos Naturales: Ing. Ftal Ilda Villalba Decana Facultad de Ciencias de la Salud: Lic. Elisa Acosta Vice-Decana Facultad de Ciencias de la Salud: Lic. Valeria Dellamea Decana Subrogante Facultad de Administración, Economía y Negocios: Lic. Marta Botteron Decano Organizador Facultad de la Producción y Medio Ambiente: Ing. Ramón Aguilera Secretaria General de Ciencia y Tecnología: Mgter. Alicia Calabroni Secretaria General Académica: Dra. Mónica Daldovo Secretaria Gral de Gerencia y Desarrollo: CPN. Norma Ramírez Secretario Gral de As. Est. y Ext. Universitaria: Psgo. Rafael Olmedo Secretario de Gestión Institucional y Administrativa: Ing. Oscar Drelichman 5 6 ISSN 2618-3846 Resúmenes XXII Jornadas de Ciencia y Tecnología Año 22 - N° 22 - Noviembre de 2019 Secretaría General de Ciencia y Tecnología- UNaF EDITORA RESPONSABLE: Mgter. Alicia Calabroni COORDINACION: Alejandro Vallejo DISEÑO: Raúl Orlando Durán Universidad Nacional de Formosa - Secretaría General de Ciencia y Tecnología Biblioteca Central (Altos) - Campus Universitario Av. Gutnisky 3200 - (C.P. 3600) Formosa República Argentina Tel. -
Caracterização Dos Actinopterygii Em Uma Área De Banhados Marginais Lagunares E Sua Similaridade Com a Ictiofauna De Ambientes Límnicos Do Quaternário Rio-Grandense
Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Ciências Biológicas Pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais Caracterização dos Actinopterygii em uma área de banhados marginais lagunares e sua similaridade com a ictiofauna de ambientes límnicos do Quaternário Rio-Grandense Cindy Marques Assumpção Orientador: Daniel Loebmann Rio Grande 2016 Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Ciências Biológicas Pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais Caracterização dos Actinopterygii em uma área de banhados marginais lagunares e sua similaridade com a ictiofauna de ambientes límnicos do Quaternário Rio-Grandense Aluno: Cindy Marques Assumpção Orientador: Daniel Loebmann Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Rio Grande 2016 2 “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”. (Madre Teresa de Calcutá) 3 AGRADECIMENTOS Inicio agradecendo a Deus, que me deu a vida e me permitiu chegar até aqui, muitas vezes desanimada, mas nunca sem fé que tudo daria certo. Agradeço aos meus pais, que sempre acreditaram no meu potencial, me incentivaram e estiveram no meu lado em todos os momentos. Aos meus amigos que estão comigo desde o começo dessa jornada biológica, sempre ajudando, nem que fosse com uma boa conversa para descontrair e esquecer um pouco da pressão: Paula, Christopher, Eduarda, Gabriel, Amapola... Ao meu orientador, Prof. Dr. Daniel Loebmann, muito obrigado por toda ajuda, por ser essa pessoa tranquila e acessível, sempre disposta a ajudar quando precisei. -
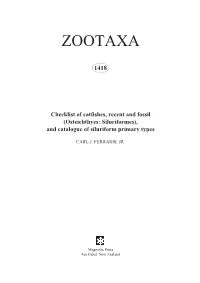
Zootaxa, Checklist of Catfishes, Recent and Fossil
ZOOTAXA 1418 Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types CARL J. FERRARIS, JR. Magnolia Press Auckland, New Zealand CARL J. FERRARIS, JR. Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types (Zootaxa 1418) 628 pp.; 30 cm. 8 March 2007 ISBN 978-1-86977-058-7 (hardback) ISBN 978-1-86977-059-4 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2007 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2007 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. ISSN 1175-5326 (Print edition) ISSN 1175-5334 (Online edition) 2 · Zootaxa 1418 © 2007 Magnolia Press FERRARIS Zootaxa 1418: 1–628 (2007) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2007 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types CARL J. FERRARIS, JR. 2944 NE Couch Street, Portland, Oregon, 97232, U.S.A. E-mail: [email protected] Research Associate, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington Research Associate, American Museum of Natural History, New York Research Associate and Honorary Fellow, California Academy of Sciences, San Francisco Table of contents Abstract .................................................................................................................................................................................................... -

Fflogenia Ci,J Subfamília Corydoradinae
Marcelo Ribeiro de Britto Fflogenia ci,Jsubfamília Corydoradinae (Silrrrifo�mes : Callichthyidae) <". Tese apresentada à Coordenação de Pós-Graduação em Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obt�nção do _grau de Mestre em Ciências Biológicas - Zoologia Rio de Janeiro 1997 .,, \ ZOOLOGIA/FCC 199 ii Marcelo Ribeiro de Britto Filogenla_ da su_bfamília Corydoradinae • i (Siluriformes : Callichthyidae) Banca Examinadora: 1 ' (Presidente da Banca) \ / Rio de Janeiro, de de 1997 iii Trabalho realizado no Laboratório de !etiologia Geral e Aplicada da Universidade Federal do Riode Janeiro, Instituto de Biologia, Departamento de Zoologia. Orientador: Dr. Wilson José Eduardo Moreira da Costa Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de !etiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia. IV FICHA CATALOGRÁFICA BRITTO, Marcelo Ribeiro Filogenia da subfamília Corydoradinae. Rio de Janeiro. UFRJ, Museu Nacional, 1997. xii, 129 p. Tese: Mestre em Ciências Biológicas (Zoologia) 1. Aspidoras 2. Brochis 3. Callichthyidae 4. Corydoradinae 5. Corydoras 6. Filogenia 7. Sistemática I. Universidade Federal do Rio de Janeiro - Museu Nacional II. Teses V 0 VI AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, Dr. Wilson José Eduardo Moreira da Costa, pelas sugestões, críticas, esclarecimentos, credibilidade e orientação ao longo deste trabalho. Ao Dr. Ricardo Campos-da-Paz, pelos debates críticos e sugestões. A Cristiano Moreira, pelas fotografias. À equipe do Laboratório de !etiologia Geral e Aplicada da UFRJ, Felipe Autran, Flávio Bockmann, Roberto Cunha, Carlos Augusto Figueiredo, Ricardo Guimarães, Maria Isabel Landim, Cristiano Moreira, Fábio Pupo, Alessandra Sarraf e AnaYs Segadas-Vianna, pelas críticas, dúvidas e auxílio em coleta e preparação de exemplares para diafanização. -
Peces De Uruguay
PECES DEL URUGUAY LISTA SISTEMÁTICA Y NOMBRES COMUNES Segunda Edición corregida y ampliada © Hebert Nion, Carlos Ríos & Pablo Meneses, 2016 DINARA - Constituyente 1497 11200 - Montevideo - Uruguay ISBN (Vers. Imp.) 978-9974-594-36-4 ISBN (Vers. Elect.) 978-9974-594-37-1 Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio siempre que se cite la fuente. Acceso libre a texto completo en el repertorio OceanDocs: http://www.oceandocs.org/handle/1834/2791 Nion et al, Peces del Uruguay: Lista sistemática y nombres comunes/ Hebert, Carlos Ríos y Pablo Meneses.-Montevideo: Dinara, 2016. 172p. Segunda edición corregida y ampliada /Peces//Mariscos//Río de la Plata//CEIUAPA//Uruguay/ AGRIS M40 CDD639 Catalogación de la fuente: Lic. Aída Sogaray - Centro de Documentación y Biblioteca de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos ISBN (Vers. Imp.) 978-9974-594-36-4 ISBN (Vers. Elect.) 978-9974-594-37-1 Peces del Uruguay. Segunda Edición corregida y ampliada. Hebert, Carlos Ríos y Pablo Meneses. DINARA, Constituyente 1497 2016. Montevideo - Uruguay Peces del Uruguay Lista sistemática y nombres comunes Segunda Edición corregida y ampliada Hebert Nion, Carlos Ríos & Pablo Meneses MONTEVIDEO - URUGUAY 2016 Contenido Contenido i Introducción iii Mapa de Uruguay, aguas jurisdiccionales y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya ix Agradecimientos xi Lista sistemática 19 Anexo I - Índice alfabético de especies 57 Anexo II - Índice alfabético de géneros 76 Anexo III - Índice alfabético de familias 87 Anexo IV - Número de especies -

I CARLOS EDUARDO BROCHADO MACHADO ESTUDO DA
CARLOS EDUARDO BROCHADO MACHADO ESTUDO DA COMUNIDADE DE PEIXES DO ARROIO TAQUAREMBÓ, FASE PRÉ-BARRAMENTO, REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO URUGUAI, SUL DO BRASIL Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Biologia Animal. Área de Concentração: Biodiversidade Orientadora: Drª. Clarice Bernhardt Fialho UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 2008 i ESTUDO DA COMUNIDADE DE PEIXES DO ARROIO TAQUAREMBÓ, FASE PRÉ-BARRAMENTO, REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO URUGUAI, SUL DO BRASIL CARLOS EDUARDO BROCHADO MACHADO Dissertação aprovada em ________________ ____________________________________ Dr. Marco Aurélio Azevedo ____________________________________ Prof. Dr. Fernando G. Becker ____________________________________ Prof. Dr. Luiz Roberto Malabarba ____________________________________ Profª. Drª. Clarice Bernhardt Fialho Orientadora ii SUMÁRIO Agradecimentos..................................................................................................iv Lista de figuras...................................................................................................vi Lista de tabelas...................................................................................................xi Resumo.............................................................................................................xii Introdução...........................................................................................................1