Luttwak Revista Piaui
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS ANNUAL REPORT July 1,1996-June 30,1997 Main Office Washington Office The Harold Pratt House 1779 Massachusetts Avenue, N.W. 58 East 68th Street, New York, NY 10021 Washington, DC 20036 Tel. (212) 434-9400; Fax (212) 861-1789 Tel. (202) 518-3400; Fax (202) 986-2984 Website www. foreignrela tions. org e-mail publicaffairs@email. cfr. org OFFICERS AND DIRECTORS, 1997-98 Officers Directors Charlayne Hunter-Gault Peter G. Peterson Term Expiring 1998 Frank Savage* Chairman of the Board Peggy Dulany Laura D'Andrea Tyson Maurice R. Greenberg Robert F Erburu Leslie H. Gelb Vice Chairman Karen Elliott House ex officio Leslie H. Gelb Joshua Lederberg President Vincent A. Mai Honorary Officers Michael P Peters Garrick Utley and Directors Emeriti Senior Vice President Term Expiring 1999 Douglas Dillon and Chief Operating Officer Carla A. Hills Caryl R Haskins Alton Frye Robert D. Hormats Grayson Kirk Senior Vice President William J. McDonough Charles McC. Mathias, Jr. Paula J. Dobriansky Theodore C. Sorensen James A. Perkins Vice President, Washington Program George Soros David Rockefeller Gary C. Hufbauer Paul A. Volcker Honorary Chairman Vice President, Director of Studies Robert A. Scalapino Term Expiring 2000 David Kellogg Cyrus R. Vance Jessica R Einhorn Vice President, Communications Glenn E. Watts and Corporate Affairs Louis V Gerstner, Jr. Abraham F. Lowenthal Hanna Holborn Gray Vice President and Maurice R. Greenberg Deputy National Director George J. Mitchell Janice L. Murray Warren B. Rudman Vice President and Treasurer Term Expiring 2001 Karen M. Sughrue Lee Cullum Vice President, Programs Mario L. Baeza and Media Projects Thomas R. -

Neoconservatism's Deadly Influence
HISTORYHISTORY— PAST AND PERSPECTIVE U.S.S.R. founder and former commander of the Soviet Army AP Images Leon Trotsky, a Bolshevik revolutionary and Marxist intellectual Neoconservatism’s Deadly Influence A look at the roots of neoconservatism and the reasons why this deadly movement must be rejected in favor of the true conservatism as envisioned by our Founders. by John F. McManus respects from the conservatism of the didly presented the movement’s attitude Republican party. We … accepted the in a 1989 article appearing in Kristol’s A neoconservative is a liberal who New Deal in principle, and had little journal, The National Interest. Boldly has been mugged by reality. affection for the kind of isolation- calling for the integration of the United — Irving Kristol ism that then permeated American States, Europe, and Japan, he yearned for a conservatism. “super-sovereign” state that would be “ec- he above definition has joyfully and onomically, culturally, and politically he- repeatedly been cited by many de- There you have it: neoconservatism’s most gemonic in the world.” Not satisfied with T fenders of neoconservatism. They prominent adherent wants it to be linked such a novel creation, he further urged a consider their branch of political thought to Franklin Delano Roosevelt’s New Deal “new universalism [which] would require a benign movement even though its clout socialism and, because of its rejection of the conscious depreciation not only of has been recognized as dominant over the “isolationism,” to be further identified as American sovereignty but of the notion Bush administration. Kristol likely hopes a champion of meddling in the affairs of of sovereignty in general.” And he added: that everyone who learns of his quip will other nations. -

Introduction
OUP UNCORRECTED AUTOPAGE PROOF – FIRSTPROOFS, Sat Sep 19 2020, NEWGEN C& Introduction Christopher McKnight Nichols and Andrew Preston C&.P' What is grand strategy? What does it aim to achieve? Does it have relevance— and, if so, applicability—beyond questions of war and peace? And what di!erentiates it from normal strategic thought— what, in other words, makes it “grand”? C&.P( In recent years, historians and other scholars have o!ered useful de"nitions, most of which coalesce around the notion that grand strategy is an ampli"cation of the “normal” strategic practice of deploying various means to attain speci"c ends.1 “#e crux of grand strategy,” writes Paul Kennedy, co- founder of the in$uential Grand Strategy program at Yale University, “lies . in policy, that is, in the capacity of the nation’s leaders to bring together all the elements, both military and nonmilitary, for the preservation and enhancement of the nation’s long-term (that is, in war- time and peacetime) best interests.”2 John Lewis Gaddis, the program’s co- founder with Kennedy, de"nes grand strategy succinctly as “the align- ment of potentially unlimited aspirations with necessarily limited capabil- ities.”3 Hal Brands, an alumnus of Yale’s program and a contributor to this volume, observes that grand strategy is best understood as an “intellectual architecture that lends structure to foreign policy; it is the logic that helps states navigate a complex and dangerous world.”4 Peter Feaver, who followed Yale’s model when establishing a grand strategy program at Duke University, is somewhat more speci"c: “Grand strategy refers to the collection of plans and policies that comprise the state’s deliberate e!ort to harness political, military, diplomatic, and economic tools together to advance that state’s na- tional interest.”5 International Relations theorist Stephen Walt is even more precise: “A state’s grand strategy is its plan for making itself secure. -
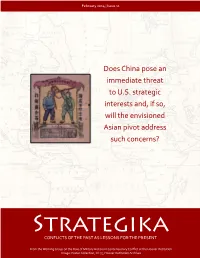
Does China Pose an Immediate Threat to U.S. Strategic Interests And, If So, Will the Envisioned Asian Pivot Address Such Concerns?
February 2014 | Issue 11 1 Does China pose an immediate threat to U.S. strategic interests and, if so, will the envisioned Asian pivot address such concerns? Strategika CONFLICTS OF THE PAST AS LESSONS FOR THE PRESENT Issue From 11 the Working Group on the Role of Military History in Contemporary Conflict at the HooverFebruary Institution 2014 Image: Poster Collection, CC 75, Hoover Institution Archives Military History in Contemporary Conflict As the very name of Hoover Institution attests, military history lies at the very core of our dedi- cation to the study of “War, Revolution, and Peace.” Indeed, the precise mission statement of the Hoover Institution includes the following promise: “The overall mission of this Institution is, from its records, to recall the voice of experience against the making of war, and by the study of these records and their publication, to recall man’s endeavors to make and preserve peace, and to sustain for America the safeguards of the American way of life.” From its origins as a library and archive, the Hoover Institution has evolved into one of the foremost research centers in the world for policy formation and pragmatic analysis. It is with this tradition in mind, that the “Working Group on the Role of Military History in Contemporary Conflict” has set its agenda— reaffirming the Hoover Institution’s dedication to historical research in light of contemporary challenges, and in particular, reinvigorating the national study of military history as an asset to foster and enhance our national security. By bringing together a diverse group of distinguished military historians, security analysts, and military veterans and practitioners, the working group seeks to examine the conflicts of the past as critical lessons for the present. -
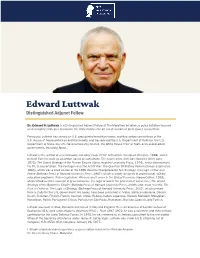
Edward Luttwak Distinguished Adjunct Fellow
Edward Luttwak Distinguished Adjunct Fellow Dr. Edward N. Luttwak is a Distinguished Adjunct Fellow at The Marathon Initiative, a policy initiative focused on developing strategies to prepare the United States for an era of sustained great power competition. Previously, Luttwak has served on U.S. presidential transition teams, testified before committees of the U.S. House of Representatives and the Senate, and has advised the U.S. Department of Defense, the U.S. Department of State, the U.S. National Security Council, the White House Chief of Staff, and several allied governments, including Japan. Luttwak is the author of several books, including Coup d’état: A Practical Handbook (Penguin, 1968), which derived from his work as a London-based oil consultant; The Israeli Army, with Dan Horowitz (Allen Lane, 1975); The Grand Strategy of the Roman Empire (Johns Hopkins University Press, 1976), which derived from his Ph. D. dissertation; The Pentagon and The Art Of War: The Question Of Military Reform (Simon & Schuster, 1985), which was a cited source of the 1986 Defense Reorganization Act; Strategy: The Logic of War and Peace (Belknap Press of Harvard University Press, 1987), which is widely assigned in professional military education programs; Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy (HarperCollins, 1999), which introduced the concept of geo-economics, the logic of war in the grammar of commerce; The Grand Strategy of the Byzantine Empire (Belknap Press of Harvard University Press, 2009); and, most recently, The Rise of China vs. The Logic of Strategy (Belknap Press of Harvard University Press, 2012), which derived from a study for the U.S. -

Asymmetry and US Military Strategy
ASYMMETRY AND U.S. MILITARY STRATEGY: DEFINITION, BACKGROUND, AND STRATEGIC CONCEPTS Steven Metz and Douglas V. Johnson II January 2001 ***** The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited. ***** The authors would like to thank Major General Robert Ivany, Melissa Applegate, William Speer, Stewart Smith, Douglas Dearth, Rusty Miller, Gary Williams, Walter Anderson, Max Manwaring, Antulio Echevarria, Eric Kramer, Harry Frank, William Delaney, Robert Steele, Conrad Crane, John Martin, Douglas Lovelace, and Earl Tilford for insightful comments on the briefings that preceded this study or on earlier drafts of the manuscript. Any errors or misinterpretations which remain do so despite their best efforts. ***** Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave., Carlisle, PA 17013-5244. Comments also may be conveyed directly to the authors. Dr. Metz at can be contacted at (717) 245-3822, fax (717) 245-3820, or email at Steven.Metz@ carlisle.army.mil. Dr. Johnson can be contacted at (717) 245-4057, fax (717) 245-3820, or email at [email protected]. Copies of this report may be obtained from the Publications and Production Office by calling commercial (717) 245-4133, FAX (717) 245-3820, or via the Internet at [email protected] ***** Most 1993, 1994, and all later Strategic Studies Institute (SSI) monographs are available on the SSI Homepage for electronic dissemination. -

The Return of Geo-Economics: Globalisation and National Security
perspectives The Return of Geo-economics: Globalisation and National Security Mark P. Thirlwell S e p t e m b e r 2 0 1 0 The Lowy Institute for International Policy is an independent international policy think tank. Its mandate ranges across all the dimensions of international policy debate in Australia – economic, political and strategic – and it is not limited to a particular geographic region. Its two core tasks are to: • produce distinctive research and fresh policy options for Australia’s international policy and to contribute to the wider international debate. • promote discussion of Australia’s role in the world by providing an accessible and high quality forum for discussion of Australian international relations through debates, seminars, lectures, dialogues and conferences. Lowy Institute Perspectives are occasional papers and speeches on international events and policy. The views expressed in this paper are the author’s own and not those of the Lowy Institute for International Policy. The return of geoeconomics: Globalisation and national security 1 Mark Thirlwell Globalisation, international economics and national security Inevitably, thinking about our national security environment requires grappling with a wide range of issues. These include those found in the traditional security sphere as well as such nontraditional security challenges as natural disasters, climate change and pandemics. It also involves understanding the changing international economic environment, including the far reaching implications of globalisation. In particular, I think it’s extremely hard to argue with the proposition that the current international environment is one that is marked by an increasingly dense entanglement of issues related to international economics, national security and foreign policy. -

Antinuclear Politics, Atomic Culture, and Reagan Era Foreign Policy
Selling the Second Cold War: Antinuclear Cultural Activism and Reagan Era Foreign Policy A dissertation presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy William M. Knoblauch March 2012 © 2012 William M. Knoblauch. All Rights Reserved. 2 This dissertation titled Selling the Second Cold War: Antinuclear Cultural Activism and Reagan Era Foreign Policy by WILLIAM M. KNOBLAUCH has been approved for the Department of History and the College of Arts and Sciences by __________________________________ Chester J. Pach Associate Professor of History __________________________________ Howard Dewald Dean, College of Arts and Sciences 3 ABSTRACT KNOBLAUCH, WILLIAM M., Ph.D., March 2012, History Selling the Second Cold War: Antinuclear Cultural Activism and Reagan Era Foreign Policy Director of Dissertation: Chester J. Pach This dissertation examines how 1980s antinuclear activists utilized popular culture to criticize the Reagan administration’s arms buildup. The 1970s and the era of détente marked a decade-long nadir for American antinuclear activism. Ronald Reagan’s rise to the presidency in 1981 helped to usher in the “Second Cold War,” a period of reignited Cold War animosities that rekindled atomic anxiety. As the arms race escalated, antinuclear activism surged. Alongside grassroots movements, such as the nuclear freeze campaign, a unique group of antinuclear activists—including publishers, authors, directors, musicians, scientists, and celebrities—challenged Reagan’s military buildup in American mass media and popular culture. These activists included Fate of the Earth author Jonathan Schell, Day After director Nicholas Meyer, and “nuclear winter” scientific-spokesperson Carl Sagan. -

The Calculus of Cyber Warfare As Influenced by the Subtle Art of Military Theory
Journal of The Colloquium for Information System Security Education (CISSE) Edition 5, Issue 1 - October 2017 The Calculus of Cyber Warfare as Influenced by the Subtle Art of Military Theory David R. Shaw [email protected] Jeff Carr [email protected] Tom Muehleisen [email protected] University of Washington Center for Information Assurance and Cybersecurity Bothell, WA Abstract - Ever since The “History of the Peloponnesian War as written by Thucydides, an Athenian historian who also happened to serve as an Athenian general during the war, we have intellectually feasted upon progressive war theories throughout the ages. Conventional war is generally considered a three-dimensional endeavor. With the advent of cyber warfare, we add a fourth dimension of silent, asymmetric proportions, normally conducted by nation- states waged against one another. This war is currently being fought on a global scale endangering the security of many States and organizations. We face a vicious cyber offense with no rules of engagement and defend with a cyber defense system that labors valiantly under layers of rules, regulations, and oversight that is legacy from decades back, slow to progress to match the speed and efficiency of the cyber threat. The authors of this paper seek to address the cyber threat from a military perspective, adapting time proven strategic military theory and theorists concepts of conventional warfare to principles of cyber warfare. 1 Journal of The Colloquium for Information System Security Education (CISSE) Edition 5, -

Counterinsurgency and Stability Operations: a New Approach to Legal Interpretation
Color profile: Disabled Composite Default screen XIV Counterinsurgency and Stability Operations: A New Approach to Legal Interpretation Dale Stephens* Introduction e live in the postmodern era of warfare,1 where small-scale, intra-State Wconflict is increasingly becoming the norm. While the modern era con- ceived of war and warfighting as a large-scale, inter-State conflict waged between massed professional armies,2 the postmodern era perceives conflict as “war among the people”3 where technological advantage, massive firepower and physical ma- neuver can count for little in the struggle for ascendancy.4 It turns out that such conflict can be as deadly and as strategically significant as conventional warfare. The US military in its recent reconceptualization of how such wars are to be ef- fectively engaged (and how victory is to be meaningfully measured) has embraced the realities of the emergent postmodern style of warfare. The recently published U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual5 and its companion vol- ume, The U.S. Army Stability Operations Field Manual,6 portray a somewhat counterintuitive model for prevailing in these postmodern conflicts. Significantly, the methodologies these manuals espouse are written against the background of bitter experience of conflict in Iraq and Afghanistan. Indeed, partially through ne- cessity, these doctrines emerged from reflection about these conflicts and took * Captain, CSM, Royal Australian Navy. All views expressed in this article are solely those of the author and do not necessarily -

The “Hearts and Minds” Fallacy the “Hearts and Jacqueline L
The “Hearts and Minds” Fallacy The “Hearts and Jacqueline L. Minds” Fallacy Hazelton Violence, Coercion, and Success in Counterinsurgency Warfare Debates over how governments can defeat insurgencies ebb and ºow with international events. Such debates tend to arise when the United States runs into problems in its efforts to support a counterinsurgent government. Often the United States approaches the problem of an armed, organized, internal nonstate political challenge to a government as a zero-sum game. In this competition, the state and nonstate actors compete for popular support and cooperation. The U.S. prescription for success is twofold: to provide support for liberaliz- ing, democratizing reforms designed to reduce popular grievances and gain popular support while weakening the insurgency, and to target insurgents with military force without harming civilians. I identify this prescription as the “good governance approach” for its focus on building a liberal, reform- ist central government to quell insurgency. Others have referred to it as the “population-centric approach,” the “comprehensive approach,” or the “hearts-and-minds approach.”1 In this article, I reconsider the effectiveness of the good governance ap- proach in light of the extreme difªculty that liberal great powers have experi- enced in applying it in Iraq, Afghanistan, and elsewhere. Since the al-Qaida attacks of September 11, 2001, the United States has been trying to help smaller Jacqueline L. Hazelton is Assistant Professor of Strategy and Policy at the U.S. Naval War College. For their helpful comments, the author thanks the anonymous reviewers, Robert Art, Andrew Birtle, Nick Carter, Joseph Collins, Conrad Crane, David Edelstein, William Fallon, Brendan Green, Chaim Kaufmann, Rodrigo Javier Massi, Emily Meierding, J.E. -

Neo-Classical Counterinsurgency?
Neo-Classical Counterinsurgency? FRANK G. HOFFMAN © 2007 Frank G. Hoffman he newly issued Army/Marine counterinsurgency (COIN) manual has been Tmetwithwelldeserved acclaim. Itisaproductofour collectiveunderstand- ing of insurgency and ongoing experiences in Iraq. It is also the product of vari- ous schools of thought about modern insurgencies, including what can be called theclassicalschool, based ontheconcepts ofMao andrevolutionary warfare.1 In this article I will attempt to capture the impact and implications of the classical school on the new doctrine, as well as evaluate the final product. The classicists focus, perhaps myopically, on the glorious heyday of revolutionary warfarein the 1950s and 1960s. Theyembrace the teachings of the British expert Robert Thompson and the French officer David Galula.2 Numerous pundits have christened Galula as the modern Clausewitz of COIN.3 Not surprisingly, Thompson and Galula’s concepts pervade the re- cent Army/Marine COIN manual, FM 3-24. Galula was a serious student of modernwarfare,andfollowingWorldWarIIspentthe remainderofhiscareer exploring revolutionary wars, from China to Vietnam.4 Butonesensesthathe wouldbestartledbythecomplexityofAfghanistanandIraqandthedistinctly broader global insurgency of the Long War. TheclassicistsignoretheuniquenessofMaoistorcolonialwarsofna- tional liberation, and over-generalize the principles that have been drawn from them. Today’s insurgent is not the Maoist of yesterday.5 Inpointoffact,thereis not as much common ground among the “masters” as the classicists would have you believe.6 The so-called classical principles are really a commonly ac- ceptedset ofkeyprinciplesandpracticesthathaveemergedovertime. Someof the classical principles are just blatant flashes of the obvious, such as Robert Summer 2007 71 Thompson’s somber advice “the government must have an overall plan.” (Givenourexperiencein Iraq,perhapsthisprincipleisnotsoobviousafterall). Other classical principles are not reflected in the writings and teachings of the masters, but have been absorbed over time.