Arquivos Do Jardim Botânico Do Rio De Janeiro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
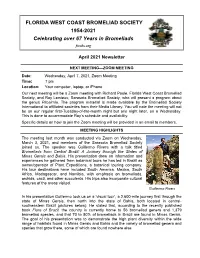
April 2021 FWCBS Newsletter
FLORIDA WEST COAST BROMELIAD SOCIETY 1954-2021 Celebrating over 67 Years in Bromeliads fwcbs.org April 2021 Newsletter NEXT MEETING—ZOOM MEETING Date: Wednesday, April 7, 2021, Zoom Meeting Time: 7 pm Location: Your computer, laptop, or iPhone Our next meeting will be a Zoom meeting with Richard Poole, Florida West Coast Bromeliad Society, and Ray Lemieux, Sarasota Bromeliad Society, who will present a program about the genus Pitcairnia. The program material is made available by the Bromeliad Society International to affiliated societies from their Media Library. You will note the meeting will not be on our regular first-Tuesday-of-the-month night but one night later, on a Wednesday. This is done to accommodate Ray’s schedule and availability. Specific details on how to join the Zoom meeting will be provided in an email to members. MEETING HIGHLIGHTS The meeting last month was conducted via Zoom on Wednesday, March 3, 2021, and members of the Sarasota Bromeliad Society joined us. The speaker was Guillermo Rivera with a talk titled Bromeliads from Central Brazil: A Journey through the States of Minas Gerais and Bahia. His presentation drew on information and experiences he gathered from botanical tours he has led in Brazil as owner/operator of Plant Expeditions, a botanical touring company. His tour destinations have included South America, Mexico, South Africa, Madagascar, and Namibia, with emphasis on bromeliads, orchids, cacti, and other succulents. His trips also incorporate cultural features of the areas visited. Guillermo Rivera In his presentation Guillermo took us on a ‘visual tour’, a 2,600-mile journey first through the state of Minas Gerais, then north into the state of Bahia, both located in central- southeastern Brazil (pictures below). -

Vascular Plant Species Recorded in Protected Areas and the Implications for São Paulo State's Red List
Rodriguésia 67(2): 405-425. 2016 http://rodriguesia.jbrj.gov.br DOI: 10.1590/2175-7860201667212 Registros de espécies vasculares em unidades de conservação e implicações para a lista da flora ameaçada de extinção no estado de São Paulo Vascular plant species recorded in protected areas and the implications for São Paulo State’s Red List of Threatened Plants Matheus Colli-Silva1, Thayane Lee Bezerra2, Geraldo Antônio Daher Corrêa Franco3, Natália Macedo Ivanauskas3 & Flaviana Maluf Souza3,4 Resumo O conhecimento sobre a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção é fundamental para o planejamento da conservação da biodiversidade. Neste estudo, atualizamos as informações referentes a dois dos 11 critérios utilizados para a elaboração da lista de espécies da flora ameaçada de extinção no estado de São Paulo, referentes à: i) ocorrência desconhecida e ii) ocorrência exclusiva da espécie em unidades de conservação (UC). Fizemos o levantamento da ocorrência das espécies de plantas vasculares nas UCs consultando os registros on-line de material depositado em herbário e revimos a necessidade de alteração na categoria de ameaça ou de exclusão de espécies da lista atual. Registramos 4846 espécies em 59 UCs. Nossos resultados apontam a necessidade de exclusão de 148 espécies da lista, das quais 82 não atendem mais ao critério de ocorrência desconhecida e 66 não obedecem mais o critério de ocorrência exclusiva em UCs. Outras 55 espécies deverão sofrer alteração em sua categoria de ameaça e 39 permanecerão inalteradas. Embora cerca de 60% das espécies da flora paulista já estejam em unidades de conservação, é urgente a necessidade de se estabelecer estratégias para proteger os 40% restantes, criando novas UCs de proteção integral ou ampliando as já existentes. -

Checklist and One New Species of Bromeliaceae from Pico Do Itambé, Minas Gerais, Brazil
Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 158, 709–715. With 15 figures Checklist and one new species of Bromeliaceae from Pico do Itambé, Minas Gerais, Brazil LEONARDO M. VERSIEUX* Instituto de Botânica, Caixa Postal 3005, 01061-970, São Paulo-SP, Brazil Received 2 January 2007; accepted for publication 5 June 2008 A checklist of the 11 genera and 16 species of Bromeliaceae from the Parque Estadual do Pico do Itambé in Santo Antônio do Itambé and Serra Azul de Minas, Minas Gerais, south-eastern Brazil, is presented. Bromelioideae is the most diverse subfamily and is concentrated in forested areas. Tillandsioideae and Pitcairnioideae are most abundant in elevated areas of campo rupestre vegetation. Vriesea medusa Versieux, a new night-blooming species belonging to section Xiphion (E.Morren) E.Morren ex Mez, was found in the area and is described and illustrated. It appears to be an endemic species distinguished from Vriesea nanuzae Leme by a combination of the usually larger dimensions in the rosette, the curved inflorescence which has lateral peduncles bearing up to five sterile bracts, the larger number of flowers, floral bracts and sepals that become dark purplish-brown towards the apex and the coloration of the leaves. Dyckia glandulosa L.B.Sm. & Reitz and Vriesea densiflora Mez, previously poorly known, were rediscovered and are depicted in their habitat for the first time. Vriesea procera var. tenuis L.B.Sm. is a new record for the state. © 2008 The Linnean Society of London, Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 158, 709–715. ADDITIONAL KEYWORDS: campo rupestre – Serra do Espinhaço – Tillandsioideae – Vriesea – Xiphion. -

Bromeliaceae
Bromeliaceae VOLUME XLI - No. 5 - SEPT/OCT 2007 The Bromeliad Society of Queensland Inc. P. O. Box 565, Fortitude Valley Queensland, Australia 4006, Home Page www.bromsqueensland.com OFFICERS PRESIDENT Olive Trevor (07) 3351 1203 VICE PRESIDENT Barry Kable PAST PRESIDENT Bob Reilly (07) 3870 8029 SECRETARY Chris Coulthard TREASURER Glenn Bernoth (07) 4661 3 634 BROMELIACEAE EDITOR Ross Stenhouse SHOW ORGANISER Bob Cross COMMITTEE David Rees, Paul Dunstan, Ann McBur - nie, Arnold James,Viv Duncan MEMBERSHIP SECRETARY Roy Pugh (07) 3263 5057 SEED BANK CO-ORDINATOR Doug Parkinson (07) 5497 5220 AUDITOR Anna Harris Accounting Services SALES AREA STEWARD Pat Barlow FIELD DAY CO-ORDINATOR Nancy Kickbusch LIBRARIAN Evelyn Rees ASSISTANT SHOW ORGANISER Phil Beard SUPPER STEWARDS Nev Ryan, Barry Genn PLANT SALES Nancy Kickbusch (Convenor) N. Poole (Steward) COMPETITION STEWARDS Dorothy Cutcliffe, Alan Phythian CHIEF COMPETITION STEWARD Jenny Cakurs HOSTESS Gwen Parkinson BSQ WEBMASTER Ross Stenhouse LIFE MEMBERS Grace Goode OAM Peter Paroz, Michael O’Dea Editors Email Address: [email protected] The Bromeliad Society of Queensland Inc. gives permission to all Bromeliad Societies to re- print articles in their journals provided proper acknowledgement is given to the original author and the Bromeliaceae, and no contrary direction is published in Bromeliaceae. This permission does not apply to any other person or organisation without the prior permission of the author. Opinions expressed in this publication are those of the individual contributor and may not neces- sarily reflect the opinions of the Bromeliad Society of Queensland or of the Editor Authors are responsible for the accuracy of the information in their articles. -

(Bromeliaceae) OCORRENTES NA BAHIA, BRASIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS CURSO DE MESTRADO CONSERVAÇÃO DE SEMENTES E MORFOANATOMIA FOLIAR DE ESPÉCIES DE Tillandsia (Bromeliaceae) OCORRENTES NA BAHIA, BRASIL RAFAELLE SOUZA DE OLIVEIRA CRUZ DAS ALMAS-BAHIA 2020 CONSERVAÇÃO DE SEMENTES E MORFOANATOMIA FOLIAR DE ESPÉCIES DE Tillandsia (Bromeliaceae) OCORRENTES NA BAHIA, BRASIL Rafaelle Souza de Oliveira Bacharelado em Engenharia Florestal Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2017 Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Recursos Genéticos Vegetais. Orientador: Dr. Everton Hilo de Souza Coorientadora: Dra. Fernanda Vidigal Duarte Souza Coorientadora: Dra. Lidyanne Yuriko Saleme Aona CRUZ DAS ALMAS-BAHIA 2020 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS CURSO DE MESTRADO CONSERVAÇÃO DE SEMENTES E MORFOANATOMIA FOLIAR DE ESPÉCIES DE Tillandsia L. (Bromeliaceae) OCORRENTES NA BAHIA, BRASIL Comissão Examinadora da Defesa de Dissertação de Rafaelle Souza de Oliveira Aprovada em 6 de maio de 2020 Prof. Dr. Everton Hilo de Souza Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Orientador) Prof. Dr. Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Examinador Interno) Prof. Dr. Kleber Resende Silva Universidade de São Paulo (Examinador Externo) AGRADECIMENTOS Agradeço inicialmente aos meus pais, Raimundo e Ednilce, por todo o apoio e a paciência durante o mestrado e a graduação, por terem aguentado minha ausência por tanto tempo, e por terem vibrado junto comigo a cada etapa concluída. -

10531 2007 9157 Article-Web 1..21
Biodivers Conserv (2007) 16:2989–3009 DOI 10.1007/s10531-007-9157-7 ORIGINAL PAPER Bromeliaceae diversity and conservation in Minas Gerais state, Brazil Leonardo M. Versieux · Tânia Wendt Received: 29 May 2006 / Accepted: 30 January 2007 / Published online: 7 March 2007 © Springer Science+Business Media B.V. 2007 Abstract Field work and data from herbaria collections (2686 records) representing 283 taxa (265 species and 18 infraspeciWc taxa) of Bromeliaceae occurring at Minas Gerais state, southeastern Brazil, were analyzed in order to obtain distribution and diversity information, and to determine IUCN (The World Conservation Union) conservation status for each taxon. A map containing 1° £ 1° grid cells was used to identify priority areas for new research collections, areas of high species diversity, and Bromeliaceae conservation status. A clear decrease in Bromeliaceae diversity is observed between the eastern and the western portions of Minas Gerais, and low Xoristic similarities were found between neighboring grid cells. The rocky mountains of Cadeia do Espinhaço are considered the most important area for Bromeliaceae endemics. From the 283 taxa of Bromeliaceae that occur at Minas Gerais, 118 (42%) are considered threatened, and 124 taxa (44% of the total) do not occur inside any protected area. The region of the Quadrilátero Ferrífero in the southern portion of the Cadeia do Espinhaço is the most threatened, and urgent strategies for conservation of this rich Bromeliaceae Xora are needed. Northeastern Minas Gerais, particularly the rocky outcrops or inselbergs located in the Jequitinhonha and Mucuri rivers drainage basins need additional collection eVorts and conservation actions focused on these saxicolous taxa. -

Far North Coast Bromeliad Study Group N.S.W
Far North Coast Bromeliad Study Group N.S.W. Study Group meets the third Thursday of each month Next meeting 17th May 2012 at 11 a.m. Venue: PineGrove Bromeliad Nursery 114 Pine Street Wardell 2477 Phone (02) 6683 4188 Discussion: April 2012 General show & tell Editorial Team: Don Beard Ross Little & Helen Clewett [email protected] 1 Meeting 15th March 2012 The meeting was opened at 11:23am by Ron. A total of 32 members attended the meeting. Apologies were given for seven members. Ron mentioned that Rosemary Dalton had had a second operation and was on the mend. Laurie Mountford had also recovered. General Business Ross reminded the meeting that DVD’s containing Newsletters from various Groups and Societies from around Australia were available from the library. The disks are updated monthly. Also, with the author’s permission, member’s articles and photos used in our Newsletters and/or for presentations, would be retained by the library. Both Trish’s and Debbie’s originals have been filed. A copy of Derek Butcher’s (Uncle Derek) latest Tillandsia disk is now in the library. The issue of labelling sales and raffle broms was mentioned again (see p3, FNCBSG(NSW) Newsletter, March 2012). A much repeated discussion on label- ling followed. Ross pointed out that the whole idea of labelling is to make ones life easier, especially when you want to replace lost plants or plants you wish to obtain. You are not expected to remember all the names just retain the tags. In regard to library books, please ensure that the borrowing cards are filled out correctly when borrowing, and that your name is crossed out when the book is returned. -

TRUE FULL-SUN BROMELIADS by Moyna Prince
TRUE FULL-SUN BROMELIADS By Moyna Prince This article appeared in the September 2002 edition of The Bromeli Advisory, the newsletter of the Bromeliad Society of South Florida The weather we've had this year has tried our plants in the extreme. While the winter was mild, drought conditions combined with sunny days stressed them. Then came the monsoon rains and the temperature climbed. These conditions tested the survival abilities of our toughest bromeliads, and it's been interesting to assess those that flourished versus those that needed more protection. In our garden, there is one bromeliad that is a clear winner in the full-sun category: Hohenbergia castellanosii. You cannot give this bromeliad too much sun. It's a big, tough plant with upright form, and wide green leaves that turn fiery red from the tips down as it gets more sun. I went to several of our members for suggestions and listed below are their recommendations. The experts pointed out that most plants that have gone through this year's weather extremes without sunburn had the advantage of being planted in cooler months, thus giving them time to become acclimated. You can't take a plant from a shady spot and place it in direct sun in July without getting some burn or bleaching. Sudden changes, length of sunny periods and humidity can also cause problems, even for well- established plants. Here are some of the experts' suggestions for full-sun bromeliads: Large: Aechmea blanchetiana Aechmea eurycorymbus Aechmea mexicana (also the albomarginated form) Aechmea bracteata (all forms) Aechmea mulfordii Aechmea rubens Aechmea 'Little Harv' Aechmea chantinii (black form) Aechmea 'Samurai' Alcantarea vinicolor (tougher than imperialis) Alcantarea imperialis Alcantarea regina Androlepis skinneri Hohenbergia castellanosii Portea petropolitana (both var. -

Abstracts of the Monocots VI.Pdf
ABSTRACTS OF THE MONOCOTS VI Monocots for all: building the whole from its parts Natal, Brazil, October 7th-12th, 2018 2nd World Congress of Bromeliaceae Evolution – Bromevo 2 7th International Symposium on Grass Systematics and Evolution III Symposium on Neotropical Araceae ABSTRACTS OF THE MONOCOTS VI Leonardo M. Versieux & Lynn G. Clark (Editors) 6th International Conference on the Comparative Biology of Monocotyledons 7th International Symposium on Grass Systematics and Evolution 2nd World Congress of Bromeliaceae Evolution – BromEvo 2 III Symposium on Neotropical Araceae Natal, Brazil 07 - 12 October 2018 © Herbário UFRN and EDUFRN This publication may be reproduced, stored or transmitted for educational purposes, in any form or by any means, if you cite the original. Available at: https://repositorio.ufrn.br DOI: 10.6084/m9.figshare.8111591 For more information, please check the article “An overview of the Sixth International Conference on the Comparative Biology of Monocotyledons - Monocots VI - Natal, Brazil, 2018” published in 2019 by Rodriguésia (www.scielo.br/rod). Official photos of the event in Instagram: @herbarioufrn Front cover: Cryptanthus zonatus (Vis.) Vis. (Bromeliaceae) and the Carnaúba palm Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore (Arecaceae). Illustration by Klei Sousa and logo by Fernando Sousa Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede Setor de Informação e Referência Abstracts of the Monocots VI / Leonardo de Melo Versieux; Lynn Gail Clark, organizadores. - Natal: EDUFRN, 2019. 232f. : il. ISBN 978-85-425-0880-2 1. Comparative biology. 2. Ecophysiology. 3. Monocotyledons. 4. Plant morphology. 5. Plant systematics. I. Versieux, Leonardo de Melo; Clark, Lynn Gail. II. Título. RN/UF/BCZM CDU 58 Elaborado por Raimundo Muniz de Oliveira - CRB-15/429 Abstracts of the Monocots VI 2 ABSTRACTS Keynote lectures p. -

May 2017 UPCOMING EVENTS
Bromeliad Society Vol 50 No 5 May 2017 UPCOMING EVENTS: May 19, 20, 21 … BS/HI Annual Show & Sale Bromeliad Society/Houston’s 45th Annual Show and Sale May 19, 20, and 21 2017 at the Mercer Botanic Gar- dens 22306 Aldine Westfield Road, Humble, TX 77338 (more at end of newsletter) Show hours: Saturday 2:00 P.M. to 5:00 P.M. Sunday 11:00 A.M. to 4:00 P.M. Sale hours: Friday 12:00 P.M. to 4:00 P.M. Saturday 9:00 A.M. to 4:00 P.M. Sunday 11:00 A.M. to 3:30 P.M. Aechmea Samurai pastel—Earth Star Designs Entries: Friday 12:00 P.M. to 3:00 P.M. Late entries accepted only with prior approval of the MEETING DATE:, Tuesday, May 16, 7:30 P.M. show chairman with 5 days advance notice and have Location: 1475 West Gray, Houston 77019 all entry sheet information filled out PROGRAM SPEAKERS: After Show: Details in progress and will discuss at the upcoming meeting. Dick and Phyllis McEwen PROGRAM TITLE: October 20, 21, 22... South African Images Southwest Bromeliad Guild Show and Biannual International Cryptanthus Show MEETING AGENDA: Crown Plaza Addison, Dallas, TX • Greetings/Call to Order Hosted by the Greater Dallas, Ft. Worth Bromeliad • Show and Tell Society • Meeting • Hotel rates - $99/night/free parking • Break/Refreshments/Buy raffle tickets • Registration is $85.00. • Program • Plant entry for the two Shows and Plant Sale are • Adjourn late Friday morning and Friday afternoon. • Raffle • Plant Sale Opening for registrants 6:00pm, Friday night • Saturday morning – JUNE PROGRAM: Guild & Cryptanthus Show Judging presented by Charlie Birdsong BSI Board of Directors Meeting • Banquet and Rare Plant Auction Saturday night NEXT BOARD MEETING: July 20, 2017 DEADLINE FOR JUNE BULLETIN: 6/5/17 December 2 .. -

Chapada Diamantina”, Northeast Brazil ABEL AUGUSTO CONCEIÇÃO1,4, JOSÉ RUBENS PIRANI2 and SERGIO TADEU MEIRELLES3
Revista Brasil. Bot., V.30, n.4, p.641-656, out.-dez. 2007 Floristics, structure and soil of insular vegetation in four quartzite-sandstone outcrops of “Chapada Diamantina”, Northeast Brazil ABEL AUGUSTO CONCEIÇÃO1,4, JOSÉ RUBENS PIRANI2 and SERGIO TADEU MEIRELLES3 (received: August 31, 2004; accepted: December 6, 2007) ABSTRACT – (Floristics, structure and soil of insular vegetation in four quartzite-sandstone outcrops of “Chapada Diamantina”, Northeast Brazil). Soil islands on rocky surfaces often harbor aggregated vegetation that consists of insular plant communities. These islands are typical of the rocky outcrops and in various parts of Brazil form the so-called “campos rupestres” vegetation. Four of such sites have been selected in the state of Bahia, Northeast Brazil, for this comparative study on floristics and vegetation structure: three areas situated inside the “Parque Nacional da Chapada Diamantina” (Guiné, Fumaça and “Gerais da Fumaça”) and one is at the border of the Environmental Protection Area of “Marimbus-Iraquara” (“Mãe Inácia”). All occurring vegetation islands were studied in four random plots of 10 × 10 m per site. Soil was often shallow, sandy and acidic. Vascular plant species were determined, with respective life forms and canopy coverage areas. The total number of species when all four sites were added was 135, and the number of species per island varied from 2 to 32. The areas of the 214 soil islands varied from 0.015 to 91.9 m2, totaling 568 m2 in the four sites. Monocotyledon families were dominant, essentially Velloziaceae, as well as Orchidaceae, Bromeliaceae, Amaryllidaceae and Cyperaceae. Among the eudicotyledons, dominant families were mainly Clusiaceae, Asteraceae and Melastomataceae. -

Diversidade Biológica E Conservação Da Floresta Atlântica Ao Norte Do
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MINISTÉRIO DO MEIO Diversidade Biológica e Conservação da Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Atlântica ao norte do Rio São Francisco apresenta os é o número 13 da Série BIODIVERSIDADE, produzida pelo Ministério do Meio Ambiente com resultados do subprojeto COMPOSIÇÃO, RIQUEZA E Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco São Norte Rio Conservação ao do e Atlântica Floresta Biológica da Diversidade o objetivo de promover o conhecimento dos A Floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DO CENTRO DE projetos e estudos desenvolvidos pela Diretoria ENDEMISMO PERNAMBUCO, apoiado pelo de Conservação da Biodiversidade. Essa série é (incluindo o Centro Pernambuco) é o setor mais PROBIO no âmbito do Edital 02/2001. Este edital teve composta por: degradado e menos conhecido de toda a Floresta como objetivo a seleção de propostas para a 1. Política Nacional de Biodiversidade: Roteiro Atlântica. A sinergia perversa entre falta de realização de inventários biológicos em áreas de Consulta para Elaboração de uma Proposta; conhecimento e degradação ameaça levar este consideradas prioritárias para a conservação da 2. Convenção sobre Diversidade Biológica: setor ao completo desaparecimento nos próximos diversidade biológica nas avaliações empreendidas Conferência para Adoção do Texto Acordado da Diversidade Biológica CDB Ato Final de Nairobi; anos. Esta obra traz uma primeira síntese sobre a para os biomas Cerrado e Pantanal, Caatinga, Mata 3. Legislação Ambiental Brasileira: Grau de floresta ao norte do Rio São Francisco, descreve a Atlântica e Campos Sulinos, Amazônia e Zona Adequação à Convenção sobre Diversidade Costeira e Marinha.