Tóri Di Babel: Humor E Língua Na Literatura Em Crioulo De Macau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

"National List of Vascular Plant Species That Occur in Wetlands: 1996 National Summary."
Intro 1996 National List of Vascular Plant Species That Occur in Wetlands The Fish and Wildlife Service has prepared a National List of Vascular Plant Species That Occur in Wetlands: 1996 National Summary (1996 National List). The 1996 National List is a draft revision of the National List of Plant Species That Occur in Wetlands: 1988 National Summary (Reed 1988) (1988 National List). The 1996 National List is provided to encourage additional public review and comments on the draft regional wetland indicator assignments. The 1996 National List reflects a significant amount of new information that has become available since 1988 on the wetland affinity of vascular plants. This new information has resulted from the extensive use of the 1988 National List in the field by individuals involved in wetland and other resource inventories, wetland identification and delineation, and wetland research. Interim Regional Interagency Review Panel (Regional Panel) changes in indicator status as well as additions and deletions to the 1988 National List were documented in Regional supplements. The National List was originally developed as an appendix to the Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States (Cowardin et al.1979) to aid in the consistent application of this classification system for wetlands in the field.. The 1996 National List also was developed to aid in determining the presence of hydrophytic vegetation in the Clean Water Act Section 404 wetland regulatory program and in the implementation of the swampbuster provisions of the Food Security Act. While not required by law or regulation, the Fish and Wildlife Service is making the 1996 National List available for review and comment. -

Ethnobotanical Study on Wild Edible Plants Used by Three Trans-Boundary Ethnic Groups in Jiangcheng County, Pu’Er, Southwest China
Ethnobotanical study on wild edible plants used by three trans-boundary ethnic groups in Jiangcheng County, Pu’er, Southwest China Yilin Cao Agriculture Service Center, Zhengdong Township, Pu'er City, Yunnan China ren li ( [email protected] ) Xishuangbanna Tropical Botanical Garden https://orcid.org/0000-0003-0810-0359 Shishun Zhou Shoutheast Asia Biodiversity Research Institute, Chinese Academy of Sciences & Center for Integrative Conservation, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences Liang Song Southeast Asia Biodiversity Research Institute, Chinese Academy of Sciences & Center for Intergrative Conservation, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences Ruichang Quan Southeast Asia Biodiversity Research Institute, Chinese Academy of Sciences & Center for Integrative Conservation, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences Huabin Hu CAS Key Laboratory of Tropical Plant Resources and Sustainable Use, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences Research Keywords: wild edible plants, trans-boundary ethnic groups, traditional knowledge, conservation and sustainable use, Jiangcheng County Posted Date: September 29th, 2020 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-40805/v2 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Version of Record: A version of this preprint was published on October 27th, 2020. See the published version at https://doi.org/10.1186/s13002-020-00420-1. Page 1/35 Abstract Background: Dai, Hani, and Yao people, in the trans-boundary region between China, Laos, and Vietnam, have gathered plentiful traditional knowledge about wild edible plants during their long history of understanding and using natural resources. The ecologically rich environment and the multi-ethnic integration provide a valuable foundation and driving force for high biodiversity and cultural diversity in this region. -

Review Article Progress on Research and Development of Paederia Scandens As a Natural Medicine
Int J Clin Exp Med 2019;12(1):158-167 www.ijcem.com /ISSN:1940-5901/IJCEM0076353 Review Article Progress on research and development of Paederia scandens as a natural medicine Man Xiao1*, Li Ying2*, Shuang Li1, Xiaopeng Fu3, Guankui Du1 1Department of Biochemistry and Molecular Biology, Hainan Medical University, Haikou, P. R. China; 2Haikou Cus- toms District P. R. China, Haikou, P. R. China; 3Clinical College of Hainan Medical University, Haikou, P. R. China. *Equal contributors. Received March 19, 2018; Accepted October 8, 2018; Epub January 15, 2019; Published January 30, 2019 Abstract: Paederia scandens (Lour.) (P. scandens) has been used in folk medicines as an important crude drug. It has mainly been used for treatment of toothaches, chest pain, piles, hemorrhoids, and emesis. It has also been used as a diuretic. Research has shown that P. scandens delivers anti-nociceptive, anti-inflammatory, and anti- tumor activity. Phytochemical screening has revealed the presence of iridoid glucosides, volatile oils, flavonoids, glucosides, and other metabolites. This review provides a comprehensive report on traditional medicinal uses, chemical constituents, and pharmacological profiles ofP. scandens as a natural medicine. Keywords: P. scandens, phytochemistry, pharmacology Introduction plants [5]. In China, for thousands of years, P. scandens has been widely used to treat tooth- Paederia scandens (Lour.) (P. scandens) is a aches, chest pain, piles, hemorrhoids, and perennial herb belonging to the Paederia L. emesis, in addition to being used as a diuretic. genus of Rubiaceae. It is popularly known as Research has shown that P. scandens has anti- “JiShiTeng” due to the strong and sulfurous bacterial effects [6]. -
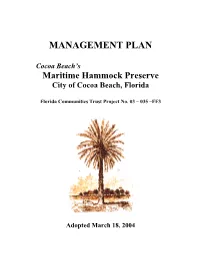
Cocoa Beach Maritime Hammock Preserve Management Plan
MANAGEMENT PLAN Cocoa Beach’s Maritime Hammock Preserve City of Cocoa Beach, Florida Florida Communities Trust Project No. 03 – 035 –FF3 Adopted March 18, 2004 TABLE OF CONTENTS SECTION PAGE I. Introduction ……………………………………………………………. 1 II. Purpose …………………………………………………………….……. 2 a. Future Uses ………….………………………………….…….…… 2 b. Management Objectives ………………………………………….... 2 c. Major Comprehensive Plan Directives ………………………..….... 2 III. Site Development and Improvement ………………………………… 3 a. Existing Physical Improvements ……….…………………………. 3 b. Proposed Physical Improvements…………………………………… 3 c. Wetland Buffer ………...………….………………………………… 4 d. Acknowledgment Sign …………………………………..………… 4 e. Parking ………………………….………………………………… 5 f. Stormwater Facilities …………….………………………………… 5 g. Hazard Mitigation ………………………………………………… 5 h. Permits ………………………….………………………………… 5 i. Easements, Concessions, and Leases …………………………..… 5 IV. Natural Resources ……………………………………………..……… 6 a. Natural Communities ………………………..……………………. 6 b. Listed Animal Species ………………………….…………….……. 7 c. Listed Plant Species …………………………..…………………... 8 d. Inventory of the Natural Communities ………………..………….... 10 e. Water Quality …………..………………………….…..…………... 10 f. Unique Geological Features ………………………………………. 10 g. Trail Network ………………………………….…..………..……... 10 h. Greenways ………………………………….…..……………..……. 11 i Adopted March 18, 2004 V. Resources Enhancement …………………………..…………………… 11 a. Upland Restoration ………………………..………………………. 11 b. Wetland Restoration ………………………….…………….………. 13 c. Invasive Exotic Plants …………………………..…………………... 13 d. Feral -

Notes on Hawk Moths ( Lepidoptera — Sphingidae )
Colemania, Number 33, pp. 1-16 1 Published : 30 January 2013 ISSN 0970-3292 © Kumar Ghorpadé Notes on Hawk Moths (Lepidoptera—Sphingidae) in the Karwar-Dharwar transect, peninsular India: a tribute to T.R.D. Bell (1863-1948)1 KUMAR GHORPADÉ Post-Graduate Teacher and Research Associate in Systematic Entomology, University of Agricultural Sciences, P.O. Box 221, K.C. Park P.O., Dharwar 580 008, India. E-mail: [email protected] R.R. PATIL Professor and Head, Department of Agricultural Entomology, University of Agricultural Sciences, Krishi Nagar, Dharwar 580 005, India. E-mail: [email protected] MALLAPPA K. CHANDARAGI Doctoral student, Department of Agricultural Entomology, University of Agricultural Sciences, Krishi Nagar, Dharwar 580 005, India. E-mail: [email protected] Abstract. This is an update of the Hawk-Moths flying in the transect between the cities of Karwar and Dharwar in northern Karnataka state, peninsular India, based on and following up on the previous fairly detailed study made by T.R.D. Bell around Karwar and summarized in the 1937 FAUNA OF BRITISH INDIA volume on Sphingidae. A total of 69 species of 27 genera are listed. The Western Ghats ‘Hot Spot’ separates these towns, one that lies on the coast of the Arabian Sea and the other further east, leeward of the ghats, on the Deccan Plateau. The intervening tract exhibits a wide range of habitats and altitudes, lying in the North Kanara and Dharwar districts of Karnataka. This paper is also an update and summary of Sphingidae flying in peninsular India. Limited field sampling was done; collections submitted by students of the Agricultural University at Dharwar were also examined and are cited here . -

27 Skunk Vine
27 SKUNK VINE R. W. Pemberton and P. D. Pratt U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Invasive Plant Research Laboratory, Fort Lauderdale, Florida, USA tion of livestock, however, are unknown (Gann and PEST STATUS OF WEED Gordon, 1998). In urban landscapes, this vine en- Skunk vine, Paederia foetida L. (Fig. 1), is a recently twines branches of woody ornamental plants and also recognized weedy vine of natural areas in Florida that spreads horizontally through lawns, rooting at the is spreading into other parts of the southern United nodes (Martin, 1995). In westcentral Florida, P. States. The weed, which is native to Asia, appears to foetida is considered the most troublesome weed have the potential to spread well beyond the South along roadside right-of-ways (W. Moriaty, pers. to the northeastern states. Control of the plant by comm.), and it also entangles power lines and associ- chemical or mechanical means damages valued veg- ated structures (Martin, 1995). etation supporting the vine. Skunk vine is a Category On the island of Hawaii, P. foetida is a very se- I Florida Exotic Pest Plant Council weed (Langeland rious weed in nurseries producing ornamental foli- and Craddock Burks, 1998), a listing that groups the age plants (Pemberton, pers. obs.). The weed infests plant with the most invasive weed species in Florida. field plantings used for propagation. Control of the weed is very difficult because stock plants are easily injured if herbicides are applied. At times, growers have had to abandon or destroy stock plants that have become overgrown by skunk vine. -

Paederia Foetida
Paederia foetida Paederia foetida Skunk vine Introduction The genus Paederia contains 20-30 species worldwide, generally distributed in the tropics of Asia. In China, eleven species and one variety have been reported, occurring mainly in the south and southwest China[47]. Species of Paederia in China Paederia foetida growth habit. (Photo by Ken Scientific Name Scientific Name A. Langeland, University of Florida.) P. cavaleriei Lévl. P. scandens (Lour.) Merr. P. foetida L. P. spectatissima H. Li ex C. Puff Paederia scandens (Lour.) Merr., P. lanuginosa Wall. P. stenobotrya Merr. fever vine, is more common than P. laxiflora Merr. ex Li P. stenophylla Merr. P. foetida. It is a twining vine with a length of 3-5 m. It grows on hillsides, P. pertomentosa Merr. ex Li P. yunnanensis (Lévl.) Rehd. in forests, along forest edges, along P. praetermissa C. Puff streamsides, and twining on trees at elevations of 300-2,000 m in Anhui, underside pubescent. Conspicuous Taxonomy Fujian, Guangdong, Sichuan, Taiwan, stipules are ovate lanceolate and 2-3 [47] Family: Rubiaceae Yunnan, and Zhejiang . mm in length, with two notches in the Genus: Paederia L. top. Flowering terminally or from leaf Although there are some differences axils, panicles reach a length of 6-18 Description in appearance between Paederia cm. Corollas are violet, 12-16 mm long, Paederia foetida, a twining vine-like foetida and P. scandens, recent work and commonly hair-covered with short shrub, may release a strong fetid odor has reduced P. scandens to a synonym lobes. Topped with a conical flower discs [125] when bruised. -

Black Cohosh Adulteration Herbs for Female US/CAN $6.95
HerbalGram 98 • May - July 2013 2013 July - May • 98 HerbalGram Holy Basil Profile • Garlic and Blood Pressure • 100+ Year-Old Phytomedicine Company Artichoke and Cholesterol • ABC Celebration • Chocolate and Stroke Risk Holy Basil Profile • Garlic and Blood Pressure • Herbs Reproductive for Female Health Company Phytomedicine • • Year-Old Herbal 100+ Insect Repellents • Chocolate and Stroke Risk The Journal of the American Botanical Council Number 98 | May - July 2013 Black Cohosh Adulteration Herbs for Female US/CAN $6.95 Reproductive Health www.herbalgram.org www.herbalgram.org Herbal Insect Repellents Herb Profile Holy Basil Ocimum tenuiflorum (syn. O. sanctum) Family: Lamiaceae (formerly Labiatae) INTRODUCTION or “pleasing basil”), is known as Forest or Vana Tulsi. Even Holy basil is a perennial or annual in the mint family though it is a different species, O. gratissimum also is consid- ered sacred in India and is used in the same ways as the O. that exhibits the square stem and volatile oils characteristic 2 of its family.1 It is erect, very branched, strongly aromatic, tenuiflorum varieties. and mildly hairy.2 Holy basil is native to India and parts of Tulsi is one of the principal herbs used in the Ayurvedic M I S S I O N D R I V E N : northern and eastern Africa, Hainan Island, and Taiwan, medicine system, in which it is known alternately as “The Queen of Herbs,” “The Incomparable One,” and “The and grows wild throughout India and up to an altitude of 9 5,900 feet (1,800 meters) in the Himalayas.3-5 In China, Mother Medicine of Nature.” It holds a supreme place in it occurs in dry, sandy areas of Hainan and Sichuan, as the ancient Vedic scriptures and is integrated into daily life well as in Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myan- by Hindus through religious worship. -

Ethnobotany of Wild Plants Used for Starting Fermented Beverages in Shui Communities of Southwest China Hong Et Al
JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE Ethnobotany of wild plants used for starting fermented beverages in Shui communities of southwest China Hong et al. Hong et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2015) 11:42 DOI 10.1186/s13002-015-0028-0 Hong et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2015) 11:42 DOI 10.1186/s13002-015-0028-0 JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE RESEARCH Open Access Ethnobotany of wild plants used for starting fermented beverages in Shui communities of southwest China Liya Hong1, Jingxian Zhuo2,3, Qiyi Lei4, Jiangju Zhou4, Selena Ahmed5, Chaoying Wang6, Yuxiao Long7, Feifei Li1 and Chunlin Long1,2* Abstract Background: Shui communities of southwest China have an extensive history of using wild plants as starters (Xiaoqu) to prepare fermented beverages that serve important roles in interpersonal relationships and cultural events. While the practice of using wild plants as starters for the preparation of fermented beverages was once prevalent throughout China, this tradition has seen a decline nationally since the 1930s. The traditional technique of preparing fermented beverages from wild plant starters remains well preserved in the Shui communities in southwest China and provides insight on local human-environment interactions and conservation of plant biodiversity for cultural purposes. The present study sought to examine the ethnobotany of wild plants used as starters for the preparation of fermented beverages including an inventory of plants used as a starter in liquor fermentation and associated knowledge and practices. Methods: Fieldsurveyswerecarriedoutthatconsistedofsemi-structured surveys and plant species inventories. One hundred forty-nine informants in twenty Shui villages were interviewed between July 2012 and October 2014 to document knowledge associated with wild plants used as a liquor fermentation starter. -

History of Fermented Black Soybeans 1
HISTORY OF FERMENTED BLACK SOYBEANS 1 HISTORY OF FERMENTED BLACK SOYBEANS (165 B.C. to 2011): EXTENSIVELY ANNOTATED BIBLIOGRAPHY AND SOURCEBOOK USED TO MAKE BLACK BEAN SAUCE. ALSO KNOW AS: FERMENTED BLACK BEANS, SALTED BLACK BEANS, FERMENTED SOYBEANS, PRESERVED BLACK BEANS, SALTY BLACK BEANS, BLACK FERMENTED BEANS, BLACK BEANS; DOUCHI, DOUSHI, TOUSHI, TOU-CH’IH, SHI, SHIH, DOW SEE, DOWSI (CHINESE); HAMANATTO, DAITOKUJI NATTO (JAPANESE); TAUSI, TAOSI (FILIPINO) Compiled by William Shurtleff & Akiko Aoyagi 2011 Copyright © 2011 by Soyinfo Center HISTORY OF FERMENTED BLACK SOYBEANS 2 Copyright (c) 2011 by William Shurtleff & Akiko Aoyagi All rights reserved. No part of this work may be reproduced or copied in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information and retrieval systems - except for use in reviews, without written permission from the publisher. Published by: Soyinfo Center P.O. Box 234 Lafayette, CA 94549-0234 USA Phone: 925-283-2991 Fax: 925-283-9091 www.soyinfocenter.com [email protected] ISBN 978-1-928914-41-9 (Fermented Black Soybeans) Printed 11 Dec. 2011 Price: Available on the Web free of charge Search engine keywords: History of fermented black soybeans History of fermented black beans History of Hamanatto History of Hamananatto History of black bean sauce History of shi History of shih History of salted black beans History of fermented soybeans History of douchi History of doushi History of preserved soybeans History of dow see History of tausi -

Recovery Plan
RECOVERY PLAN B ROOKSVILLE BELLFLOWER (Campanula robinsiae) and COOLEY’S WATER-WILLOW (Justicia cooleyi) U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region I:~.1 RECOVERY PLAN FOR BROOKSVILLE BELLFLOWER (Campanula robinsiae) AND COOLEY’S WATER-WILLOW (Justicia cooleyi) prepared by Richard A. Hilsenbeck, Senior Research Botanist Florida Natural Areas Inventory Tallahassee, Florida and David Martin, Botanist Jacksonville, Florida Field Office U.S. Fish and Wildlife Service for Southeast Region U.S. Fish and Wildlife Service Atlanta, Georgia Approved: ~, Jr. Regional Director, U.S. Fish and Wildlife Service Date: June 20, 1994 DISCLAIMER Recovery plans delineate reasonable actions which are believed to be required to recover and/or protect listed species. Plans are published by the U.S. Fish and Wildlife Service, sometimes prepared with the assistance of recovery teams, contractors, State agencies, and others. Objectives will be attained and any necessary funds made available subject to budgetary and other constraints affecting the parties involved, as well as the need to address other priorities. Recovery plans do not necessarily represent the views nor the official positions or approval of any individuals or agencies involved in the plan formulation, other than the U.S. Fish and Wildlife Service. They represent the official position of the U.S. Fish and Wildlife Service only after they have been signed by the Regional Director or Director as an~roved. Approved recovery plans are subject to modification as dictated by new findings, changes in species status, and the completion of recovery tasks. Literature citation should read as follows: U.S. Fish and Wildlife Service. 1993. Recovery Plan for Brooksville Bellflower (Campanula robinsiae) and Cooley’s water-willow (Justicia cooleyz). -

Pharmacognostical and Phytochemical Study on the Leaves of Paederia Foetida Linn
International Journal of PharmTech Research CODEN (USA): IJPRIF ISSN : 0974-4304 Vol.1, No.3, pp 918-920, July-Sept 2009 Pharmacognostical and Phytochemical study on the leaves of Paederia foetida linn. Vikas kumar1*, Yadav Pankajkumar S1, Udaya Pratap Singh1, Hans Raj Bhat1, Md. Kamaruz Zaman2 1Department of Pharmaceutical sciences, Allahabad Agricultural Institute - Deemed University, Allahabad, 211007, Uttar Pradesh, India. 2Department of pharmaceutical sciences, Dibrugarh University, India. *Email: [email protected] Abstract: This paper gives the information about the Paederia foetida linn. Pharmacognostical and Phytochemical studies on the leaves of Paederia foetida linn were performed. Less study are available on microscopical and phytochemical studies, hence, the present study was undertaken to investigate the same. All the parameters were studied under the WHO and pharmacopocial guidelines. The leaf simple, petiolale, stipulate, glabrous and mostly ovate margin entire, taste is indistinct. Epidermis, trichomes, parenchyma, collenchyma, vascular bundle, cell content were appearing on microscopical study on the leaf. Phytochemical standardization parameter such as moisture content, total ash, water soluble and acid insoluble ash, alcohol soluble and water soluble extractives were determined. Priminary identification of phytoconstituents was performed. Keywords: Paederia, Rubiaceae, Pharmacognostical, Phytochemical Introduction microscopic, ash value, extractive value, moisture content Herbal medicine is a triumph of popular therapeutic and preliminary screening of the leaves. diversity. Almost in all the traditional medicine, the medicinal plants play a major role and constitute the Material and methods backbone for the same. In order to make sure the safe use The leaves of Paederia foetida linn were collected from of these medicines, a necessary first step is the the Botanical garden (Department Of Life Sciences) establishment of standards of quality, safety and efficacy.