RBH N87 V41 Maio-Agosto.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alegacoes-Finais-Instituto-Lula1.Pdf
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, por seus advogados, nos autos da ação penal em epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência, ratificar as alegações finais de evento n° 1874, bem como apresentar complementação às suas ALEGAÇÕES FINAIS o que faz com supedâneo no despacho de evento n° 2029, bem como no artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, e com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos adiante articulados. Sumário I. ESCORÇO PROCESSUAL .................................................................................................... 5 II. OS NOVOS JULGAMENTOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE REFORÇAM A INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA .................. 6 2.1 Planilha Italiano: PET 6664 e PET 6827/STF. ............................................................ 6 2.2. Prevalência da competência da justiça eleitoral para processar e julgar os delitos eleitorais e os que lhe sejam eventualmente conexos: PET 7832. ................................... 11 III. VAZA JATO: REVELAÇÕES QUE IRRADIAM CONSEQUÊNCIAS PARA TODO O FEITO. COMO OS MEMBROS DA FORÇA-TAREFA DA LAVA JATO DE CURITIBA E O EX-JUIZ SÉRGIO MORO ATUARAM SOB O COMANDO DA BÚSSOLA DA VAIDADE E DOS INTERESSES PARTICULARES, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA ........................................................................................................................... 21 3.1. Fatos notórios. ............................................................................................................. -

Estado E Caixa Discutem Projetos De Habitação
126 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa Ano CXXVI NúmeroA 217 UNIÃOJoão Pessoa, Paraíba - TERÇa-FEIRa, 15 de outubro de 2019 – R$ 1,50 - Assinatura anual R$ 200,00 Governo vai chamar 500 novos bombeiros e policiais Durante avaliação de nove meses de gestão, governador afirma que aprovados em concurso serão convocados em novembro. Página 3 Foto: Lusângela Azevedo Paraíba Foto: Secom-PB Garis entram em greve e agravam crise em Patos Crise administrativa no município parece não ter fim. Agora, é a vez dos funcionários que fazem a coleta de lixo alegarem atrasos de salários para pararem atividades. Página 8 Foto: Evandro Pereira Paraíba Estado e Caixa discutem projetos de habitação Encontro de dirigentes do banco estatal com o chefe do Executivo paraibano aconteceu ontem no Palácio da Redenção e debateu ainda sobre obras de saneamento. Página 4 2o Caderno Dnit vai cobrar de consórcio solução para obras na BR Paraibano lança em duas versões Órgão garante que pagamentos estão em dia e quer Albiege Fernandes livro sobre histórias paralímpicas saber porque as obras na BR-230, entre João Pessoa e Foto: Publicado pela Editora A União em versão impressa e Braille, obra Cabedelo, estão paralisadas. Página 6 de Sérgio Montenegro será lançado hoje na UFPB. Página 9 Paraíba comemora bons dados sobre transplantes Foto: Mauricio Fidalgo/ Globo Números do Sistema Nacional de Transplantes indicam que Estado é o que mais cresce no Brasil Raquel Ferreira é a nesta área em 2019. Página 5 atriz da Paraíba em ‘Segunda Chamada’ Nova série da Globo fala do EJA e Ana Adelaide Peixoto terá capítulo especial em homenagem ao Dia dos Professores exibido hoje à Dor & Glória noite. -
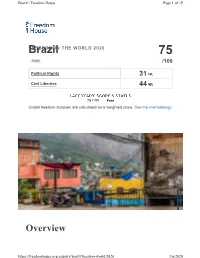
Freedom in the World Report 2020
Brazil | Freedom House Page 1 of 19 BrazilFREEDOM IN THE WORLD 2020 75 FREE /100 Political Rights 31 Civil Liberties 44 75 Free Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology. Overview https://freedomhouse.org/country/brazil/freedom-world/2020 3/6/2020 Brazil | Freedom House Page 2 of 19 Brazil is a democracy that holds competitive elections, and the political arena is characterized by vibrant public debate. However, independent journalists and civil society activists risk harassment and violent attack, and the government has struggled to address high rates of violent crime and disproportionate violence against and economic exclusion of minorities. Corruption is endemic at top levels, contributing to widespread disillusionment with traditional political parties. Societal discrimination and violence against LGBT+ people remains a serious problem. Key Developments in 2019 • In June, revelations emerged that Justice Minister Sérgio Moro, when he had served as a judge, colluded with federal prosecutors by offered advice on how to handle the corruption case against former president Luiz Inácio “Lula” da Silva, who was convicted of those charges in 2017. The Supreme Court later ruled that defendants could only be imprisoned after all appeals to higher courts had been exhausted, paving the way for Lula’s release from detention in November. • The legislature’s approval of a major pension reform in the fall marked a victory for Brazil’s far-right president, Jair Bolsonaro, who was inaugurated in January after winning the 2018 election. It also signaled a return to the business of governing, following a period in which the executive and legislative branches were preoccupied with major corruption scandals and an impeachment process. -

Proteção De Dados Pessoais E Administração Pública Protection of Personal Data and Public Administration Ricardo Marcondes Martins
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL LAW - IJDL 01 ano 02 . n. 01 . janeiro/abril 2021 - Publicação quadrimestral DOI: 10.47975/digital.law.vol.1.n.3 ISSN 2675-7087 IJDL International Journal of DIGITAL LAW IJDL – INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL LAW Editor-Chefe Prof. Dr. Emerson Gabardo, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR, Brasil Editores Associados Prof. Dr. Alexandre Godoy Dotta, Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar, Curitiba – PR, Brasil Prof. Dr. Juan Gustavo Corvalán, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Editores Adjuntos Me. Fábio de Sousa Santos, Faculdade Católica de Rondônia, Porto Velho – RO, Brasil Me. Iggor Gomes Rocha, Universidade Federal do Maranhão, São Luís – MA, Brasil Me. Lucas Bossoni Saikali, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba – PR, Brasil Presidente do Conselho Editorial Profa. Dra. Sofia Ranchordas, University of Groningen, Groningen, Holanda Conselho Editorial Prof. Dr. André Saddy, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil Profa. Dra. Annappa Nagarathna, National Law School of India, Bangalore, Índia Profa. Dra. Cristiana Fortini, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil Profa. Dra. Diana Carolina Valencia Tello, Universidad del Rosario, Bogotá, Colômbia Prof. Dr. Endrius Cocciolo, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha Profa. Dra. Eneida Desiree Salgado, Universidade Federal do Paraná, Brasil Profa. Dra. Irene Bouhadana, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, França Prof. Dr. José Sérgio da Silva Cristóvam, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Prof. Dr. Mohamed Arafa, Alexandria University, Alexandria, Egito Prof. Dra. Obdulia Taboadela Álvarez, Universidad de A Coruña, A Coruña, Espanha Profa. -

Mani Pulite, Lava Jato and the Road Ahead for Anti-Corruption Efforts in Brazil
anti-corruption.com January 22, 2020 BRAZILIAN ANTI-CORRUPTION LAW Mani Pulite, Lava Jato and the Road Ahead for Anti-Corruption Efforts in Brazil By Rafael Ribeiro, Hogan Lovells When Sergio Moro, Brazil’s current Minister In my opinion, reports of Lava Jato’s demise of Justice and Public Safety, studied the are exaggerated, but significant additional anti-corruption push in Italy stemming from popular pressure will be needed for the gains Operation Mani Pulite (Clean Hands) in 2004, made in fighting corruption in Brazil are to he could not have imagined he would later be maintained long-term. In this article, I will lead a corruption investigation in his home briefly discuss the aftermath of Italy’s Mani country with even more far-reaching effects – Pulite investigation and the demonstrated lack Operation Lava Jato (Car Wash). of popular support that it enjoyed during its final years, the circumstances that have led In a 2004 academic article analyzing Operation Lava Jato to similarly see a reduction in popular Mani Pulite, Moro concluded that: support, and finally discuss steps that must be taken so that Lava Jato’s failures and successes Perhaps the most important lesson from alike ultimately can continue to assist Brazil this entire episode is that judicial action in its long struggle against corruption and its against corruption only will be effective corrosive effects. with the support of democracy. It is she who defines the limitations and the possibilities See “Anti-Corruption Is Front and Center for of judicial action. As long as [judicial action] Recently Elected Presidents in Latin America” counts with the support of popular opinion, (Nov. -
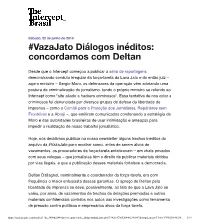
Vazajato Diálogos Inéditos: Concordamos Com Deltan
22/06/2019 E-mail de - #VazaJato Diálogos inéditos: concordamos com Deltan Amanda Carvalho <[email protected]> #VazaJato Diálogos inéditos: concordamos com Deltan 3 mensagens The Intercept Brasil <[email protected]> 22 de junho de 2019 15:10 Responder a: us117ffbfdc654[email protected] Para: [email protected] Sábado, 22 de junho de 2019 #VazaJato Diálogos inéditos: concordamos com Deltan Desde que o Intercept começou a publicar a série de reportagens demonstrando conduta irregular da força-tarefa da Lava Jato e do então juiz – agora ministro – Sergio Moro, os defensores da operação vêm adotando uma postura de criminalização do jornalismo, tendo o próprio ministro se referido ao Intercept como "site aliado a hackers criminosos". Essa tentativa de nos colar a criminosos foi denunciada por diversos grupos de defesa da liberdade de imprensa – como o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, Repórteres sem Fronteiras e a Abraji –, que emitiram comunicados condenando a estratégia de Moro e das autoridades brasileiras de usar intimidação e ameaças para impedir a realização de nosso trabalho jornalístico. Hoje, nós decidimos publicar na nossa newsletter alguns trechos inéditos do arquivo da #VazaJato para mostrar como, antes de serem alvos de vazamentos, os procuradores da força-tarefa enfatizavam – em chats privados com seus colegas – que jornalistas têm o direito de publicar materiais obtidos por vias ilegais, e que a publicação desses materiais fortalece a democracia. Deltan Dallagnol, nominalmente o coordenador da força-tarefa, era com frequência o maior entusiasta dessas garantias. O apreço de Deltan pela liberdade de imprensa se deve, possivelmente, ao fato de que a Lava Jato se valeu, por anos, de vazamentos de trechos de delações premiadas e outros materiais confidenciais contidos nos autos das investigações como ferramenta de pressão contra políticos e empresários alvos da força-tarefa. -

Brazilian Blogosfera Progressista: Digital Vanguards in Dark Times
tripleC 18(1): 219-235, 2020 http://www.triple-c.at Brazilian Blogosfera Progressista: Digital Vanguards in Dark Times Eleonora de Magalhães Carvalho*, Afonso de Albuquerque** and Marcelo Alves dos Santos Jr*** *Pinheiro Guimarães College, Rio de Janeiro, Brazil, [email protected] , https://eleonoramagalhaes.wixsite.com/website **Fluminense Federal University, Rio de Janeiro, Brazil, [email protected] ***Fluminense Federal University, Brazil, [email protected], www.marceloalves.org Abstract: This article explores the Brazilian Blogosfera Progressista (Progressive Blog- osphere, hereafter BP), a leftist political communication initiative aiming to conciliate an insti- tutionalized model of organization with a networked model of action. Despite the disparity of resources existing between them, BP proved able to counter effectively the mainstream me- dia’s political framings, thanks to wise networking strategies, which explored the communica- tive opportunities offered by social media. The Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé – Barão de Itararé Alternative Media Studies Center – is an essential piece in this schema, as it works as a coordinating agency for BP members and trains new participants. Our article intends to discuss this and other characteristics of BP as a group, and the chal- lenges it faces at the present, after the rise of Jair Bolsonaro to Brazil’s presidency. Keywords: Blogosfera Progressista, counter-hegemonic media, activism, Brazil, Vanguard, networked organization 1. Introduction In June 2013, massive demonstrations – known as the Jornadas de Junho (June Journeys) – took place in several cities in Brazil. The immediate factor triggering pro- tests in the city of São Paulo was the rise of the bus fares, from 3,00 to 3,20 reais. -

Transferir Download
Afonso de Albuquerque1 Universidade Federal Fluminense [email protected] https://orcid.org/0000-0002-2608-7605 Populismo, elitismo e democracia: Reflexões a partir da Operação Lava Jato Populism, elitism and democracy: https://doi.org/10.14195/2183-6019_12_1 Reflections from Operação Lava Jato Resumo: Abstract: Recentemente, tornou-se comum a sugestão Recently, it has become commonplace de que o “populismo” – associado a líderes to suggest that “populism” associated to políticos fortes, que apelariam para uma strong political leaders who call for a direct conexão direta com o povo como forma de connection with the people as a way of cir- contornar a autoridade das demais institui- cumventing the authority of other political ções políticas – é uma ameaça de primeira institutions is a major threat to democracy. ordem à democracia. Assim, a melhor forma Thus, the best way to contain this threat de conter essa ameaça seria fortalecer o would be to strengthen the role of control papel das instituições de controle (tais institutions (such as the judiciary system and como o Judiciário e a imprensa) na política. the press) in politics. As seductive as this Tão sedutor quanto esse argumento possa argument may seem, it presents a simplistic parecer, ele apresenta uma perspectiva view of the problem. To illustrate this, we simplista sobre o problema. Para ilustrá-lo, have discussed the decline of the Brazilian discutimos o declínio que a democracia democracy in recent years, culminating in brasileira experimentou nos últimos anos, the rise of Jair Bolsonaro to the Presidency. culminando na ascensão de Jair Bolsonaro We argue that, far from being a barrier to à Presidência. -

Tales from Brazil: the Use of Digital Media to Mobilize People Against Corruption and Pressure Politicians to Pass Bills Against Themselves1
WORKING PAPER Tales from Brazil: the use of digital media to mobilize people against corruption and pressure politicians to pass bills against themselves1 Fernanda Odilla (Università di Bologna) Alice Mattoni (Università di Bologna) ABSTRACT: The paper investigates how activists’ use of digital media entangle with two recent anti- corruption initiatives in Brazil that became bills through popular petition: the Ficha Limpa (or Clean State Law) and the Ten Measures Against Corruption campaigns. While the former was rapidly approved with few changes in 2010, the latter has been under discussion since 2016 and has faced backlashes and substantial changes from its original proposal. The paper seeks to understand the two opposite outcomes through a comparative case study research design inspired by the analytic narrative approach, using-depth interviews with key activists involved in the two campaigns and also secondary sources, including the analysis of the campaigns’ digital media and official congressional records. The paper argues that collectively constructed bills, along with leaders with both prestige and expertise to negotiate with congressional members, are as important as the rise of corruption perception and the rise of calls for urgent progress on anti-corruption mechanisms obtained through activists' engagement with digital media. However, online mobilization strategies without a clear advocacy approach to negotiate with (and pressure) MPs do not seem to be enough to promote legislative reforms. KEYWORDS: Anti-Corruption; Activism, Digital Media; Political Engagement, Social Movement Outcomes. Introduction In the past few years, civil society has been able to push for a seat at the table in the fight against corruption. Smulovitz and Peruzzotti (2000) reminded us that citizen action aimed at overseeing political authorities is not limited to elections and is becoming a fact of life. -

Dinâmicas Comunicativas E Transformações Sociais. Atas Das VII Jornadas Doutorais Em Comunicação & Estudos Culturais
A presente publicação encontra-se disponível gratuitamente em: www.cecs.uminho.pt Dinâmicas comunicativas e transformações sociais. Atas das Título VII Jornadas Doutorais em Comunicação & Estudos Culturais Editoras Zara Pinto-Coelho, Teresa Ruão & Sandra Marinho ISBN 978-989-8600-92-9 Foto: Rubén Bagüés (Unsplash) Capa Composição: Pedro Portela & Marisa Mourão Formato eBook, 359 páginas Data de publicação 2020, dezembro CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade Editora Universidade do Minho Braga . Portugal Diretor Moisés de Lemos Martins Vice-diretora Madalena Oliveira Formatação gráfica Marisa Mourão e edição digital Apoio editorial Edson Capoano Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, © CECS 2020 visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Esta publicação é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Financiamento Plurianual do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 2020-2023 (que integra a parcela de financiamento base com a referência UIDB/00736/2020). SUMÁRIO Dinâmicas comunicativas e transformações sociais: introdução 5 Zara Pinto-Coelho; Teresa Ruão & Sandra Marinho O debate da identidade nacional desde a Revolução de Abril até ao presente, através do cinema português 13 Tiago Vieira da Silva; Moisés de Lemos Martins & Nelson Araújo Uma reflexão fotoetnográfica sobre as identidades culturais da caatinga brasileira 31 Marcos Cajaíba Mendonça & Moisés de Lemos -

O Mecanismo E a Midiatização Ficcional Da Operação Lava-Jato1
O Mecanismo e a midiatização ficcional da Operação Lava-Jato1 The Mechanism and the fictional mediatization of Operation Car Wash Resumo Afonso de Albuquerque Este artigo explora o papel que a série de televisão O Mecanismo (Netflix, 2018-Pre- [email protected] sente) desempenhou como agente da midiatização da recente crise política brasileira Professor titular da Universidade Federal Flu- e, em especial, a Operação Lava-Jato. Partimos do ponto de vista de que a linha que minense (UFF). Doutor em Comunicação pela separa a facticidade jornalística da ficção é mais permeável do que costuma supor Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coorde- a literatura acadêmica. Por meio do panorama da midiatização, discutiremos como nador geral do MidiÁsia (UFF), Série Clube (UFF) a ficção seriada televisiva pode ser considerada mediadora da experiência que os e do Lamide (UFF). sujeitos têm do seu mundo. Ao analisar O Mecanismo, discutiremos como diversos setores da mídia brasileira se esforçaram para remover o PT do poder, principalmente, Melina Meimaridis ao endossar a judicialização da política. [email protected] Palavras-chave: midiatização, instituições ficcionais, O Mecanismo, Operação Doutoranda e mestre em Comunicação no Lava-Jato. Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense e graduada em Estudos de Mídia pela mesma Universidade. Pesquisadora associada ao TeleVisões (UFF) e ao projeto Série Abstract Clube (UFF). This article explores the role that the television series The Mechanism (Netflix, 2018-Present) played as a mediatizing agent in the recent Brazilian political crisis Rodrigo Quinan and, in particular, the Operation Car Wash. We start from the point of view that the [email protected] line separating journalistic facticity from fiction is more permeable than academic literature usually supposes. -

Conselho Nacional De Justiça - CNJ Na Mídia Índice Knewin Monitoring
Conselho Nacional de Justiça - CNJ Na Mídia Índice Knewin Monitoring Agência Brasil | Nacional CNJ - Conselho Nacional de Justiça / No Dia da Mulher, Rio assina acordo para combate à violência de gênero 9 Noticias - 08/03/2021 CNJ - Conselho Nacional de Justiça / Governo e CNJ lançam campanha de combate à violência contra a mulher 10 Noticias - 08/03/2021 CNJ - Conselho Nacional de Justiça, CNJ - Presidente do CNJ / CNJ e governo fluminense se aliam no combate à violência de gênero 11 Noticias - 08/03/2021 Época online | Nacional CNJ - Conselho Nacional de Justiça, Judiciário - Presos, Judiciário - Sistema Prisional / CNJ analisará recomendação para liberar presos na pandemia 13 Noticias - 08/03/2021 G1.Globo | Nacional CNJ - Conselho Nacional de Justiça / Processos são digitalizados e cerca de 30 mil kg de papéis do Fórum de Cuiabá enviados para a reciclagem 14 Mato Grosso - 08/03/2021 Isto é Dinheiro Online | Nacional CNJ - Conselho Nacional de Justiça, CNJ - Presidente do CNJ / CNJ e governo fluminense se aliam no combate à violência de gênero 15 Giro - 08/03/2021 O Estado de S. Paulo - Blogs | Nacional CNJ - Conselho Nacional de Justiça / 8 de Março contestador tem ampliado poder das mulheres no Brasil 17 Noticias - 08/03/2021 UOL | Nacional CNJ - Conselho Nacional de Justiça, CNJ - Presidente do CNJ / CNJ e governo fluminense se aliam no combate à violência de gênero 19 Notícias - 08/03/2021 O Estado de S. Paulo | Nacional Judiciário - STF, CNJ - Luiz Fux / Fachin anula ações na Lava Jato e torna Lula elegível 21 Política - 09/03/2021