Comunidade De Pequenos Mamíferos No Parque Estadual Do Ibitipoca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Neotropical Region Sensu the Areas of Endemism of Terrestrial Mammals
Australian Systematic Botany, 2017, 30, 470–484 ©CSIRO 2017 doi:10.1071/SB16053_AC Supplementary material The Neotropical region sensu the areas of endemism of terrestrial mammals Elkin Alexi Noguera-UrbanoA,B,C,D and Tania EscalanteB APosgrado en Ciencias Biológicas, Unidad de Posgrado, Edificio A primer piso, Circuito de Posgrados, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 04510 Mexico City, Mexico. BGrupo de Investigación en Biogeografía de la Conservación, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 04510 Mexico City, Mexico. CGrupo de Investigación de Ecología Evolutiva, Departamento de Biología, Universidad de Nariño, Ciudadela Universitaria Torobajo, 1175-1176 Nariño, Colombia. DCorresponding author. Email: [email protected] Page 1 of 18 Australian Systematic Botany, 2017, 30, 470–484 ©CSIRO 2017 doi:10.1071/SB16053_AC Table S1. List of taxa processed Number Taxon Number Taxon 1 Abrawayaomys ruschii 55 Akodon montensis 2 Abrocoma 56 Akodon mystax 3 Abrocoma bennettii 57 Akodon neocenus 4 Abrocoma boliviensis 58 Akodon oenos 5 Abrocoma budini 59 Akodon orophilus 6 Abrocoma cinerea 60 Akodon paranaensis 7 Abrocoma famatina 61 Akodon pervalens 8 Abrocoma shistacea 62 Akodon philipmyersi 9 Abrocoma uspallata 63 Akodon reigi 10 Abrocoma vaccarum 64 Akodon sanctipaulensis 11 Abrocomidae 65 Akodon serrensis 12 Abrothrix 66 Akodon siberiae 13 Abrothrix andinus 67 Akodon simulator 14 Abrothrix hershkovitzi 68 Akodon spegazzinii 15 Abrothrix illuteus -

Check List 4(2): 174–177, 2008
Check List 4(2): 174–177, 2008. ISSN: 1809-127X LISTS OF SPECIES Rodents (Rodentia) and marsupials (Didelphimorphia) in the municipalities of Ilhéus and Pau Brasil, state of Bahia, Brazil. Lena Geise 1 Luciana Guedes Pereira 2 1 Laboratório de Mastozoologia, Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rua São Francisco Xavier 524, CEP 220559-900, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. E-mail: [email protected] 2 Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios, Departamento de Medicina Tropical, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. CEP 21045-900, Avenida Brasil 4365, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. Abstract: The present study provides a list of small mammals from the coastal south part of the state of Bahia. Live- traps were settled in Atlantic Forest fragments where cacao (Theobroma cacao) plantations are widespread. During a short-term inventory performed in February 2003, 13 specimens from eight species of small mammals were collected. Introduction In all habitats from the Atlantic Forest, marsupials Fragments with cacao are still common along the and rodents comprise the most diverse group of coastal area of Bahia, in which important mammal mammals. Knowledge about distribution patterns diversity can be observed. There we can find of those mammals is increasing with long-term some endemic species, as Leontopithecus inventories and some sporadic studies with limited chrysomelas, Bradypus torquatus, Trinomys trapping effort. Another tool that increases the mirapitanga, Phyllomys unicolor, Callistomys knowledge about small mammals, particularly in pictus, and Cebus xanthosternos. Emamdie and the case of sigmodontine rodents, is the correct Warren (1993) noted that arboreal rodents, as the species identification using genetic techniques, Neotropical red-squirrel (Sciurus granatensis), are especially karyotypes (Geise et al. -

Description of a New Species Physaloptera Goytaca N. Sp
Parasitology Research https://doi.org/10.1007/s00436-018-5964-x ORIGINAL PAPER Description of a new species Physaloptera goytaca n. sp. (Nematoda, Physalopteridae) from Cerradomys goytaca Tavares, Pessôa & Gonçalves, 2011 (Rodentia, Cricetidae) from Brazil Nicole Brand Ederli1 & Samira Salim Mello Gallo2 & Luana Castro Oliveira2 & Francisco Carlos Rodrigues de Oliveira2 Received: 7 May 2018 /Accepted: 7 June 2018 # Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018 Abstract Nematodes of the genus Physaloptera are common in rodents, including in species of the Family Cricetidae. There is no report of nematodes parasitizing Cerradomys goytaca, so this is the first one. For this study, 16 rodents were captured in the city of Quissamã, in the northern of Rio de Janeiro State. The rodents were necropsied, and the digestive tracts were analyzed under a stereomicroscope for the presence of parasites. The nematodes were fixed in hot AFA, clarified in Amann’s lactophenol, mounted on slides with coverslip, and observed under an optical microscope. Part of the nematodes was fixed in Karnovisk solution for scanning electron microscopy. Nematodes presented evident sexual dimorphism. Oral openings had two semicircular pseudolabia, with an external lateral tooth and an internal lateral tripartite tooth on each pseudolabium. Males had a ventral spiral curved posterior ends with the presence of a caudal alae with 21 papillae with four pairs of pedunculated papillae arranged laterally, three pre-cloacal sessile papillae arranged rectilinearly and five pairs of post-cloacal sessile papillae. There was also a pair of phasmids located between the fourth and fifth pairs of post-cloacal papillae as well as two spicules that were sub-equal in size but of distinct shapes. -
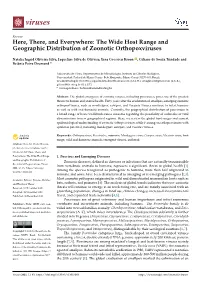
Here, There, and Everywhere: the Wide Host Range and Geographic Distribution of Zoonotic Orthopoxviruses
viruses Review Here, There, and Everywhere: The Wide Host Range and Geographic Distribution of Zoonotic Orthopoxviruses Natalia Ingrid Oliveira Silva, Jaqueline Silva de Oliveira, Erna Geessien Kroon , Giliane de Souza Trindade and Betânia Paiva Drumond * Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais: Belo Horizonte, Minas Gerais 31270-901, Brazil; [email protected] (N.I.O.S.); [email protected] (J.S.d.O.); [email protected] (E.G.K.); [email protected] (G.d.S.T.) * Correspondence: [email protected] Abstract: The global emergence of zoonotic viruses, including poxviruses, poses one of the greatest threats to human and animal health. Forty years after the eradication of smallpox, emerging zoonotic orthopoxviruses, such as monkeypox, cowpox, and vaccinia viruses continue to infect humans as well as wild and domestic animals. Currently, the geographical distribution of poxviruses in a broad range of hosts worldwide raises concerns regarding the possibility of outbreaks or viral dissemination to new geographical regions. Here, we review the global host ranges and current epidemiological understanding of zoonotic orthopoxviruses while focusing on orthopoxviruses with epidemic potential, including monkeypox, cowpox, and vaccinia viruses. Keywords: Orthopoxvirus; Poxviridae; zoonosis; Monkeypox virus; Cowpox virus; Vaccinia virus; host range; wild and domestic animals; emergent viruses; outbreak Citation: Silva, N.I.O.; de Oliveira, J.S.; Kroon, E.G.; Trindade, G.d.S.; Drumond, B.P. Here, There, and Everywhere: The Wide Host Range 1. Poxvirus and Emerging Diseases and Geographic Distribution of Zoonotic diseases, defined as diseases or infections that are naturally transmissible Zoonotic Orthopoxviruses. Viruses from vertebrate animals to humans, represent a significant threat to global health [1]. -

Trypanosoma Cruzi Transmission in the Wild and Its Most Important
Jansen et al. Parasites & Vectors (2018) 11:502 https://doi.org/10.1186/s13071-018-3067-2 REVIEW Open Access Trypanosoma cruzi transmission in the wild and its most important reservoir hosts in Brazil Ana Maria Jansen*, Samanta Cristina das Chagas Xavier and André Luiz Rodrigues Roque Abstract Trypanosoma cruzi (Kinetoplastea: Trypanosomatidae) infects all tissues of its hosts, which along with humans, include hundreds of mammalian species in the Americas. The epidemiology of T. cruzi has been changing in that currently the majority of the cases and/or outbreaks of Chagas disease occur by the ingestion of comestibles contaminated by T. cruzi metacyclic forms. These cases/outbreaks occur in distinct regional scenarios, mainly in the Amazon biome and are related to the local interaction mode of humans with their surroundings, as well as with the overall local ecological peculiarities. As trypanosomiasis caused by T. cruzi is primarily a zoonosis, understanding the variables that influences its transmission in the wild as well as the role played by the extant fauna in the maintenance of the parasite, is critical in establishing control measures. Here, we present the results of our studies of T. cruzi infection of free ranging wild mammalian fauna in the five biomes of Brazil, a country of continental dimensions. From 1992 up to 2017, we examined a total of 6587 free-ranging non-volant wild mammal specimens. Our studies found that 17% of mammals were seropositive and 8% of all animals displayed positive hemocultures indicative of high parasitemia and, consequently, of infectivity potential. We observed that opossums, mainly Philander spp. -

Acesse a Versão Em
Guia dos roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos C. R. Bonvicino1,2, J. A. de Oliveira 3 e P. S. D’Andrea 2 1. Programa de Genética, Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro. 2. Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios, IOC-Fiocruz, Rio de Janeiro. 3. Setor de Mamíferos, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional, Rio de Janeiro. O conteúdo desta guia não exprime necessariamente a opinião da Organização Pan-Americana da Saúde. Ficha Catalográfica Bonvicino, C. R. Guia dos Roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos / C. R. Bonvicino, J. A. Oliveira, P. S. D’Andrea. - Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 2008. 120 p.: il. (Série de Manuais Técnicos, 11) Bibliografia ISSN 0101-6970 1. Roedores. 2. Brasil. I. Oliveira, J. A. II. D’Andrea, P. S. III. Título. IV. Série. SUMÁRIO Prólogo ......................................................................................................07 Apresentação ........................................................................................... 09 Introdução ................................................................................................ 11 Chaves para as subordens e famílias de roedores brasileiros ............ 12 Chave para os gêneros de Sciuridae com a ocorrência no Brasil ...... 13 Gênero Sciurillus .......................................................................................................14 Gênero Guerlinguetus ...............................................................................................15 -

Cricetidae: Sigmodontinae) with an Updated Summary of Valid Tribes and Their Generic Contents
Occasional Papers Museum of Texas Tech University Number 338 15 July 2016 DESCRIPTION OF A NEW TRIBE OF SIGMODONTINE RODENTS (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) WITH AN UPDATED SUMMARY OF VALID TRIBES AND THEIR GENERIC CONTENTS JORGE SALAZAR-BRAVO, ULYSES F. J. PARDIÑAS, HORACIO ZEBALLOS, AND PABLO TETA ABSTRACT We provide a formal recognition to a tribal level clade composed of Andinomys and Puno- mys, two extant sigmodontine genera consistently and repeatedly recovered in the phylogenetic analyses of molecular and morphological data. As currently recognized, this tribe is distributed in middle to high elevations in the Andes of Bolivia, Peru, northern Chile, and northwestern Argentina in habitats that range from high elevation grasslands and ecotonal areas to dry Puna. Within this new clade, Punomys appears as the more specialized member as it is fully restricted to rocky outcrops and their immediate surrounding areas at elevations above 4400 m on both sides of the Altiplano. In contrast, Andinomys occupies a broad elevational range (500–4000 m) and multiple habitats, from subtropical mountain forests and semiarid Puna and Prepuna to high altitudinal grasslands. Both taxa share a number of possible synapomorphies (e.g., presence of caudal enlargement of the post-zygapophysis in the second and eighth thoracic vertebrates, unilocular-hemiglandular stomachs with a large corpus and deep incisura angularis, and very similar chromosomal complements) and other diagnostic morphological features. The supratribal phylogenetic relationships of the taxon here named are not resolved even with the moderate amount of molecular data now available. In addition, we present a revised classification for the Sigmodontinae and comment on the content and context of this unique radiation of the Cricetidae. -

Supplementary Materials
Supplementary Materials: Land-use change in PLUC projections Projected changes in land use were taken from previous studies [6,54] investigating the potential land-use changes following scenarios of demand for ethanol in Brazil. This study compares land use in 2012 to land use in 2030 for a reference and an ethanol scenario. Land use in 2012 and 2030 (for both scenarios) is provided in Figure S1, as well as the changes between 2012 and 2030 (for both scenarios) and the difference between the two scenarios in 2030. Tables S1 and S2 show the area of sugarcane expansion and other land-use changes between 2012 and 2030 in the reference scenario and in the ethanol scenario respectively. The area of sugarcane expansion between 2012 and 2030 is larger than the difference in demand for sugarcane cultivation area because in the and-use projections, some of the original sugarcane area in 2012 is lost and established elsewhere. Figure S1. Area (km2) of projected land use and land-use changes in PLUC projections. (A) land use in 2012 and 2030 for the reference scenario (ref) and 2030 for the ethanol scenario (eth); (B) land-use change between 2012 and 2030 for the reference scenario (ref) and the ethanol scenario (eth); (C) difference in land use in 2030 between the ethanol scenario (eth) and the reference (ref). Table S1. Sugarcane expansion and other land-use transitions between 2012 and 2030 in the reference scenario. Other land-use Sugarcane Sugarcane expansion (% of Ecoregion change (km2) expansion (km2) total land-use change) Amazon 97,200 75 0.08 Caatinga 55,225 0 0 Cerrado 197,175 12,225 5.84 Atlantic 64,750 7,225 10.04 Forest Pantanal 57,950 0 0 Pampas 14,125 0 0 Total 487,950 19,525 3.86 Table S2: Sugarcane expansion and other land-use transitions between 2012 and 2030 in the ethanol scenario. -

Extensive Genomic Reshuffling Involved in the Karyotype Evolution of Genus Cerradomys (Rodentia: Sigmodontinae: Oryzomyini)
Genetics and Molecular Biology 43, 4, e20200149 (2020) Copyright © 2020, Sociedade Brasileira de Genética. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2020-0149 Research Article Animal Genetics Extensive genomic reshuffling involved in the karyotype evolution of genus Cerradomys (Rodentia: Sigmodontinae: Oryzomyini) Camilla Bruno Di-Nizo1 , Malcolm Andrew Ferguson-Smith2, Maria José de J. Silva1 1Instituto Butantan, Laboratório de Ecologia e Evolução, São Paulo, SP, Brazil. 2Cambridge Resource Centre for Comparative Genomics, Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom. Rodents of the genus Cerradomys belong to the tribe Oryzomyini and present high chromosome variability with diploid numbers ranging from 2n=46 to 60. Classical cytogenetics and fluorescence in situ hybridization (FISH) with telomeric and whole chromosome-specific probes of another Oryzomyini, Oligoryzomys moojeni (OMO), were used to assess the karyotype evolution of the genus. Results were integrated into a molecular phylogeny to infer the hypothetical direc- tion of chromosome changes. The telomeric FISH showed signals in telomeres in species that diverged early in the phy- logeny, plus interstitial telomeric signals (ITS) in some species from the most derived clades (C. langguthi, C. vivoi, C. goytaca, and C. subflavus). Chromosome painting revealed homology from 23 segments of C. maracajuensis and C. marinhus to 32 of C. vivoi. Extensive chromosome reorganization was responsible for karyotypic differences in closely related species. Major drivers for genomic reshuffling were in tandem and centric fusion, fission, paracentric and pericentric inversions or centromere repositioning. Chromosome evolution was associated with an increase and de- crease in diploid number in different lineages and ITS indicate remnants of ancient telomeres. -

Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) from Brazil Gustavo B
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS ESPÉCIES DE ROEDORES SUL- AMERICANOS DA TRIBO ORYZOMYINI ANALISADAS PELOS GENES CITOCROMO b E IRBP GUSTAVO BORBA DE MIRANDA Tese submetida ao Programa de Pós- Graduação em Genética e Biologia Molecular da UFRGS como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Ciências Orientadora: Drª Margarete Suñé Mattevi Porto Alegre Junho/2007 Este trabalho foi desenvolvido no Deptº de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e financiado pelos seguintes órgãos: CNPq, G7/FINEP, FAPERGS e OEA. i AGRADECIMENTOS À Professora Drª Margarete Suñé Mattevi pela orientação, dedicação, confiança e, acima de tudo, amizade. Aos Drs. Luiz Flamarion B. de Oliveira, Alfredo Langguth, Andréa Nunes e José L. P. Cordeiro por parte da amostra utilizada neste trabalho. À Professora Drª Sidia M. Callegari-Jacques pelo auxílio nos artigos e, principalmente, nas questões estatísticas deste trabalho. À minha esposa Jaqueline, por sua paciência, companheirismo, amor e auxílio em todas as etapas deste trabalho. A todos os meus familiares, representados pelos meus pais Wilson e Salomé, por todo o apoio e carinho. Aos Drs. Marcelo Weksler e Valéria Muschner por importantes informações técnicas. Aos meus colegas da sala 107, do laboratório de Biodiversidade Animal e da Pós-Graduação: Aline Moraes, Ana Letícia, Ângela Mascali, Bianca Carvalho, Cristina Freygang, Francine Marques, Gustavo Borges, Gustavo Trainini, Hugo Bock, Martin Montes, Mônica Fontan, Rafael Dihl, Taiana Haag, Teresa Freire e Vanessa Mengue pela amizade e trocas de idéias. Ao Luciano Silva e Clênio Machado pelo companheirismo e discussões futebolísticas durante a “Hora do Café”. -
Taxonomy, Phylogeny and Diversity of the Extinct Lesser Antillean Rice Rats (Sigmodontinae: Oryzomyini), with Description of a New Genus and Species
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/220025547 Taxonomy, phylogeny and diversity of the extinct Lesser Antillean rice rats (Sigmodontinae: Oryzomyini), with description of a new genus and species Article in Zoological Journal of the Linnean Society · December 2010 DOI: 10.1111/j.1096-3642.2009.00628.x CITATIONS READS 19 154 4 authors, including: Samuel Turvey Marcelo Weksler Zoological Society of London Museu Nacional / UFRJ 83 PUBLICATIONS 1,612 CITATIONS 43 PUBLICATIONS 1,421 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE All in-text references underlined in blue are linked to publications on ResearchGate, Available from: Marcelo Weksler letting you access and read them immediately. Retrieved on: 29 August 2016 Zoological Journal of the Linnean Society, 2010, 160, 748–772. With 11 figures Taxonomy, phylogeny, and diversity of the extinct Lesser Antillean rice rats (Sigmodontinae: Oryzomyini), with description of a new genus and species SAMUEL T. TURVEY1*, MARCELO WEKSLER2, ELAINE L. MORRIS3 and MARK NOKKERT4 1Institute of Zoology, Zoological Society of London, Regent’s Park, London NW1 4RY, UK 2American Museum of Natural History (Division of Paleontology and Vertebrate Zoology), Central Park West at 79th Street, New York, NY 10024, USA 3Centre for Applied Archaeological Analyses, School of Humanities (Archaeology), University of Southampton, Avenue Campus, Southampton SO17 1BJ, UK 41, The Old Rectory, Fleggburgh Road, Rollesby, Norfolk NR29 5AJ, UK Received 15 May 2009; accepted for publication 1 September 2009 Rice rats (Sigmodontinae: Oryzomyini) are abundant in the Late Quaternary fossil record and in Holocene pre-Columbian archaeological middens across the Lesser Antilles. -
Redalyc.A NEW TRIBE of SIGMODONTINAE RODENTS
Mastozoología Neotropical ISSN: 0327-9383 [email protected] Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos Argentina Pardiñas, Ulyses F. J.; Teta, Pablo; Salazar-Bravo, Jorge A NEW TRIBE OF SIGMODONTINAE RODENTS (CRICETIDAE) Mastozoología Neotropical, vol. 22, núm. 1, 2015, pp. 171-186 Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos Tucumán, Argentina Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45739766018 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Mastozoología Neotropical, 22(1):171-186, Mendoza, 2015 Copyright ©SAREM, 2015 Versión impresa ISSN 0327-9383 http://www.sarem.org.ar Versión on-line ISSN 1666-0536 Nota A NEW TRIBE OF SIGMODONTINAE RODENTS (CRICETIDAE) Ulyses F. J. Pardiñas1, Pablo Teta1*, and Jorge Salazar-Bravo2 1 Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET), CC 128, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. [Correspondencia: Ulyses F. J. Pardiñas <[email protected]>] 2 Department of Biological Sciences, Texas Tech University, Lubbock, TX-79409, USA. * Present address: División de Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia,” Avenida Ángel Gallardo 470, C1405DJR Buenos Aires, Argentina. ABSTRACT. Phylogenetic hypotheses based on molecular markers indicate that the so-called Reithrodon group, including the extant genera Euneomys, Neotomys, and Reithrodon, formerly within the tribe Phyllotini, is not monophyletic. In turn, a new clade of tribal rank is recovered constituted by Euneomys, Irenomys, and Neotomys, comprising a small, mostly Andean sigmodontine radiation.