Archai 22.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UNIVERSITY of CALIFORNIA RIVERSIDE Weird Women, Strange
UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE Weird Women, Strange Times: The Representation of Power Through Female Gender Portrayals in 19th and 20th Century Iberian Literature A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Spanish by Rachel Anna Neff June 2013 Dissertation Committee: Dr. David K. Herzberger, Chairperson Dr. James A. Parr Dr. Raymond L. Williams Copyright by Rachel Anna Neff 2013 The Dissertation of Rachel Anna Neff is approved: Committee Chairperson University of California, Riverside Acknowledgements First and foremost, I wish to thank my kind and patient dissertation director, Dr. David K. Herzberger. I stopped counting the number of drafts he read and commented on, because I’m fairly certain the actual number would constitute cruel and unusual punishment. I am so grateful for the time and care he invested in my candidacy; I hope to one day be even half the mentor he has been to me. I would like to thank Dr. James A. Parr for serving on my committee, guiding me through several independent studies to improve my written Spanish, and for leading the amazing study abroad program in Spain where I worked at the Biblioteca Nacional. On a more personal note, I always appreciated how he shared his apple slices with me whenever I stopped by his office. I also wish to thank Dr. Raymond L. Williams for serving on my committee, advising me on independent study projects, and introducing me to Twitter. The topics in his courses were always fascinating, and the discussions inspiring. The end of the seminar dinners at his house are something I wish to do for my mentees in the future. -

In Search of the Promised Land: the Travels of Emilia Pardo Bazan
IN SEARCH OF THE PROMISED LAND: THE TRAVELS OF EMILIA PARDO BAZAN Maria Gloria MUNOZ-MARTIN, University College London, Ph.D. in Spanish and Latin-American Studies, 2000 ProQuest Number: U642760 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest U642760 Published by ProQuest LLC(2015). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT The object of this thesis is to explore Pardo Bazan's approach to travel as an aesthetically rewarding experience and also as a soul-searching exercise in which she voices her opinions and concerns with regard to the state of late nineteenth-century Spain and compares it to some other European countries. Indeed, in the Galician author's chronicles, which reveal her versatility and multifaceted interests as a travel writer, the journey itself takes second place to cultural, social, political, artistic, religious, and intellectual considerations. Another aspect of Pardo Bazan's travel works that this study will develop is her uneasy stance with regard to progress, technological advancement, and modern civilization, as illustrated, principally, in her foreign chronicles. For it is her apprehension and at times aversion to modern technology that place her in an anachronistic position in relation to some of the events and places covered in her travel accounts. -

Listado Obras Reparto Extraordinario SOGECABLE Emisión Analógica.Xlsx
Listado de obras audiovisuales Reparto Extraordinario SOGECABLE (Emisión Analógica) Canal Plus 1995 - 2005 Cuatro 2005 - 2009 Dossier informativo Departamento de Reparto Página 1 de 818 Tipo Código Titulo Tipo Año Protegida Obra Obra Obra Producción Producción Globalmente Actoral 20021 ¡DISPARA! Cine 1993 Actoral 17837 ¡QUE RUINA DE FUNCION! Cine 1992 Actoral 201670 ¡VAYA PARTIDO!- Cine 2001 Actoral 17770 ¡VIVEN!- Cine 1993 Actoral 136956 ¿DE QUE PLANETA VIENES?- Cine 2000 Actoral 74710 ¿EN VIVO O EN VITRO? Cine 1996 Actoral 53383 ¿QUE HAGO YO AQUI, SI MAÑANA ME CASO? Cine 1994 Actoral 175 ¿QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? Cine 1984 Actoral 20505 ¿QUIEN PUEDE MATAR A UN NIÑO? Cine 1976 Actoral 12776 ¿QUIEN TE QUIERE BABEL? Cine 1987 Actoral 102285 101 DALMATAS (MAS VIVOS QUE NUNCA)- Cine 1996 Actoral 134892 102 DALMATAS- Cine 2000 Actoral 99318 12:01 TESTIGO DEL TIEMPO- Cine 1994 Actoral 157523 13 CAMPANADAS Cine 2001 Actoral 135239 15 MINUTOS- Cine 2000 Actoral 256494 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO I- Cine 1996 Actoral 256495 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO II- Cine 1996 Actoral 102162 2013 RESCATE EN L.A.- Cine 1995 Actoral 210841 21 GRAMOS- Cine 2003 Actoral 105547 28 DIAS Cine 2000 Actoral 165951 28 DIAS DESPUES Cine 2002 Actoral 177692 3 NINJAS EN EL PARQUE DE ATRACCIONES- Cine 1998 Actoral 147123 40 DIAS Y 40 NOCHES- Cine 2002 Actoral 126095 60 SEGUNDOS- Cine 2000 Actoral 247446 69 SEGUNDOS (X) Cine 2004 Actoral 147857 8 MILLAS- Cine 2002 Actoral 157897 8 MUJERES Cine 2002 Actoral 100249 8 SEGUNDOS- Cine 1994 Página 2 de 818 -

Društvo Slovenskih Pisateljev Avtorji V Tej Knjigi So Predstavljeni Z Delom V Izvirnem Jeziku in Slovenskem Prevodu
Društvo slovenskih pisateljev Avtorji v tej knjigi so predstavljeni z delom v izvirnem jeziku in slovenskem prevodu. Elektronska oblika zbornika vsebuje še prevode v angleškem oziroma nemškem jeziku. The works of the authors presented in this book are printed in the original and in the Slovene translation. English or German versions are available in the electronic form of the anthology. Mednarodna pisateljska nagrada International Literary Prize 1 Vilenica 2004 Urednika / Editors Iztok Osojnik, Barbara Šubert Založilo Društvo slovenskih pisateljev / zanj Vlado Žabot Published by Slovenian Writers’ Association Grafièno oblikovanje Klemen Ulèakar Tehnièna ureditev in organizacija tiska Ulèakar&JK Ljubljana, avgust 2004 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 061.7(497.4 Vilenica)"2004" 821(4)-82 VILENICA 2004 [Elektronski vir] : mednarodna pisateljska nagrada = international literary price / [urednika Iztok Osojnik in Barbara Šubert]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovenian Writers’ Association, 2004 ISBN 961-91010-7-3 1. Osojnik, Iztok 214855680 2 KAZALO / CONTENT Nagrajenka Vilenice 2004 / Prize – winner Vilenica 2004 Brigitte Kronauer 6 Literarna branja Vilenica 2004 / Literary readings Vilenica 2004 Jan Balabán 50 Muharem Bazdulj 56 Eric Brogniet 72 ªtefan Caraman 84 Daša Drndić 96 Martin Fahrner 116 Edward Foster 128 Georgi Gospodinov 138 Gintaras Grajauskas 154 Daniela Kapitáňová 168 Vojislav Karanović 180 Artjom Kavalevski 194 Juris Kronbergs 208 Alain Lance 228 Sydney Lea -

The Tales of the Grimm Brothers in Colombia: Introduction, Dissemination, and Reception
Wayne State University Wayne State University Dissertations 1-1-2012 The alest of the grimm brothers in colombia: introduction, dissemination, and reception Alexandra Michaelis-Vultorius Wayne State University, Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wayne.edu/oa_dissertations Part of the German Literature Commons, and the Modern Languages Commons Recommended Citation Michaelis-Vultorius, Alexandra, "The alet s of the grimm brothers in colombia: introduction, dissemination, and reception" (2012). Wayne State University Dissertations. Paper 386. This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by DigitalCommons@WayneState. It has been accepted for inclusion in Wayne State University Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@WayneState. THE TALES OF THE GRIMM BROTHERS IN COLOMBIA: INTRODUCTION, DISSEMINATION, AND RECEPTION by ALEXANDRA MICHAELIS-VULTORIUS DISSERTATION Submitted to the Graduate School of Wayne State University, Detroit, Michigan in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY 2011 MAJOR: MODERN LANGUAGES (German Studies) Approved by: __________________________________ Advisor Date __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ © COPYRIGHT BY ALEXANDRA MICHAELIS-VULTORIUS 2011 All Rights Reserved DEDICATION To my parents, Lucio and Clemencia, for your unconditional love and support, for instilling in me the joy of learning, and for believing in happy endings. ii ACKNOWLEDGEMENTS This journey with the Brothers Grimm was made possible through the valuable help, expertise, and kindness of a great number of people. First and foremost I want to thank my advisor and mentor, Professor Don Haase. You have been a wonderful teacher and a great inspiration for me over the past years. I am deeply grateful for your insight, guidance, dedication, and infinite patience throughout the writing of this dissertation. -

Four Star Films, Box Office Hits, Indies and Imports, Movies A
Four Star Films, Box Office Hits, Indies and Imports, Movies A - Z FOUR STAR FILMS Top rated movies and made-for-TV films airing the week of the week of June 27 - July 3, 2021 American Graffiti (1973) Cinemax Mon. 4:12 a.m. The Exorcist (1973) TMC Sun. 8 p.m. Father of the Bride (1950) TCM Sun. 3:15 p.m. Finding Nemo (2003) Freeform Sat. 3:10 p.m. Forrest Gump (1994) Paramount Mon. 7 p.m. Paramount Mon. 10 p.m. VH1 Wed. 4 p.m. VH1 Wed. 7:30 p.m. Giant (1956) TCM Mon. 3 a.m. Glory (1989) Encore Sun. 11:32 a.m. Encore Sun. 9 p.m. The Good, the Bad and the Ugly (1967) Sundance Sun. 3:30 p.m. L.A. Confidential (1997) Encore Sun. 7:39 a.m. Encore Sun. 11:06 p.m. The Lady Vanishes (1938) TCM Sun. 3:30 a.m. The Man Who Knew Too Much (1956) TCM Sun. 10:45 a.m. The Man Who Knew Too Much (1934) TCM Sun. 11:15 p.m. Monsieur Hulot's Holiday (1953) TCM Mon. 8:30 p.m. North by Northwest (1959) TCM Sat. 12:15 p.m. Once (2006) Cinemax Mon. 2:44 a.m. Ordinary People (1980) EPIX Tues. 3:45 p.m. Psycho (1960) TCM Sun. 5 p.m. Rear Window (1954) TCM Sat. 7:15 p.m. Saving Private Ryan (1998) BBC America Wed. 8 p.m. BBC America Thur. 4 p.m. Shadow of a Doubt (1943) TCM Sat. 9:15 p.m. -

Volume with All Papers
Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda, Cornel Sigmirean (Editors) MEDIATING GLOBALIZATION: Identities in Dialogue Arhipelag XXI Press, 2018 MEDIATING GLOBALIZATION: IDENTITIES IN DIALOGUE eISBN: 978-606-93692-8-9 Section: Language and Discourse All responsibility regarding the contents of the published works belongs to the respective authors Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies Moldovei Street, 8 540522, Tîrgu Mureș, România Tel./fax: +40-744-511546 Published by: ‖Arhipelag XXI‖ Press, Tîrgu Mureş, 2017 Tîrgu Mureş, România Email: [email protected] 2 Section: Language and Discourse Contents FREEDOM AND PARADOX IN LIVIU REBREANU’S WORK Doina Butiurca Assoc. Prof. Dr. Habil.Faculty of Technical and Human Sciences in Târgu-Mureş, Sapienţia University in Cluj-Napoca ........................................................................................................................................................... 8 LE CHAMP SÉMANTIQUE DU MOT ARGENT Adela-Marinela Stancu Assoc. Prof., PhD, University of Craiova ........................................................................................................................... 14 ON THE CONCEPT OF ‘GENRE’ IN DISCOURSE ANALYSIS: THE LEGAL DOMAIN Simina Badea Assoc. Prof., PhD, University of Craiova ........................................................................................................................... 19 LA TRADUCTION DU LANGAGE GASTRONOMIQUE : ENJEUX ET DEFIS Maria Elena Milcu Assoc. Prof., Hab. Dr., ”Lucian Blaga” University of Sibiu -
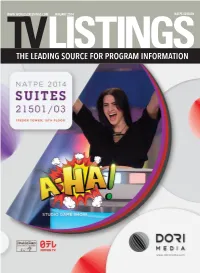
THE LEADING SOURCE for PROGRAM INFORMATION *LIST 0114 ALT LIS 1006 LISTINGS 1/16/14 12:50 PM Page 2
*LIST_0114_ALT_LIS_1006_LISTINGS 1/16/14 12:50 PM Page 1 WWW.WORLDSCREENINGS.COM JANUARY 2014 NATPE EDITION TVLISTINGS THE LEADING SOURCE FOR PROGRAM INFORMATION *LIST_0114_ALT_LIS_1006_LISTINGS 1/16/14 12:50 PM Page 2 MARKET FLOOR 10 Francs 425 Cineflix Rights 304 France Televisions Distribution 425 Motion Picture Corp. of America 132 SBS International 518 100% Distribution 425 CITVC 400 Fred Media 106 Multimedios Televisión 115 Scorpion TV 331 AB Media 415 CJ E&M 417 Fuji Television Network 113 Muse Distribution International 213 Shanghai TV Festival 608 AccuWeather 117 Construir TV 421 Gaumont Animation 425 Newen Distribution 120 Shoreline Entertainment 204 ADD Agency 130 CT Media 231 Global Agency 301 NHK Enterprises 521 Superights 425 AFP 505 David Harris Katz Entertainment 116 GMA Worldwide 104 Nippon Animation 531 Switch International 134 American Cinema International 508 DCD Rights 300 GoldBee 533 Nippon Television Network 228 Taipei Multimedia Production 515 Aniplex 311 DHX Media 316 GRB Entertainment 510 Nollywood Worldwide Entertainment 332 TF1 International 425 APA International Film Distributors 404 DIRECTV Latin America 628 Greenlight International 232 NuRay Pictures 124 Toei Animation 215 Argonon 31a DLT Entertainment 401 Hasbro Studios 102 Octapixx Worldwide 308 Triangle Entertainment 626 Arte France 425 DRG 201 Hoho Entertainment 331 Olympusat 624 TV Asahi 233 ATM Broadcast 325 Echo Bridge Entertainment 221 ITV-Inter Medya 421 Ooyala 604 TV France International 425 Audiovisual from Spain 225 Egeda US 616 Kanal D 410 Optomen Television 331 TV Latina 604k Begin 108 Electric Sky 331c KBS Media 419 Osiris Entertainment 212 TVS 218 Bender Media Services 411 Electus International 127 Keshet International 634 Pact/UK Indies 331 Twofour 331 Beverly Boy Productions 126 Elk Entertainment 138 KOCCA 415 Passion Distribution 331b Upside Distribution 425 Bonneville Distribution 501 Espresso TV 331 Lagardère Entertainment Rights 118 Peace Point Rights 312 VIPO Land 226 Boomerang TV 225 Epic Films 114 Latin Media Corp. -

Richard Epcar Voice Over Resume
RICHARD EPCAR VOICE OVER RESUME ADR DIRECTOR / ORIGINAL ANIMATION DIRECTOR / GAME DIRECTOR ADR WRITER / ENGLISH ADAPTER INTERNATIONAL DUBBING SUPERVISOR 818 426-3415 VOICE OVER REPRESENTATION: (323) 939-0251 VOICE ACTING RESUME GAME VOICE ACTING ARKHAM ORIGINS SEVERAL CHARACTERS WB INJUSTICE: GODS AMONG US THE JOKER WB INFINITE CRISIS THE JOKER WB MORTAL KOMBAT X RAIDEN WARNER BROS. FINAL FANTASY XIV 2.4-2.5 ILBERD ACE COMBAT ASSAULT HORIZON LEGACY STARGATE SG-1: UNLEASHED GEN. GEORGE HAMMOND MGM SAINTS ROW 4 LEAD VOICE (CYRUS TEMPLE) VOICEWORKS PRODS MARVEL HEROS SEVERAL VOICES MARVEL THE BUREAU: XCOM DECLASSIFIED LEAD VOICE TAKE 2 PRODS. BLADE STORM NIGHTMARE NARRATOR ULTIMATE NINJA STORM 3 LEAD VOICE NARUTO VG LEAD VOICE STUDIPOLIS CALL OF DUTY- BLACK OPS II SEVERAL VOICES EA RESIDENT EVIL 6 MO-CAPPED THE PRESIDENT ACTIVISION SKYRIM- THE ELDER SCROLLS V LEAD VOICES BETHESDA (BEST GAME OF THE YEAR 2011-Spike Video Awards) KINGDOM HEARTS: DREAM DROP DISTANCE LEAD VOICE SQUARE ENIX / DISNEY FINAL FANTASY XIV LEAD VOICE (GAIUS VAN BAELSAR) SQUARE ENIX MAD MAX SEVERAL VOICES DEAD OR ALIVE 5 LEAD VOICE VINDICTUS LEAD VOICE TIL MORNING’S LIGHT LEAD VOICE WAY FORWARD POWER RANGERS MEGAFORCE LEAD VOICES BANG ZOOM FINAL FANTASY XIII.3 LEAD VOICE GUILTY GEARS X-RD LEAD VOICE SQUARE ENIX YOGA Wii LEAD VOICE GORMITI LEAD VOICE EARTH DEFENSE FORCE LEAD VOICE 1 ATELIER AYESHA LEAD VOICE BANG ZOOM X-COM: ENEMY UNKNOWN LEAD VOICE TAKE 2 PRODS. OVERSTRIKE LEAD VOICE INSOMNIAC GAMES DEMON’S SCORE LEAD VOICES CALL OF DUTY BLACK OPS LEAD VOICES EA TRANSFORMERS -

Bates International Poetry Festival
Bates International Poetry Festival translations2010Edited by Claudia Aburto Guzmán Publishertranslations & Copyright In memory of Oleg Woolf Bates College Lewiston, ME 04240 1954–2011 Copyright © 2011 Bates College All Rights Reserved All poetry, translations, and essays used with permission of the authors. Editor: Claudia Aburto Guzmán Design and photography: William Ash, Bates Imaging and Computing Center ISBN : 978-0-9769921-0-3 translations | 2010 Table of Contents . i . Collaboration in an Academic Setting . ii By Jill N. Reich Introduction . iii By Claudia Aburto Guzmán Cristián Gómez Olivares | Chile . 1. Guangxin Zhao | China. 14. Emeric de Monteynard | France . .24 . Tabletranslations of Contents Susann Pelletier | Franco America . 50 Lothar Quinkenstein | Germany . .57 . Oleg Woolf | Moldova . 71. Irina Mashinski | Russia . 74 Omar Ahmed | Somalia . 87. Translations: Bates International Poetry Festival is the inspiration of Claudia Aburto Ana Merino | Spain . .94 . Guzmán, Associate Professor of Spanish at Bates. The project was designed to Resistance . 108. relocate poetry as a sensitive register for cultural transmission and translation as key By Robert Farnsworth to cultural interaction. This E-book documents the 2010 festival. The work of nine poets from around the world, the translations of the work by the poets, Bates faculty Drunk on Confusion . 109 and students, and a selection of articles and essays giving greater insight into the on Translation and Pure Language scope of the project can be found in this volume. By Laura Balladur Between Coincidence and Coexistence . 114. Translating the Context(s) of Intercultural Poetry By Raluca Cernahoschi Poetry Translation in the Classroom . .117 . By Francisca López Translators & Contributors . 121 Notes . .122 . -

Scheduling As a Tool of Management in RTÉ Television
Technological University Dublin ARROW@TU Dublin Doctoral Applied Arts 2011-7 Rationalising Public Service: Scheduling as a Tool of Management in RTÉ Television Ann-Marie Murray Technological University Dublin, [email protected] Follow this and additional works at: https://arrow.tudublin.ie/appadoc Part of the Arts Management Commons, Business and Corporate Communications Commons, and the Other Film and Media Studies Commons Recommended Citation Murray, A. (2011) Rationalising Public Service: Scheduling as a Tool of Management in RTÉ Television. Doctoral Thesis, Technological University Dublin. doi:10.21427/D70307 This Theses, Ph.D is brought to you for free and open access by the Applied Arts at ARROW@TU Dublin. It has been accepted for inclusion in Doctoral by an authorized administrator of ARROW@TU Dublin. For more information, please contact [email protected], [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License Rationalising Public Service: Scheduling as a Tool of Management in RTÉ Television Ann-Marie Murray This thesis is submitted to the Dublin Institute of Technology in Candidature for the Degree of Doctor of Philosophy July 2011 School of Media Faculty of Applied Arts Supervisor: Dr. Edward Brennan Abstract Developments in the media industry, notably the increasing commercialisation of broadcasting and deregulation, have combined to create a television system that is now driven primarily by ratings. Public broadcast organisations must adopt novel strategies to survive and compete in this new environment, where they need to combine public service with popularity. In this context, scheduling has emerged as the central management tool, organising production and controlling budgets, and is now the driving force in television. -

Against King?
▪ L 117r; THE TINTES WEDNESDAY SEPTEMBER 27 !989 TELEVISION & RADIO fir" A awn C BBC 1 C__ONDOiILDFT I ( BBC 2 11.05 The Flintstones In Onto Goo' Hooyrdce Irl 1.30 BBC Braselest News with • - Nicholas Witchell one Laurie Mayer, against Includes Ousinesv news between 6.30 and 7.001 news every 15 tie or. minutes. end regular sport, weather baser ans .nor regional . • King? news slaty 5.55 (40,00111■1 new s and weather 11.00 Kowa and weather followed by Four Square s) (IELEVIgION CHOICE) 1.26 SOP /11. David Oirribleby and 11.2511 Vivian Whoa mtrottuee lire coverage of the SDP conference In 10.001 Tiet4 Waymark Sceibomugh This morning's proceedings include the Speeds by Ine party Wader. Davin Owen, and 10.401 More than 21 years after it happened, • . debate on the future ol Ina attempts to reveal the true n rcumslances National rrealth Service Intludea about the murder of Marvin Luther King news and weatiwr at 10,00 !: at the ' ,act-thine Motel in Memphis 10.56 Chrldran's BBC presented by COnlinuo I in • fill I books and inspire &moil Parkin begins with Pleybue (r) 10.50 Barney with the voices of televnion documentaries. The official 1 im aokeiTayloi. Harry Enfield, version as that King was shot from 2.00 Jon Ravens and Eon Rettel (r) yards by a small. MC crook, James Earl 10.66 Rs* to Eleven. Gary Hope won aialidusg Kay. now &erring 94 years far the • and weedier lollowed by a murder Slays version is that he wet wily 11.00 News • SDP Further live coverage of the 12.10 19.