Memórias 2018 Volume Xlviii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ships!), Maps, Lighthouses
Price £2.00 (free to regular customers) 03.03.21 List up-dated Winter 2020 S H I P S V E S S E L S A N D M A R I N E A R C H I T E C T U R E 03.03.20 Update PHILATELIC SUPPLIES (M.B.O'Neill) 359 Norton Way South Letchworth Garden City HERTS ENGLAND SG6 1SZ (Telephone; 01462-684191 during my office hours 9.15-3.15pm Mon.-Fri.) Web-site: www.philatelicsupplies.co.uk email: [email protected] TERMS OF BUSINESS: & Notes on these lists: (Please read before ordering). 1). All stamps are unmounted mint unless specified otherwise. Prices in Sterling Pounds we aim to be HALF-CATALOGUE PRICE OR UNDER 2). Lists are updated about every 12-14 weeks to include most recent stock movements and New Issues; they are therefore reasonably accurate stockwise 100% pricewise. This reduces the need for "credit notes" and refunds. Alternatives may be listed in case some items are out of stock. However, these popular lists are still best used as soon as possible. Next listings will be printed in 4, 8 & 12 months time so please indicate when next we should send a list on your order form. 3). New Issues Services can be provided if you wish to keep your collection up to date on a Standing Order basis. Details & forms on request. Regret we do not run an on approval service. 4). All orders on our order forms are attended to by return of post. We will keep a photocopy it and return your annotated original. -

The Mammoth Cave ; How I
OUTHBERTSON WHO WAS WHO, 1897-1916 Mails. Publications : The Mammoth Cave ; D'ACHE, Caran (Emmanuel Poire), cari- How I found the Gainsborough Picture ; caturist b. in ; Russia ; grandfather French Conciliation in the North of Coal ; England ; grandmother Russian. Drew political Mine to Cabinet ; Interviews from Prince cartoons in the "Figaro; Caran D'Ache is to Peasant, etc. Recreations : cycling, Russian for lead pencil." Address : fchological studies. Address : 33 Walton Passy, Paris. [Died 27 Feb. 1909. 1 ell Oxford. Club : Koad, Oxford, Reform. Sir D'AGUILAR, Charles Lawrence, G.C.B ; [Died 2 Feb. 1903. cr. 1887 ; Gen. b. 14 (retired) ; May 1821 ; CUTHBERTSON, Sir John Neilson ; Kt. cr, s. of late Lt.-Gen. Sir George D'Aguilar, 1887 ; F.E.I.S., D.L. Chemical LL.D., J.P., ; K.C.B. d. and ; m. Emily, of late Vice-Admiral Produce Broker in Glasgow ; ex-chair- the Hon. J. b. of of School Percy, C.B., 5th Duke of man Board of Glasgow ; member of the Northumberland, 1852. Educ. : Woolwich, University Court, Glasgow ; governor Entered R. 1838 Mil. Sec. to the of the Glasgow and West of Scot. Technical Artillery, ; Commander of the Forces in China, 1843-48 ; Coll. ; b. 13 1829 m. Glasgow, Apr. ; Mary served Crimea and Indian Mutiny ; Gen. Alicia, A. of late W. B. Macdonald, of commanding Woolwich district, 1874-79 Rammerscales, 1865 (d. 1869). Educ. : ; Lieut.-Gen. 1877 ; Col. Commandant School and of R.H.A. High University Glasgow ; Address : 4 Clifton Folkestone. Coll. Royal of Versailles. Recreations: Crescent, Clubs : Travellers', United Service. having been all his life a hard worker, had 2 Nov. -

Freedom by Reaching the Wooden World: American Slaves and the British Navy During the War of 1812
Freedom by Reaching the Wooden World: American Slaves and the British Navy during the War of 1812. Thomas Malcomson Les noirs américains qui ont échappé à l'esclavage pendant la guerre de 1812 l'ont fait en fuyant vers les navires de la marine britannique. Les historiens ont débattu de l'origine causale au sein de cette histoire, en la plaçant soit entièrement dans les mains des esclaves fugitifs ou les Britanniques. L'historiographie a mis l'accent sur l'expérience des réfugiés dans leur lieu de réinstallation définitive. Cet article réexamine la question des causes et se concentre sur la période comprise entre le premier contact des noirs américains qui ont fuit l'esclavage et la marine britannique, et le départ définitif des ex-esclaves avec les Britanniques à la fin de la guerre. L'utilisation des anciens esclaves par les Britanniques contre les Américains en tant que guides, espions, troupes armées et marins est examinée. Les variations locales en l'interaction entre les esclaves fugitifs et les Britanniques à travers le théâtre de la guerre, de la Chesapeake à la Nouvelle-Orléans, sont mises en évidence. As HMS Victorious lay at anchor in Lynnhaven Bay, off Norfolk, in the early morning hours of 10 March 1813, a boat approached from the Chesapeake shore.1 Its occupants, nine American Black men drew the attention of the sailors in the guard boat circling the 74 gun ship. The men were runaway slaves. After a cautious inspection, the guard boat’s crew towed them to the Victorious where the nine Black men climbed up the ship’s side and entered freedom. -

Orme) Wilberforce (Albert) Raymond Blackburn (Alexander Bell
Copyrights sought (Albert) Basil (Orme) Wilberforce (Albert) Raymond Blackburn (Alexander Bell) Filson Young (Alexander) Forbes Hendry (Alexander) Frederick Whyte (Alfred Hubert) Roy Fedden (Alfred) Alistair Cooke (Alfred) Guy Garrod (Alfred) James Hawkey (Archibald) Berkeley Milne (Archibald) David Stirling (Archibald) Havergal Downes-Shaw (Arthur) Berriedale Keith (Arthur) Beverley Baxter (Arthur) Cecil Tyrrell Beck (Arthur) Clive Morrison-Bell (Arthur) Hugh (Elsdale) Molson (Arthur) Mervyn Stockwood (Arthur) Paul Boissier, Harrow Heraldry Committee & Harrow School (Arthur) Trevor Dawson (Arwyn) Lynn Ungoed-Thomas (Basil Arthur) John Peto (Basil) Kingsley Martin (Basil) Kingsley Martin (Basil) Kingsley Martin & New Statesman (Borlasse Elward) Wyndham Childs (Cecil Frederick) Nevil Macready (Cecil George) Graham Hayman (Charles Edward) Howard Vincent (Charles Henry) Collins Baker (Charles) Alexander Harris (Charles) Cyril Clarke (Charles) Edgar Wood (Charles) Edward Troup (Charles) Frederick (Howard) Gough (Charles) Michael Duff (Charles) Philip Fothergill (Charles) Philip Fothergill, Liberal National Organisation, N-E Warwickshire Liberal Association & Rt Hon Charles Albert McCurdy (Charles) Vernon (Oldfield) Bartlett (Charles) Vernon (Oldfield) Bartlett & World Review of Reviews (Claude) Nigel (Byam) Davies (Claude) Nigel (Byam) Davies (Colin) Mark Patrick (Crwfurd) Wilfrid Griffin Eady (Cyril) Berkeley Ormerod (Cyril) Desmond Keeling (Cyril) George Toogood (Cyril) Kenneth Bird (David) Euan Wallace (Davies) Evan Bedford (Denis Duncan) -
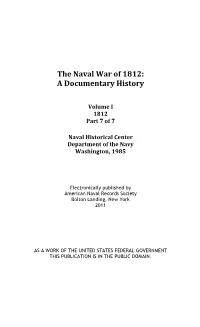
The Naval War of 1812, Volume 1, Index
The Naval War of 1812: A Documentary History Volume I 1812 Part 7 of 7 Naval Historical Center Department of the Navy Washington, 1985 Electronically published by American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011 AS A WORK OF THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT THIS PUBLICATION IS IN THE PUBLIC DOMAIN. NOTE ON THE INDEX Index Certain aspects of the treatment of persons and vessels in this index supple ment annotation in the volume. Abbott, - -(Capt.). 255, 256 (Rebecca) 649·51; mentioned, 24. 25, 214. 216n, 497 , PERSONS; The Tank of military personnel is the highest rank attained by the in A~rdour , James (Comdr., RN). 182 (Muros) 646,651. 5ee also Croker. John W. dividual between the declaration of war, 18 June 1812, and 31 December Acasta , HM frigate: capcuta: Curlew. 216. Admiralty Courts. British: Essu case, I, 16-2 1 1812. When all references to an individual lie outside that span, the rank is 225; at La Cuaira, 64; on Nonh Amuican High Court of Admiralty: ruling in Essu the highest applicable to the person at the times to which the text refers. Station. 495; of( Nantucket. 505: chases case, 16, 17.20·21: mentioned, 25. 66. 67 Civilian masters of vessels are identified simply as "Capt." Vessels that Essu, mentioned. 485, 487 , 497 (Alexander - Lorch Commissionen of Appeals. 20·21 R. Kerr) civilians and naval personnel commanded during the period 18 June to ~H Vice Admiralty Courts: at Nassau. 17 -20: Actiw. American privat~r .schooner, 225 December 1812 are noted in parentheses at the end of the man's entry. -

Guns Blazing! Newsletter of the Naval Wargames Society No
All Guns Blazing! Newsletter of the Naval Wargames Society No. 237 – JULY 2014 EDITORIAL Many thanks to Dave Manley and everyone else who contributed to the Naval Wargames weekend at Explosion Museum. Many different themes from ancient Rome, Battle of Trafalgar, through American Civil War, to a hypothetical Chile / Argentina clash in 1978 over The Beagle Channel. Fun was had by all but I feel numbers were down on last year. I know of two people who would have been there if their health had been a bit better. World Cup Football and the sunny weather may have had an effect on turnout? You Missed the Inshore Squadron and their impressive models – I stopped counting them when I reached 60. In addition to Rob Morgan’s Quiz – think about this one. What was HMS PALLAS doing, flying kites in 1806? I don’t know if anyone caught the TV programme, “Ross Kemp in Search of Pirates”? An interesting documentary – showing life on board HMS NORTHUMBERLAND off the coast of Somalia. Somewhere in the World, the Sun is over the Yardarm. Norman Bell VIEW FROM THE BRIDGE July 2014 Chairman: Stuart Barnes-Watson Stuart Barnes-Watson Chairman Simon Stokes Membership Secretary & Treasurer Norman Bell Editor ‘All Guns Blazing’ Dave Manley Editor ‘Battlefleet’ As promised, an update on all things naval, following my visit to NZ. Next up, Fiji. At first glance, not a likely country for naval related sites. However, Fiji was hugely important in the Allied build up in the Pacific, and as such defences were being built on the main island as early as 1940 with the purpose of protecting the main port and capital of Suva in the East, and Nadi its flying boat base and secondary port. -

How Slaves Used Northern Seaports' Maritime Industry to Escape And
Eastern Illinois University The Keep Faculty Research & Creative Activity History May 2008 Ports of Slavery, Ports of Freedom: How Slaves Used Northern Seaports’ Maritime Industry To Escape and Create Trans-Atlantic Identities, 1713-1783 Charles Foy Eastern Illinois University, [email protected] Follow this and additional works at: http://thekeep.eiu.edu/history_fac Part of the United States History Commons Recommended Citation Foy, Charles, "Ports of Slavery, Ports of Freedom: How Slaves Used Northern Seaports’ Maritime Industry To Escape and Create Trans-Atlantic Identities, 1713-1783" (2008). Faculty Research & Creative Activity. 7. http://thekeep.eiu.edu/history_fac/7 This Article is brought to you for free and open access by the History at The Keep. It has been accepted for inclusion in Faculty Research & Creative Activity by an authorized administrator of The Keep. For more information, please contact [email protected]. © Charles R. Foy 2008 All rights reserved PORTS OF SLAVERY, PORTS OF FREEDOM: HOW SLAVES USED NORTHERN SEAPORTS’ MARITIME INDUSTRY TO ESCAPE AND CREATE TRANS-ATLANTIC IDENTITIES, 1713-1783 By Charles R. Foy A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in History written under the direction of Dr. Jan Ellen Lewis and approved by ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ New Brunswick, New Jersey May, 2008 ABSTRACT OF THE DISSERTATION PORTS OF SLAVERY, PORTS OF FREEDOM: HOW SLAVES USED NORTHERN SEAPORTS’ MARITIME INDUSTRY TO ESCAPE AND CREATE TRANS-ATLANTIC IDENTIES, 1713-1783 By Charles R. Foy This dissertAtion exAmines and reconstructs the lives of fugitive slAves who used the mAritime industries in New York, PhilAdelphiA and Newport to achieve freedom. -

Bedhampton and Havant and the Royal Navy
Bedhampton, Havant and the Royal Navy (and the Lost Admirals of Leigh ) Vice-Admiral Sir Charles Bullen, Sir John Theophilus Lee, circa 1840. 1769-1853. English School. National Maritime Museum, London. Steve Jones 023 9247 3326 March 2017 £6 The Ça Ira being attacked by the Agamemnon and Inconstant, 13 March 1795. Havant History Booklet No. 54 View, comment, and order all booklets at: hhbkt.com Edited by Ralph Cousins 2 Bedhampton, Havant and the Royal Navy (and the Lost Admirals of Leigh Park) Steve Jones Havant, a small coastal town in its own right, has always had close connections with the navy, and its larger neighbour Portsmouth, the home of the Senior Service. From supplying Portsmouth and the navy with cider in the 17th and early 18th centuries through to being the home of several naval establishments during the Second World War, Havant has always played its part in supporting the navy. Even today Portsmouth dockyard, though not with the volume it once was, is a leading employer to the people of the Havant area. With local hi-tec firms such as Lockheed Martin Havant still plays its part in supporting the navy. Because of its close proximity to Portsmouth it is not surprising that many a naval officer chose Havant and its neighbourhood for their homes. Men of the calibre of Admiral Sir John Acworth Ommaney of Warblington House, Emsworth Road, Admiral Sir James Stirling of Belmont Park, Bedhampton, and Vice-Admiral Charles Norcock of Sherwood, East Street, have all at one time chosen to live in Havant. -

The Royal Navy and the Caribbean, 1756 – 1815
Circuits of Knowledge: The Royal Navy and the Caribbean, 1756 – 1815 Aims and objectives : This project explores the ways in which officers, seamen and others connected to the Royal Navy represented and sought to make sense of the societies and places that they encountered in the course of their duty. It focuses on one particular arena of naval involvement, the British Caribbean, examining the period between the outbreak of the Seven Years War in 1756 and the end of the Napoleonic Wars in 1815. This period was characterised by warfare and revolutionary upheaval in Europe, North America and the Caribbean. As Michael Duffy has demonstrated, during a prolonged and barely broken period of conflict between Britain and France, the Caribbean was a zone of vital strategic and economic importance for both sides, and many ships and thousands of personnel were deployed to the region as part of the struggle for global mastery (Duffy 1987). Previous studies of the Royal Navy in the Caribbean during this period have tended to focus on operational matters and naval engagements. By contrast, this project aims to shed light on the social and cultural aspects of the Royal Navy’s encounter with the Caribbean region. For a significant part of their time in the area, naval officers and seamen were observers and recorders of the societies in which they moved. Royal Navy personnel wrote about the Caribbean and they also mapped and drew it, resulting in a large number of letters, journals, books, charts, sketches, watercolours, caricatures and prints that survive from this period. In these different ways, the Royal Navy contributed significantly to an increasing body of European knowledge relating to the Caribbean, an area that was still relatively unknown to European readers at the beginning of the period of this study. -

The Feudal Land Divisions of East Stirlingshire
Calatria Spring 1994 No. 6 The Feudal Land Divisions of East Stirlingshire John Reid When David I returned from England to claim his crown he brought with him to Scotland a retinue of Anglo-Norman knights. He, like them, had been raised at the English court. Together, they were products of the new style of feudalism which emerged in the twelfth century. With them they brought the attitudes and expectations which were to encourage the adoption of that form of the feudal order to Scotland where, although it remained to some degree recognisably different from that in England, it evolved as essentially that which pertained throughout late mediaeval Europe. The Parishes of East Stirlingshire Falkirk Local History Society Page 1 Calatria Spring 1994 No. 6 It was a force which was to dominate Scottish society from that time until the eighteenth century when a series of revolutionary events; civil, agricultural and industrial, caused a diminuation of feudal power. It was the Jacobite risings which led to the forfeiture of many of the old families in whose hands these hereditary powers had rested, while the later upheavals of that century saw a massive movement of the people from the land with, consequently, a reduction in the authority of the land owners. Feudalism was a product of its time. It was born of the need for kings to retain their realms through military strength. They required the support of men trained in the most effective skills of warfare. These men, the king’s vassals, also required followers. It was, in effect, a power pyramid. -

At Water's Edge: Britain, Napoleon, and the World, 1793-1815
AT WATER’S EDGE: BRITAIN, NAPOLEON, AND THE WORLD, 1793-1815 ______________________________________________________________________________ A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board ______________________________________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY ______________________________________________________________________________ by Christopher T. Golding May 2017 Examining Committee Members: Dr. Gregory J. W. Urwin, Advisory Chair, Department of History Dr. Travis Glasson, Department of History Dr. Rita Krueger, Department of History Dr. Jeremy Black, External Member, University of Exeter (UK) © Copyright 2017 by Christopher T. Golding All Rights Reserved ii ABSTRACT This dissertation explores the influence of late eighteenth-century British imperial and global paradigms of thought on the formation of British policy and strategy during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. It argues that British imperial interests exerted a consistent influence on British strategic decision making through the personal advocacy of political leaders, institutional memory within the British government, and in the form of a traditional strain of a widely-embraced British imperial-maritime ideology that became more vehement as the conflict progressed. The work can be broken into two basic sections. The first section focuses on the formation of strategy within the British government of William Pitt the Younger during the French Revolutionary Wars from the declaration of war in February 1793 until early 1801. During this phase of the Anglo-French conflict, British ministers struggled to come to terms with the nature of the threat posed by revolutionary ideology in France, and lacked strategic consistency due to acute cabinet-level debates over continental versus imperial strategies. The latter half of the work assesses Britain’s response to the challenges presented by Napoleonic France. -

C O N T E N T S
C O N T E N T S Page Preface Chapter I Shipboard Terms 5 Chapter II Recruiting and Conditions of Service 9 Chapter III Uniforms 11 Chapter IV Ranks 16 Chapter V Salutes and Ceremonial 20 Chapter VI Laws of the Sea and Punishments 24 Chapter VII More Customs 31 Chapter VIII A Few Expressions 41 Chapter IX Wardroom Customs 46 Chapter X Odds and Ends 52 - - 2 C U S T O M S O F T H E N A V Y LIEUTENANT COMMANDER A.D. TAYLOR, CD, RCN 1956 Revised 1961 - - 3 PREFACE TO THE FIRST EDITION There is a wealth of fascinating lore behind many of the routine practices of our naval profession of which many serving officers and men are not aware, or at least do not appreciate. In this small volume are recorded some of the more interesting of the nautical customs and traditions - their origin, development and present form. It is hoped that this book will in some way help to check the present tendency noted in civilian circles and in the press to condemn our alleged unswerving allegiance to "the traditions of Nelson's day". A custom that has no apparent basis is quite meaningless and therefore must be reluctantly observed. If these pages should serve to enlighten, to make at least some of the naval customs and traditions meaningful, they will amply have served their purpose. In the Queen's Regulations and Admiralty Instructions is an order that "...every officer...shall... in all respects conform himself to the established customs and practices of Her Majesty's Service at Sea".